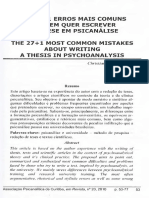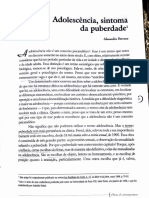Professional Documents
Culture Documents
Maria Rita Kehl - A Constituição Literária Do Sujeito Moderno
Uploaded by
marcelo-viana100%(5)100% found this document useful (5 votes)
3K views14 pagesOriginal Title
Maria Rita Kehl - A constituição literária do sujeito moderno
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
100%(5)100% found this document useful (5 votes)
3K views14 pagesMaria Rita Kehl - A Constituição Literária Do Sujeito Moderno
Uploaded by
marcelo-vianaCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 14
A constituição literária do sujeito moderno
Maria Rita Kehl
Introdução
Meu interesse por este tema foi despertado quando escrevia minha tese de doutoramento
- Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem para a modernidade
(1). Procurando responder à pergunta - "quem foi a mulher freudiana?", fiz um percurso
que começava com a história das mulheres, no Ocidente, a partir do final do século
XVIII, até chegar às histéricas que o Dr.Charcot "apresentou" ao jovem Freud no final
do XIX.
No decorrer da pesquisa, encontrei autores (2) que apontavam o importante papel
desempenhado pelas leituras de romances, recentemente popularizados na Europa
oitocentista, para a constituição de uma "subjetividade feminina" que eu diria moderna,
na qual que as limitações da condição doméstica da mãe de família burguesa aparecem
exatamente ao mesmo tempo em que (e em conflito com) os anseios de "mudar a vida",
"fazer o próprio destino", etc, igualmente próprios do modo de vida burguês, se
difundem - inclusive ou primordialmente através da literatura.
O paradigma da mulher gerada nesta relação entre o isolamento doméstico e os anseios
despertados pela experiência da leitura de obras de ficção foi - e ainda é - o romance de
Gustave Flaubert, Madame Bovary, publicado na Révue de Paris no ano do nascimento
de Freud. A análise de Madame Bovary como protótipo da mulher freudiana ocupou
todo o segundo capítulo da tese - que não pretendo resumir aqui - e me despertou,
posteriormente, para as questões que pretendo desenvolver nesta próxima pesquisa.
Abordarei a literatura moderna, que se caracteriza essencialmente por contar histórias de
homens e mulheres "comuns", em suas tentativas de construir um sentido para suas
vidas e um lugar numa sociedade extremamente móvel, como o espaço onde a voz do
semelhante, do "pequeno outro", circula e promove uma rede de interlocuções a partir
das dúvidas, das moções de desejo desviantes da norma, e do desajuste dos sujeitos em
relação à tradição, ao desejo do Pai, aos lugares que se espera que os
sujeitos/leitores/personagens, ocupem na trama simbólica. Esta rede de interlocuções
produz também, a meu ver – proposta a que tentarei dar consistência no decorrer desta
pesquisa – uma rede de identificações horizontais, que escapam e/ou superam as
identificações primordiais com as figuras parentais – estas últimas, identificações que se
dão no eixo vertical das relações de parentesco. O eixo horizontal é o eixo das relações
fraternas. A literatura moderna é um dos campos de circulação da "letra órfã", na
expressão de Jacques Rancière (3) - a palavra que não se produz a partir de um
enunciado paterno - que o autor associa, desde os gregos, à democracia: "Pois a
democracia não é um modo particular de governo.Ela é, bem mais radicalmente, a
forma da comunidade repousando sobre a circulação de algumas palavras sem corpo
nem pai..."
O romance moderno dá voz à diferença, à divergência e ao desamparo. A experiência da
leitura - sempre compartilhada, ainda que em ato seja solitária - autoriza o sujeito/leitor
a afirmar, ele também, sua diferença. Foi a experiência que possibilitou às filhas,
esposas e mães de família oitocentistas começarem a produzir falas a respeito de sua
insatisfação em relação ao projeto de vida que a cultura reservava para elas. Não por
acaso, o pleno estabelecimento desta rede das trocas literárias é concomitante ao
nascimento da psicanálise. Ambas, afinal, nascem como resposta à mesma necessidade
do sujeito fazer-se ouvir (ler...) a partir de uma diferença que precisa do outro para se
autorizar como singularidade.
Literatura e subjetividade moderna
É possível afirmar que a literatura moderna, mais especificamente o romance realista,
tal como o conhecemos há mais de duzentos anos, tenha uma função determinante na
constituição dos sujeitos - estes, também, modernos - que são os sujeitos da psicanálise?
Caso afirmativo - como opera esta função? Por que vias, entre o imaginário e o
simbólico, pode-se dizer que a experiência da leitura de romances e a experiência da
invenção de uma narrativa pessoal (que pretendo defender que sejam indissociáveis -
quem lê um romance concebe a si mesmo, simultâneamente, como personagem de uma
narrativa) constituem aspectos fundamentais da subjetividade?
E ainda: pode-se afirmar que os sujeitos modernos, tais como os concebe a psicanálise -
sujeitos do inconsciente - devem, historicamente, sua emergência no Ocidente - no
sentido que damos à emergência de modalidades de discurso - ao surgimento e à
democratização das formas modernas de narrativa ficcional?
Quando me refiro à expansão e à democratização da experiência literária, que teve seu
apogeu no século dezenove - literatura, aliás, é um termo que só adquiriu seu sentido
atual naquele século (4) - não estou me restringindo à experiência das pessoas que se
interessavam por ler livros, exclusivamente. A difusão de formas ficcionais de todos os
níveis, do grande romance realista ao folhetim, produz, como efeitos no campo (5), todo
um modo de se conceber a relação dos homens com o seu destino (uma relação
particularmente carregadade responsabilidade, na modernidade (6) e organiza, grosso
modo, a produção de sentidos para a vida, fundamentais em uma sociedade que
recentemente deixou de ser regida por crenças em uma ordem divina que
predeterminaria o destino e o sentido da vida.
A falência, ou no mínimo o esgarçamento do poder simbólico das religiões nas
sociedades modernas está diretamente relacionada, a meu ver, com a emergência da
literatura como resposta necessária para a constituição dos sujeitos. Uma das respostas
possíveis – certamente a mais poderosa - à nossa separação de um estado (ideal) de
natureza, sempre foi a produção, pela cultura, de modos de religação entre o homem e o
universo, entre os homens e o Pai perdido (Deus), e entre os homens e sua comunidade
terrena. As religiões e todas as outras formações simbólicas próprias das sociedades
tradicionais, cuja função sempre foi conferir aos sujeitos uma destinação e uma série de
práticas, rituais ou não, que lhes garantissem um lugar no desejo do Outro, são
atenuantes para o desamparo. Modos de pertinência, de produção de sentidos para a
vida, de filiação, de amparo simbólico, enfim.
A literatura a que me refiro é precisamente o romance realista, que surge na Europa no
final do século XVIII em resposta a uma certa crise nas relações dos indivíduos com a
tradição que, até então, amparava suas escolhas de vida e sua visão de mundo. Esta
quebra na unicidade do discurso do Outro trouxe a necessidade de uma certa auto-
fundação das escolhas subjetivas que produziu, consequentemente, o apelo a uma rede
de interlocuções horizontais, a que chamei fraternas, de onde se pudesse enunciar algum
tipo de verdade que desse conta deste desamparo dos sujeitos modernos, desde o final
da Renascença.
O romance realista surge na esteira destas transformações sociais e subjetivas, como
expressão, no campo da arte, das mesmas questões apontadas pelos filósofos empiristas
– Hume, Berkeley, Locke – segundo os quais os sujeitos só dispõem de seus sentidos e
de sua experiência/reflexão como meios de acesso à verdade. Se a relação solitária –
portanto, desamparada – do sujeito com a verdade vem sendo pensada desde Descartes,
que pretende respondê-la através da dúvida sistemática, os filósofos empiristas avançam
vários passos na direção da dessacralização desta verdade ao propor a prevalência do
particular sobre os universais e da experiência sobre a revelação. "Tudo o que existe é
particular", escreve Berkeley.
Segundo o crítico inglês Ian Watt (7), tanto o romance realista quanto a filosofia
empirista, apesar de suas diferenças, são fruto de um mesmo fenômeno: " a vasta
transformação da civilização ocidental, desde o Renascimento, que substituiu a visão
unificada do mundo medieval por outra, muito diferente, que nos apresenta
essencialmente um conjunto em evolução, mas sem planejamento, de indivíduos
particulares vivendo experiências particulares em épocas e lugares particulares"(p.30).
A falta de certezas universais e/ou transcedentais exige que se afirme o indivíduo como
centro de suas próprias referências. O que coloca a necessidade de uma melhor
definição do que seria uma personalidade individual. Isto pode nos parecer estranho
hoje, mas o indivíduo como unidade autônoma ainda era uma forma subjetiva
embrionária, há pouco mais de dois séculos. Os romancistas, impregnados das
revoluções filosóficas mas trabalhando a partir de um outro campo, "resolvem" o
problema de fixar as personalidades individuais de seus personagens pelo recurso ao
nome próprio (familiar aos psicanalistas, não?).
Como todas as formações culturais que se estabilizam e adquirem uma certa
naturalidade, a definição de um personagem literário através do recurso banal de um
nome próprio – Robinson Crusoe, Julien Sorel, Quincas Borba – pode nos parecer tão
óbvia quanto eterna e universal. Mas até que as bases do romance realista se
estabelecessem no Ocidente, os nomes dos personagens na tradição literária indicavam
tipos, figuras históricas, idéias alegóricas. Serviam, segundo Watt, para "situar os
personagens no conjunto de expectativas formadas a partir da literatura passada", e não
para indicar a existência de um cidadão qualquer, particular, sujeito de uma história
qualquer, digna de ser relatada apenas pelas reflexões e conclusões a que aquela
experiência poderia conduzir.
Se para Locke, nossa identidade só pode ser fixada pela continuidade da consciência ao
longo do período de uma vida (o que implica também a função da memória e da noção
de causa-efeito para explicar nossos atos), para o escritor (moderno) E.M. Foster, um
romance é o "relato de uma vida através do tempo". Estes relatos fictícios, herdeiros das
autobiografias, (fenômeno típico do século XVIII), tiveram certamente uma função
importante na organização/elaboração do campo das configurações sociais ainda mal
estabelecidas na emergência das sociedades capitalistas do século XIX. Como para nós,
psicanalistas, toda psicologia individual é tributária (quando não indissociável) de uma
psicologia social (8), não é difícil deduzir, da função organizadora do campo social
exercida pelo romance realista, sua função determinante na estruturação "individual"
dos sujeitos modernos. Voltarei a este ponto.
As obras que podemos considerar consitutivas do sujeito moderno são exatamente os
expoentes do romance realista, os mais conhecidos, incorporados ao acervo das
experiências coletivas da sociedade ocidental. Os grandes romances de autores como
Balzac, Zola, Defoe, Richardson, Stendhal, Flaubert, Emilly e Charlote Brönte, Eça de
Queiroz, Jane Austen, George Eliot, Dickens, Machado de Assis, Tolstoi, Dostoievski, e
tantos outros, que operaram durante quase dois séculos organizando a experiência
subjetiva, "explicando" o funcionamento da sociedade capitalista nascente, produzindo
sentidos e revelando a falta de sentido da vida, proporcionando às vezes consolo, às
vezes confirmação para o desamparo dos leitores seus contemporâneos. Mas
principalmente, pela possibilidade de colocar em ação mecanismos de identificação
entre leitores e personagens (o que certamente foi responsável pela mobilização de um
imenso público consumidor de literatura, facilitado pela democratização da escolaridade
das populações urbanas européias), a leitura dos romances realistas se coloca, a meu
ver, entre os principais mecanismos responsáveis pela formação dos padrões subjetivos
próprios ao individualismo moderno.
Um autor como Balzac por exemplo, cujos duzentos anos de nascimento se comemoram
agora, fez dos intensos processos de transformação pelos quais passou a França da
primeira metade do século XIX o objeto de seus romances. Mas o romancista não é um
cientista. Ainda que ele imagine que está descrevendo objetivamente o choque entre
velhas e novas configurações sociais – lembramo-nos de que Balzac pretendia trabalhar
como um cientista daquela sociedade emergente - ele está de fato contribuindo não só
para expressar as configurações ainda inominadas como também, ao nomeá-las, está
interferindo no campo da intersubjetividade. Theodor Adorno, em "Leitura de Balzac",
afirma que este autor escreve... "uma épica que não domina mais seu objeto, por isso
busca exagerar, fixar com uma precisão excessiva um mundo que está se tornando
ininteligível. A necessidade de estabelecer uma rápida compreensão da vida social, não
analítica mas analógica e intuitiva, característica da modernidade, fez de Honoré de
Balzac o precursor do romance do século XX. (9)
É esta interferência no campo da intersubjetividade que vem me interessando. É ela que
me autoriza a propor, não uma perspectivização da literatura pela psicanálise - coisa que
tem sido feita, aliás, desde Freud – mas ao contrário, uma determinação literária para o
sujeito moderno. Devo relativizar a importância da literatura, talvez, e escrever: uma
sobredeterminação literária. No que consiste esta determinação, como ela opera, que
efeitos produz – e até que ponto precisamos enxergá-la, para não corrermos o risco de
pensar o sujeito da psicanálise como uma categoria universal
abstrata ?
A estrutura dos romances realistas permite ao leitor duas modalidades de identificação.
Do ponto de vista do narrador, que em geral representa uma voz onisciente, capaz de
explicar as ações dos personagens e conferir sentido a elas, o romance permite ao leitor
manter a ilusão confortadora (na falta de uma ordem divina que faça esta função) de que
existe uma certa unidade, uma certa coerência ao longo da vida de cada um, e sobretudo
uma certa causalidade lógica para os atos e escolhas que se faz ao longo da existência.
Esta voz onisciente, que nos fala desde o lugar (já fragmentado) do Outro, não se
enfraquece nem no caso dos romances escritos em primeira pessoa, como Robinson
Crusoe de Daniel Defoe por ex., pois o narrador que escreve já é um desdobramento da
consciência de si mesmo, como personagem de seu próprio relato, e já "sabe" mais, ao
escrever de si, do que aquele que se põe em ação levando o fio da narrativa.
Penso no quanto estamos apoiados na ilusão produzida pelo narrador onisciente, capaz
de explicar os atos e as motivações de seus personagens. Penso no quanto a prática da
leitura de romances não interfere no modo como o neurótico tenta reorganizar
mentalmente sua própria vida, e apresentá-la, numa pretensão de coerência, ao analista.
Chamou-me a atenção uma frase de Lacan: "Todos acabam sempre se tornando um
personagem do romance que é a sua própria vida. Para isto não é necessário fazer uma
psicanálise. O que esta realiza é comparável à relação entre o conto e o romance. A
contração do tempo, que o conto possibilita, produz efeitos de estilo".. (10). Esta citação
abre um outro vasto caminho para se pensar as mudanças estéticas na literatura do
século XX, (o surrealismo por exemplo, ou os monólogos interiores como em James
Joyce) e as mudanças subjetivas operadas com o advento da psicanálise e a revelação de
nosso desamparo face ao inconsciente...mas este já seria um outro projeto, para uma
próxima vez.
Do ponto de vista dos personagens, cujo estatuto se modifica radicalmente no romance
realista – não são mais figuras destacadas da massa, reis, santos ou heróis, e sim pessoas
comuns, que só se destacam da massa pelo fato de possuírem uma história de vida digna
de ser relatada – a identificação do leitor funciona para simultaneamente, 1º. legitimar a
experiência e, 2º autorizar a diferença.
Legitimar a experiência: se o sentido da vida não nos é dado a priori por qualquer
discurso religioso ou moral; se o lugar do sujeito na desordem e/ou mobilidade das
sociedades capitalistas recém emergentes deve ser construído por cada um ao longo de
sua vida, a experiência adquire o valor daquilo que pode conferir saber e densidade
psicológica ao indivíduo (o que fica mais evidente nos Bildungsroman, "romances de
formação" como o Wilhelm Meister de Goethe por exemplo, ou Jean Cristophe, de
Romain Rolland).
Autorizar a diferença: o grande poder de produzir a adesão dos leitores está no fato dos
personagens do romance realista serem não apenas pessoas "comuns", mas pessoas que
por um motivo ou por outro não se ajustam perfeitamente, nem à velha ordem
aristocrática decadente nem à nova ordem burguesa. São perdedores, ou marginais, ou
idealistas incapazes de realizar seus ideais (Fréderic Moreau, da Educação Sentimental
de Flaubert, Julien Sorel de O Vermelho e o Negro de Stendhal) e, sobretudo, mulheres.
As mulheres são as grandes protagonistas desta "épica que não domina mais seu objeto"
que é o romance realista. As grandes figuras trágicas e também as grandes rebeldes,
mobilizando um público leitor predominantemente feminino, que além de consumir as
obras tentava interferir ativamente no destino das personagens, escrevendo aos autores
(sobretudo quando o romance saía na forma de Folhetim), sugerindo soluções e
desfechos, protestando contra o rumo tomado por esta ou aquela personagem, etc.
As mulheres representam, no romance, o "polo da verdade subjetiva", em contraposição
às conveniências e aparências que regem o jogo social. A correspondência de Balzac
com suas leitoras, através de cartas ou nas páginas de jornais, é quase tão volumosa
quanto sua Comédia Humana. "O sucesso rápido de Balzac nada deve à imprensa, mas
quase tudo às mulheres", escreveu Saint Beuve (11). "Introduziu-se na intimidade do
sexo frágil como confidente e consolador, como um confessor, um pouco como médico.
Atribuiu-se o direito de falar em meias palavras dos misteriosos detalhes secretos que
fascinam até as mais recatadas".
Como psicanalista, sabendo que os "misteriosos detalhes secretos" da vida psíquica só
adquirem existência quando encontram palavras com que se expressar, volto ao meu
argumento inicial, que deu origem a este ensaio e com o qual tento sustentar a idéia de
uma "determinação literária do sujeito moderno": ao escrever sobre os anseios, desejos
e sofrimentos secretos das mulheres oitocentistas, um escritor como Balzac por exemplo
estaria retratando a "verdade subjetiva" preexistente em suas leitoras, ou contribuindo
para produzir uma subjetividade feminina, esta com a qual Freud veio a se deparar meio
século mais tarde? Neste caso, seria função da psicanálise perspectivar a literatura ou,
ao contrário, devemos nós, psicanalistas, nos debruçar sobre a literatura para
compreender melhor nosso objeto, o sujeito moderno?
A face contemporânea do desamparo
Ao articular o advento do romance moderno com o esgarçamento do poder das
formações religiosas no Ocidente – particularmente o da Igreja Católica – estou
considerando esta literatura como elemento organizador de um campo de referências
que se dirige ao sujeito/leitor a partir de um outro lugar, diferente do lugar da referência
paterna - os discurso de autoridade filosóficos, morais, religiosos - mas que não escapa a
ela. Por enquanto, não encontro designação melhor para este lugar do que o lugar da
fratria, de onde as vozes dos semelhantes interpelam os sujeitos em suas diferenças em
relação ao desejo do Pai. A literatura cria um campo de experiência compartilhada -
entre vários leitores/ entre leitor e autor/ entre leitor e narrador/ entre leitor e
personagens - de forte penetração imaginária, ao mesmo tempo em que interpela
diretamente o indivíduo em seu isolamento, em sua privacidade, no momento de
máxima intimidade que é o da leitura silenciosa.
Uma vez que estou insistindo na idéia de ruptura, ou esgarçamento , em um campo que
algum dia foi estável e consistente, vale a pena tentar estabelecer alguma referência para
que se possa pensar em um antes e um depois, em um "outro tempo" que teria
engendrado o nosso - ainda que este tipo de construção se assemelhe bastante a uma
narrativa ficcional. Proponho retomar a imagem do sujeito "em seu momento de
máxima intimidade que é o da leitura"... para indagar se sempre teria sido assim.
Alberto Manguel, em sua História da Leitura (12), dedica um capítulo à reviravolta
subjetiva produzida pelo deslocamento das práticas de leitura em voz alta para a da
leitura silenciosa, individual. Esta reviravolta coincide, temporalmente, com o período
em que as "escritas de si" começam a se afirmar na Europa: a Renascença. Antes disto,
raros relatos são encontrados sobre a experiência da leitura íntima, em voz baixa.
Manguel lembra, em caráter de exceção, o depoimento de Santo Agostinho – relatado
nas Confissões...- que se espanta ao surpreender Santo Ambrósio lendo em sua cela
"sem pronunciar as palavras", e a impressão de santidade e sabedoria que aquela
"comunicação direta com a verdade divina" lhe causara.
A leitura em silêncio é uma prática muito mais livre do que a leitura em voz alta,
principalmente em se tratando de textos sagrados, cuja compreensão era tutelada por
uma autoridade da Igreja. "A leitura silenciosa permite a comunicação sem testemunhas
entre o livro e o leitor", escreve Manguel. Esta mesma "comunicação direta com a
verdade divina" foi evocada como condição da verdadeira fé, mais de dez séculos
depois (1517) por Martinho Lutero, dando origem à reforma luterana, com seu apelo
visto como herético pela Igreja Católica, de que cada homem seria capaz de ler a
palavra de Deus por si próprio, sem tutela alguma, e prestar contas de seus atos e de sua
fé diretamente junto a Ele . A Reforma Luterana parte da recusa da prática da venda de
indulgências e culmina com a afirmação da consciência individual contra a consciência
tutelada: cada cristão é responsável por sua própria interpretação dos textos sagrados. É
uma das principais manifestações da fragmentação da padrões morais e religiosos que
marca o mundo cristão desde a Renascença, ao mesmo tempo em que contribui para o
advento do o eu individual como única fortaleza confiável na qual o sujeito pode se
instalar.
O livro de Luís Cláudio Figueiredo, A invenção do psicológico (13) aborda os modos
como a cultura ocidental vem tentando, desde o século XVI - desde o final da
Renascença, desde que os cismas da Igreja abalaram o monopólio da ortodoxia católica
sobre o pensamento - dar conta da perda das certezas conferidas pela fé cristã. Luís
Cláudio abre o primeiro capítulo evocando a expressão de Georg Lukács, que descreve
o homem moderno como um ser "expulso do paraíso das civilizações fechadas". No
capítulo seguinte, o autor afirma que apesar do exagêro contido na idealização da
segurança e da estabilidade do(s) mundo(s) pré-moderno(s) – que expunham mais do
que hoje os sujeitos ao medo da morte e do desconhecido (...) - os sujeitos ali não se
viam às voltas com o "vazio, a ausência de sentido, a ameaça de aniquilamento e de
diluição das identidades. Este mundo não conhecia a angústia na amplitude em que tal
experiência acomete o mundo renascentista" (p.52)
Não pretendo estabelecer aqui uma oposição absoluta entre as formações simbólicas
características das sociedades fechadas e as das sociedades modernas. Os ensaios de
Claude Lévi Strauss - "O feiticeiro e sua magia"e "A eficácia simbólica" (14) - ao
descrever como o xamã opera algumas curas, manipulando símbolos e inventando
narrativas que forneçam ao doente ... "uma linguagem para exprimir estados
informuláveis" (p.228), propõem que existem mais semelhanças do que poderiamos
supor entre uma sociedade tribal e a nossa, no que concerne à necessidade constante de
reconstrução do real através de técnicas ficcionais. Partindo da constatação de que "o
informulável é a doença do pensamento", Strauss assim define a cura xamânica: "é
necessário que, por uma colaboração entre a tradição coletiva e a invenção individual
(grifo meu), se elabore continuamente uma estrutura, isto é, um sistema de oposições e
correlações que integre todos os elementos de uma situação em que feiticeiro, doente e
público, representações e processos, encontrem seu lugar" (p.210).
Estes textos fundamentais, a partir dos quais Lacan elaborou a idéia do inconsciente
com "estruturado como uma linguagem" (15) sugerem uma analogia entre o xamã e o
psicanalista (que não pretendo discutir aqui), mas abrem também para a possibilidade de
pensar o modo como opera a relação feiticeiro/doente/público como equivalente à que
venho propondo, entre autor/obra/leitor. A constatação de que também nas sociedades
ditas "fechadas" existe espaço - e demanda! - para o trabalho de criação significante,
entre "a tradição coletiva e a invenção individual", não nos autoriza, entretanto, a anular
as diferenças entre uma sociedade em que a estrutura simbólica é estável e fornece
lugares claros para os sujeitos e a sociedade moderna, onde o Outro está fragmentado
em uma infinidade de discursos possíveis, equivalentes e, portanto, relativamente
frágeis.
Um outro sujeito, mais solitário, mais responsabilizado por seu próprio destino e por
suas escolhas morais, e simultaneamente mais emancipado, relativamente mais livre
para agir e pensar, estava nascendo com o período das reformas, da revolução
Copernicana, dos descobrimentos que revelaram às civilizações cristãs a existência da
povos diferentes: cultuadores de outros deuses, outras verdades e outras leis morais. Um
sujeito exposto a uma experiência de desamparo desconhecida pelos habitantes das
"sociedades fechadas" a que se referia Lukács. Um "homem psicológico", segundo a
abordagem de Figueiredo, convocado a dar conta de sua própria experiência subjetiva,
produzida no encontro tenso entre "vivências de diversidade e de ruptura" e outras
tendências, reparadoras, de "ordenação e costura" do campo simbólico; "como se vê, o
indivíduo, ao contrário do que o termo sugere, nasce da dispersão e traz uma cisão
interior inscrita em sua natureza" (p.59). Figueiredo lembra que os teólogos protestantes
insistem na "liberdade como condição da experiência religiosa genuína" (p.57). Deus,
depois da reforma e da contra-reforma, ainda existe – mas já não é UM; já não opera
subjetivamente amparando os sujeitos, garantindo-lhes a proteção de uma verdade
abslouta, como antes (16). A fratura instala o espaço da dúvida, que por sua vez convoca
o sujeito a pensar "por si mesmo" – as aspas são necessárias para lembrar que ninguém
pensa sozinho: pensa-se sempre com e para o outro.
As reformas da Igreja, para o historiador Carlo Guinzburg (17), aliadas à invenção da
imprensa e consequentemente à democratização da palavra escrita, criaram um clima
propício para a "audácia do homem que comunica sua versão da verdade". Esta é a
versão de Guinzburg para explicar o fenômeno do moleiro italiano Menocchio, simples
camponês condenado à morte pela Inquisição porque, a partir das leituras de um
punhado de livros que lhe caíram ao acaso nas mãos, não conseguiu mais evitar de
formular suas próprias idéias a respeito de Deus, do Espírito Santo e da criação do
mundo, e de comunicá-las a seus conterrâneos. O importante na tragédia de Menocchio,
na versão de Carlo Guinzburg, é o deslocamento do eixo da verdade transcedental para
a "opinião" individual, que arrasta o sujeito do plano da certeza (submissão à
autoridade) ao da inquietação (necessidade de criar "idéias próprias" sobre o mundo).
Menocchio... "não se vangloriava de ‘revelações’, mas de seu pensamento"(p.89).
"Graças à reforma, M. pode pensar em tomar a palavra e expor suas opiniões. Graças à
imprensa, tivera palavras à sua disposição para exprimir a obscura, inarticulada visão
de mundo que fervilhava nele"(grifos meus).
Quando foi convocado a comparecer perante um tribunal da Inquisição, Menocchio teria
apreciado a oportunidade de expor "suas" idéias perante homens letrados, e assim
afirmar-se como pensador, um homem destacado da multidão. No pósfácio ao livro,
Renato Janine Ribeiro interpreta a paixão de Menocchio como "sede de conhecimento,
curiosidade - essa paixão que a Igreja e os Poderes reprimiam, e que os renascentistas
valorizavam" (p.218). "Tanto Montaigne quanto Menocchio", escreve Guinzburg, "cada
um a seu modo, haviam passado pela experiência perturbadora de relativização das
crenças e instituições"(p.201). Esta experiência de desamparo é a mesma que move o
sujeito a tentar costurar, "sozinho", seu caminho por entre as frágeis malhas da rede de
informações que lhe chegam através dos textos impressos. Ainda não estou me referindo
à experiência da literatura, tal como a vivemos hoje, mas a seus primórdios: a circulação
de idéias e o espaço para a diversidade que se abrem a partir da difusão da palavra
escrita e da individualização das práticas de leitura, no final da Renascença.
A literatura moderna e o espaço da fratria
Este sujeito que perdeu o amparo das certezas constituídas pelas formações simbólicas
das sociedades tradicionais, condenado a viver no isolamento de seu próprio eu, tem nos
seus semelhantes, se não um amparo, um espelho. Se não uma garantia de verdade, um
interlocutor para a incerteza. É desta rede de interlocuções que provêm as vozes da
literatura moderna: da relação com o semelhante, com o pequeno outro e sua condição
de desamparo e de dúvida, que escreve para interrogar a falência dos enunciados de
verdade. O escritor – seja o escritor dos diários e ensaios, da "escrita de si" que
proliferou a partir de Montaigne, seja o escritor de ficção caracteristico do séc.XIX, que
se projeta em personagens que são "homens como todo mundo" – é aquele que
compartilha com o leitor a descoberta de que a referência paterna é insuficiente para nos
constituir no contínuo vir-a-ser da modernidade.
Este escritor constitui um leitor que é, pela experiência da leitura, um escritor de si
mesmo. Neste sentido, leitor/autor são indissociáveis e absolutamente necessários um ao
outro. Ao enunciado de Lacan que citei acima -"escrever o romance de sua própria vida,
isto qualquer um é capaz de fazer", referindo-se ao sujeito neurótico, eu acrescentaria:
isto, qualquer um sente-se compelido a fazer no mundo contemporâneo - escrever-se,
dizer de si ao outro, construir uma narrativa na qual a dispersão e a fragmentação do eu
encontrem alguma unidade, e a vida, algum sentido. "A vida não deve ser um romance
que nos foi legado, mas sim um romance que fazemos" escreveu o filósofo/poeta
Novalis, no século XVIII (18), retomando, numa vertente romântica, a conclusão de
Montaigne sobre a função subjetiva dos Ensaios: "Não fiz o meu livro mais do que ele
me fez" (19). Antecipando a dúvida cartesiana, Montaigne poderia ter respondido à
questão do ser com a afirmação não do pensamento, mas do ato: escrevo, logo existo.
Este sujeito, que "faz a si mesmo" a partir da escrita e/ou da leitura, nem por isso está
fora da referência paterna. Digamos que a função do pai seja a de organizar o sujeito a
partir da Lei, situá-lo numa estrutura e marcá-lo a partir de um desejo que precedeu sua
existência. Esta função, necessária, não é suficiente para constituir um destino, nem para
ampliar o leque de escolhas de que dispomos para criar destinos para a pulsão. As
pequenas identificações que chamarei horizontais são essenciais para apoiar o eu nesta
tarefa. A literatura moderna faz parte da rede das identificações horizontais.
A condição para o estabelecimento desta rede de interlocuções horizontais entre
semelhantes, diferente da relação vertical entre os sujeitos comuns e os enunciados de
autoridade, é o que chamei de versão contemporânea do desamparo. A versão
tradicional da psicanálise para o desamparo humano funda-se na constatação da
prematuração do recém-nascido, condição de nosso desajuste primordial em relação à
natureza. Em consequência, nossa precária existência depende desde o início do desejo
do Outro, e nossa entrada no reino deste mundo é necessariamente mediada pela
linguagem. Já o desamparo contemporâneo, é consequência de uma crise na nossa
relação com a linguagem: já não acreditamos plenamente em nossos próprios
enunciados.
A leitura de um filósofo de nosso século, Wittgenstein, nos dá a medida do vazio no
campo do Outro e da impossibilidade de se estabelecer qualquer certeza sobre o sentido
da vida e do mundo, assim como - torcendo ainda mais uma volta neste parafuso - sobre
a linguagem com que nomeamos nosso precário saber. Nenhum outro pensador levou
tão longe quanto ele a noção, inaugurada com Kant, de que o que podemos saber sobre
as coisas é apenas aquilo que propomos a respeito delas, denunciando que o Outro é
obra nossa, incapaz de nos dar qualquer garantia sobre a verdade: "Dizemos que não há
nenhuma dúvida de que compreendemos esta palavra; mas por outro lado, sua
significação reside em seu emprego"- e mais adiante: "a significação de uma palavra é
seu uso na linguagem" (20) (p.28). O que legitima as práticas falantes é o fato de serem
compartilhadas.
Podemos articular o pensamento de Wittgenstein com a idéia das "práticas falantes" de
Ferdinand de Saussure, as quais vão efetuando modificações no uso da língua ao longo
do tempo. "É do passado que nos vem a língua e suas convenções", escreve Saussure –
"mas nenhum sujeito sozinho é capaz de alterá-la". Já as práticas falantes,
compartilhadas sincronicamente por um ou mais grupos sociais, são capazes de alterar
"não a estrutura da linguagem, mas a língua".
Esta distinção é importante para meu pensamento: se a estrutura da linguagem nos vem
de um lugar do passado, um lugar de fundação ao qual não temos acesso – o lugar de
um Pai simbólico, portanto, que marca nossa condição de dependência em relação à
cultura – as práticas falantes, que alteram não a linguagem mas a língua, só ganham
vida nas trocas contínuas que se efetuam entre os semelhantes/contemporâneos,
atendendo a suas necessidades criativas e expressivas. Este é o lugar de onde se origina
a literatura moderna. Evidentemente, todo enunciado se origina deste mesmo lugar; mas
os enunciados que se propõem a revelar alguma "verdade"- discursos científicos,
religiosos ou filosóficos – rapidamente deslizam para o eixo vertical, da voz do Pai ou
da autoridade. Do outro lado, a própria característica da literatura moderna – dar voz ao
sujeito comum em seu desamparo, em seu desajuste, em sua incompreensão – impede
que ela ocupe este lugar de autoridade, por mais canônico que um texto literário possa
se tornar com o passar dos anos.
Mencionei alguns parágrafos acima o século XVI como um momento de origem das
possibilidades de um sujeito se expressar em nome próprio, e de um lugar excêntrico
àqueles de onde falam as autoridades. O nome de Michel de Montaigne nos ocorre
imediatamente. Antes dele, gostaria de evocar seu grande amigo Étiènne de La Boètie,
cuja morte prematura foi o ponto de partida para a escrita dos Ensaios. No Discurso da
Servidão Voluntária, (21) La Boètie escreve sobre a função criativa das relações de
amizade, e sobre a importância dos laços de identificação horizontais (fraternos), como
capazes de arregimentar os sujeitos contra a submissão voluntária à tirania do UM. "Se
a natureza deu a todos o grande presente da voz e da fala para convivermos(...) e
fazermos, pela declaração mútua de nossos pensamentos, uma comunhão de nossas
vontades, devemos entender que somos livres porque somos todos companheiros".
Assim, La Boètie lembra os prazeres da troca e da experiência compartilhada com o
amigo, o semelhante, como muito superiores às vantagens que o sujeito poderia obter
fazendo-se amparar pelo tirano em troca da submissão/alienação aos seus desejos. A
fratria, neste texto clássico, não é apontada como capaz de obturar a falta, mas sim de
amparar os sujeitos – além de proporcionar-lhes uma infinidade de prazeres, os prazeres
da troca (que só pode se dar entre semelhantes).
O filósofo Claude Lefort, comentando o Discurso..., chama a atenção do leitor para o
estilo vivo da escrita de La Boétie, cuja força advém da intensa vontade do autor
persuadir o leitor, traze-lo para o seu lado: "ele se inventa e se reinventa ao mesmo
tempo em que o pensamento desfaz o nó do saber e da autoridade. E justamente o
movimento de invenção da língua e de liberação do pensamento (grifo meu) é tal que,
por mais carregada e cansada dos exercícios clássicos que esteja nossa memória,
atravessa-a sem perder a força e somos atirados ao presente da questão".
Ou seja: o texto de La Boétie, assim como – por razões diversas – o de Montaigne,
interpelam vivamente o leitor com a força de uma argumentação que procura convencer
sem ocupar um lugar de autoridade. Montaigne, como todos sabem, inicia a escrita de
seus Ensaios depois da morte do melhor amigo, numa intenção declarada de manter
viva sua memória ao estender indefinidamente um diálogo interior com ele. Através
desta interlocução fraterna o escritor, precursor da literatura moderna, tenta tornar
consistente a experiência de instabilidade e mutabilidade que caracterizam, a seu ver,
sua vida e seu próprio eu: "tarefa espinhosa, a de seguir um rastro tão vagabundo quanto
o de nosso espírito (...) e é também um divertimento extraordinário, que nos retira das
ocupações comuns do mundo." Se o texto de Michel de Montaigne antecipa a literatura
moderna, é porque ele próprio é precursor do sujeito moderno, ocupado em construir
um eu, em meio à instabilidade do mundo renascentista, que pudesse funcionar como
lugar de verdade do indivíduo.
"Descrevo uma vida baixa e sem brilho; tanto faz. É possível achar toda a filosofia
moral numa vida popular e privada, tanto quanto numa vida feita da matéria mais rica:
cada homem levaem si a forma inteira da condição humana". Este é o trecho, já muito
conhecido, que Eric Auerbach escolheu para apresentar aos leitores de seu Mimesis (22)
o capítulo sobre Montaigne. Aqui estão sintetizadas as duas premissas principais dos
Ensaios: a de que o autor acha bastante razoável escolher-se como próprio tema de suas
reflexões; e a de que sua vida "sem brilho", como a de qualquer outro, pode ser o lugar
de onde a "condição humana" se enuncia. Utilizei a expressão "se enuncia" em oposição
a uma outra, mais cara ao modelo cristão - "se revela". Não pretendo me deter sobre a
relação de Montaigne - que nunca desafiou a Igreja - com Deus; mas percebe-se, a partir
de sua insistência sobre a relatividade e a mutabilidade de todas as certezas, que o Deus
do Renascimento tardio já não cumpre mais sua função asseguradora.
Nada é revelado ao sujeito sobre o ser e o destino. "O sujeito que se toma por objeto (de
sua escrita) não é como um pescador que pega na ponta da linha significações
preestabelecidas", escreve Georges Gusdorf, a respeito de Montaigne(23). "Ao
contrário, intervém como um operador que faz o vivido informe tomar forma"(tradução
minha). Mais adiante (p.139): "A vida, tal como se oferece a nós, não tem sentido. Vai
para todos os lados, escorre ao acaso das circunstâncias contraditórias. É preciso lhe dar
um sentido, chamá-la à ordem, graças à magia da imaginação corretiva ou criativa, que
submete a ordem das coisas à lei do ser personalizado".
Duzentos anos mais tarde, o "ser personalizado" se afirma, em sua aventura solitária, em
sua sensibilidade exacerbada, como o centro do ideário romântico do séc.XVIII.. No
mesmo século em que Goethe afirma não existir prazer maior do que o cultivo da
própria personalidade, Jean-Jacques Rousseau (24) faz de suas Confissões a legitimação
deste eu que organiza o mundo a partir de sua imaginação, de sua sensibilidade e de seu
pathos singularizado. Mas se o eu se autoriza como sujeito do conhecimento, o estatuto
deste conhecimento já se modificou radicalmente desde que Montaigne escreveu seus
Ensaios.
(In)conclusões
Resta a questão, a partir deste ponto, sobre o modo como opera o que venho chamando
de "função fraterna". Para além da rivalidade apontada por Freud, o irmão - ou o
semelhante, de modo geral - pode funcionar para o sujeito de diversas maneiras:
precipitando a descoberta da diferença sexual e a entrada no Édipo, mobilizando o
desejo de saber e a produção das teorias sexuais infantis, servindo como suporte para
identificações secundárias e intrododuzindo o sujeito na problemática ligada à imagem
própria e ao narcisismo das pequenas diferenças. Além disso, o espaço fraterno é um
campo de produção de falas - a exemplo das gírias criadas pelas gangs urbanas - que
procuram se legitimar contra a palavra paterna. No entanto, deve-se tentar
conceitualizar a diferença entre a gangue que, em sua pretensão de passar ao largo da
função paterna, reproduz o arbítrio e a brutalidade do pai da horda, e a fratria, união
através da qual os "irmãos" buscam força e legitimação simbólica para coibir os abusos
paternos e/ou reformular os aspectos secundários da lei (mantendo entretanto o
essencial, i.é, o tabu do incesto) de modo a abrir espaço para novas formas de
sociabilidade e novas necessidades expressivas. Do lado da gang, temos a delinquência
e a pretensão a fundar uma excessão perversa. Do lado da fratria temos a
produção/circulação de novas práticas linguageiras, a abertura de diversos campos para
as identificações secundárias além de, evidentemente (o que não pretendo abordar aqui),
as várias formas de contestação política e moral.
Partindo da questão sobre as modificações nas práticas da língua, será necessário então
pensar mais específicamente, como opera a "função fraterna" a partir da experiência da
leitura de romances, onde o sujeito se depara com um outro estatuto de seu semelhante,
na forma do personagem literário. No entanto, sobretudo nos romances típicos do
realismo, é frequente que o leitor acompanhe as vidas dos personagens comuns, seus
acertos e desacertos, suas pequenas alegrias e grandes infelicidades, sob o ponto de vista
de um narrador onisciente, capaz de entender e fazer o leitor entender o que está se
passando a cada passo. Que efeitos pode ter a leitura frequente destes romances sobre o
modo como o sujeito passa a organizar a narrativa de sua própria vida? Que estatuto
podemos atribuir às identificações imaginárias com personagens literários, e qual a
consistência destas identificações? Devemos reportá-las sempre à existência de uma
estrutura histérica? São questões que pretendo deixar para discutir com os membros da
fratria psicanalítica.
NOTAS
1 Editora Imago, Rio de Janeiro, 1998.
2 Ver por ex. Peter Gay, A experiência burguesa da Rainha Vitória a Freud. Vol 3: O
cultivo do ódio São Paulo, Companhia das Letras, 1995 Cap. IV - "O poderoso sexo
frágil"
3 Jacques Rancière, Pol[iticas da escrita. Rio de Janeiro; editora 34, 1995.
4 Tzvetan Todorov, Os gêneros do discurso". São Paulo, Martins Fontes, 1980
5 No sentido empregado por Pierre Bourdieu. em As Regras da Arte. São Paulo,
Companhia das Letras, 1996.
6 Ver Hanna Arendt, "O que é liberdade?" em Entre o passado e o futuro. Rio de
Janeiro, Perspectiva, 1976.
7 Ian Watt – A Ascenção do Romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
8 Ver Freud, em "Psicologia das Massas e Análise do Eu" em: Obras Completas vol.III
pp.2563-2610.
Biblioteca Nueva, Madri, 1973.
9 T.Adorno, Notas sobre a literatura.
10 Éric Laurent: "Quatro observações sobre a preocupaçào científica de Lacan:, em
Lacan, você conhece? São Paulo: Cultura Editores Associados, 1998..
11 Saint Beuve, Portraits Contemporains (1834), apud Therezinha de Camargo Viana:
A Comédia Humana, cultura e feminilidade. Brasilia, Ed. da UNB, 1998.
12 Alberto Manguel., "Leituras Silenciosas" em: Uma história da leitura. São Paulo,
Companhia das Letras, 1998.
13 Luís Cláudio Figueireso, A invenção do Psicológico Editora Escuta, São Paulo,
1992.
14 Em Antropologia estrutural Rio de Janeiro, Tempo Universitário, 1975..
15 Jacques Lacan, em. "A subversão do sujeito e a dialética do desejo"em: Escritos, vol
II Buenos Aires, Siglo Veitiuno, 1992 . Ver, ainda em Lévi-Strauss: "O Icc deixa de ser
refúgio de particularidades individuais. Reduz-se a um termo da função simbólica, que
em todos os homens segue as mesmas leis".(p.233)
16 Lembrar Freud em "O futuro de uma ilusão".Obras Completas vol II, Madri,
Biblioteca Nueva, 1976.
17 Carlo Guinzburg, O queijo e os vermes. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
18 Cit. por Luís Costa Lima, Limites da Voz: Montaigne, Schlegel. Rio de Janeiro,
Rocco, 1993,p.186
19 Michel de Montaigne, Ensaios (Coleção Os Pensadores) São Paulo, Abril, 1980,
tradução de Sérgio . Milliet
20 Ludwig Wittgenstein : Investigações Filosóficas (Coleção Os Pensadores) São
Paulo, Abril,
21 Etienne de La Boétie, Discurso da Servidão Voluntária. São Paulo, Brasiliense,
1982.
22 Eric Auerbach, "L’Humaine Condition" em: Mimesis, São Paulo, Perspectiva, 1976.
23 Georges Gusdorf, "Moi, Michel de Montaigne" em: Les écritures du moi. Paris,
Odile Jacob, 1991.
24 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Paris; Pléiade, 1964.
Maria Rita Kehl
Rua Franco da Rocha, 498
05015-040 - São Paulo - SP
Fone: (11) 263-5725
E-mail: ritak@zip.net
Bibliografia
- ARENDT, Hanna - Entre o passado e o fuuro. Rio de Janeiro; Perspectiva, 1976.
- ASSOUN, Paul Laurent - Frères et soeurs vol I - Le lien inconscient vol II - Un lien et
son écriture. Paris; Anthropos, 1999.
- La BOÉTIE, Étienne - Discurso da Servidão Voluntária. São Paulo; Brasiliense, 1982.
Tradução Laymert Garcia dos Santos.
- BLOOM, H. - Ruins the sacred truths. Poetry and belief from the Bible to the present.
Cambridge, Harvard University Press, 1989.
- FIGUEIREDO, Luís Cláudio - A invenção do psicológico. São Paulo, Escuta, 1992.
- FREUD, S - Psicologia das massas e análise do eu; Estudo de fobia em um menino de
cinco anos - "O pequeno Hans" e O futuro de uma ilusão. em: Obras Completas.
Biblioteca Nueva, Madri, 1976.
- GIDDENS, Anthony - As consequências da modernidade. São Paulo, Unesp, 1990.
- LACAN, Jacques - Os complexos familiares . Rio de Janeiro, Zahar, 1990.
- "O mito individual do neurotico". In Intervencione y textos. Buenos Aires Manantial,
1988.
- "A agressividade em psicanálise" e "O estádio do espelho como constitutivo da função
do eu" em: Escritos. Buenos Aires; Siglo Veitiuno, 1984.
- LÉVI-STRAUSS, Claude - Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro; Tempo
Universitário, 1975.
- MEDEIROS da Costa, Ana Maria - A ficção do si mesmo. Rio de Janeiro; Companhia
de Freud, 1998.
- RANCIÈRE, Jacques - Políticas da escrita. Rio de Janeiro, 34, 1995.
- SAUSSURE, Ferdinand de - Curso de linguística geral. São Paulo; Cultrix, 1995.
- WITTGENSTEIN, Ludwig - Investigações Filosóficas . Coleção Os Pensadores. São
Paulo, Ed.Abril, 1979.
2. Sobre a função da literatura na modernidade
- AUERBACH, Eric - Mimesis. São Paulo; Perspectiva, 1975.
- BOURDIEU, Pierre - As regras da arte. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.
- CASCARDI, Anthony - Subjectivité et modernité. Paris; PUF, 1995.
- COSTA Lima, Luiz - Limites da voz; Montaigne, Schlegel. Rio de Janeiro; Rocco,
1993.
- ELIAS, Norbert - La société des individus. Paris; Arthème Fayard, 1991.
- GAY, Peter - A experiência Burguesa, da Rainha Vitória a Freud, Vol 3: O cultivo do
ódio. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.
- GUINZBURG, Carlo - O queijo e os vermes. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
- GUSDORF, Georges - Les écritures du moi. Paris, Odile-Jacob, 1991.
- MANGUEL, Alberto - Uma história da leitura. São Paulo, Companhia das Letras,
1998.
- MONTAIGNE, Michel - Ensaios. Coleção Os pensadores. São Paulo, Abril, 1980.
Tradução Sérgio Milliet
- NOVALIS, Friedrich von Hardenberg - Pólen; fragmentos, diálogos, monólogo. São
Paulo; Iluminuras, 1988. Tradução Rubens Rodrigues Torres Filho.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques - Les Confessions. Paris; Pléiade, 1964.
- SCHLEGEL, Friedrich - Conversa sobre a poesia e outros fragmentos. São Paulo;
Iluminuras, 1994.
- SISKIN. Clifford - The historicity of romantic discourse. New York; Harvard, 1988.
- TAYLOR, C. - Sources of the self. The making of the modern identity. Cambridge;
Harvard University Press, 1989.
- TODOROV, Tzvetan - Os gêneros do discurso. São Paulo, Martins Fontes, 1980
Téories du symbole. Paris, Seuil, 1977
- WATT, Ian - A ascenção do romance. São Paulo; Companhia das Letras, 1996.
You might also like
- Diálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraFrom EverandDiálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraNo ratings yet
- Maurice Blanchot - O Espaço Literário-Rocco (1987)Document271 pagesMaurice Blanchot - O Espaço Literário-Rocco (1987)Mateus DominguesNo ratings yet
- Palavra Pescando Não-PalavraDocument20 pagesPalavra Pescando Não-PalavraCarolina SenaNo ratings yet
- PONTALIS, J.-B. Perder de Vista - Da Fantasia de Recuperação Do Objeto Perdido v2Document232 pagesPONTALIS, J.-B. Perder de Vista - Da Fantasia de Recuperação Do Objeto Perdido v2Rodérigo Tonilaõs Adejaír100% (1)
- Dunker, - Os 27 + 1 Erros Mais Comuns de Quem Quer Escrever Uma Tese PDFDocument25 pagesDunker, - Os 27 + 1 Erros Mais Comuns de Quem Quer Escrever Uma Tese PDFRafael Caselli100% (1)
- Sapir, Edward - Língua e Ambiente (1969)Document12 pagesSapir, Edward - Língua e Ambiente (1969)Beatriz Ribeiro Faria RigueiraNo ratings yet
- A Questão Do Sentido - Luís Cláudio FigueiredoDocument4 pagesA Questão Do Sentido - Luís Cláudio FigueiredoRose CorsiNo ratings yet
- Franz Kafka - Um Relatório para Uma AcademiaDocument5 pagesFranz Kafka - Um Relatório para Uma AcademiaMarcelo Oriani0% (1)
- Drama lírico contemporâneoDocument13 pagesDrama lírico contemporâneoMarcos SavaeNo ratings yet
- Duas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultFrom EverandDuas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultNo ratings yet
- Estruturas clínicas na psicanáliseDocument56 pagesEstruturas clínicas na psicanáliseTatiane LindemannNo ratings yet
- Daseinsanálise e A Tonalidade Afetiva Do Tedio - FeijooDocument12 pagesDaseinsanálise e A Tonalidade Afetiva Do Tedio - FeijooAna CastroNo ratings yet
- PrecidadoPaul Beatriz. Manifesto Contrassexual PDFDocument114 pagesPrecidadoPaul Beatriz. Manifesto Contrassexual PDFVictor MarquesNo ratings yet
- Édipo e a liberdade: o salto para a cultura e a leiDocument3 pagesÉdipo e a liberdade: o salto para a cultura e a leiLuana CristinaNo ratings yet
- Clinica Do EsquecimentoDocument117 pagesClinica Do EsquecimentoPriscila CarlaNo ratings yet
- O novo conto brasileiro e suas características multifacetadasDocument14 pagesO novo conto brasileiro e suas características multifacetadasCaroline CrealeseNo ratings yet
- Mezan Kehl Cesarotto A Jovem Homossexual Ficcao PsicanaliticaDocument109 pagesMezan Kehl Cesarotto A Jovem Homossexual Ficcao PsicanaliticaDeivede Ferreira100% (1)
- A Metapsicologia Do Cuidado - Luís Cláudio FigueiredoDocument11 pagesA Metapsicologia Do Cuidado - Luís Cláudio FigueiredoRose CorsiNo ratings yet
- Aprendendo Com A Experiência (Salvo Automaticamente) 2Document94 pagesAprendendo Com A Experiência (Salvo Automaticamente) 2Cecília De Nichile100% (3)
- Estrutura e perversão: conceitos-chave da teoria psicanalíticaDocument15 pagesEstrutura e perversão: conceitos-chave da teoria psicanalíticaVinicius Sant'AnnaNo ratings yet
- Leitura psicanalítica do filme O Show de TrumanDocument3 pagesLeitura psicanalítica do filme O Show de TrumanMingus9No ratings yet
- Que Mundo É Este - Uma Fenomenologia Pandêmica - Judith ButlerDocument145 pagesQue Mundo É Este - Uma Fenomenologia Pandêmica - Judith ButlerJoão Pedro100% (1)
- Imre Kertész e o desterro humano: Psicanálise e LiteraturaFrom EverandImre Kertész e o desterro humano: Psicanálise e LiteraturaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Na Companhia Das Vozes - para Uma Análise Da Experiência de Ouvir VozesDocument202 pagesNa Companhia Das Vozes - para Uma Análise Da Experiência de Ouvir VozesHugo Bola100% (1)
- Aragão. Clínica Do SocialDocument63 pagesAragão. Clínica Do SocialWaldir Périco0% (1)
- Masud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFDocument24 pagesMasud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFJamespskNo ratings yet
- Lucia Castello Branco - Shoshana Felman e A Coisa Literária: Escrita, Loucura e PsicanáliseDocument366 pagesLucia Castello Branco - Shoshana Felman e A Coisa Literária: Escrita, Loucura e Psicanálisemaximus93No ratings yet
- Uma psicanálise da clínica contemporâneaDocument5 pagesUma psicanálise da clínica contemporâneaVera L. NascimentoNo ratings yet
- O sujeito na contemporaneidade: espaço, dor e sofrimentoDocument32 pagesO sujeito na contemporaneidade: espaço, dor e sofrimentoDayeli FerreiraNo ratings yet
- QUINET, Antonio. Os Outros em Lacan, 2012.Document5 pagesQUINET, Antonio. Os Outros em Lacan, 2012.Marcello BecreiNo ratings yet
- A Teoria Metapsicológica de Christopher BollasDocument127 pagesA Teoria Metapsicológica de Christopher BollasPaulaBraga68100% (1)
- Nos Domínios de Eros o Simbolismo Singular de Gilka MachadoDocument134 pagesNos Domínios de Eros o Simbolismo Singular de Gilka MachadoRastamanNo ratings yet
- A posição melancólica como modo de gozoDocument36 pagesA posição melancólica como modo de gozoSandra Autuori100% (1)
- A devastação femininaDocument7 pagesA devastação femininaPriscilla IllaneNo ratings yet
- Sonhos em tempos de pandemia: um olhar psicanalíticoDocument248 pagesSonhos em tempos de pandemia: um olhar psicanalíticomiesperanza internationalNo ratings yet
- A Disparidade No Amor - Éric LaurentDocument11 pagesA Disparidade No Amor - Éric LaurentPaulo RicardoNo ratings yet
- Agamben Ideia ProsaDocument17 pagesAgamben Ideia ProsaGiselle Vitor da Rocha100% (1)
- Esta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Document87 pagesEsta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Adenauer SilvaNo ratings yet
- Carta 71 - FreudDocument3 pagesCarta 71 - FreudWender MarquesNo ratings yet
- ÉNGRAE: estrutura e argumentoDocument14 pagesÉNGRAE: estrutura e argumentoRamon FerreiraNo ratings yet
- Gilberto Safra ArtigoDocument4 pagesGilberto Safra ArtigoPaty Cristine Cristine100% (3)
- Borda-N 0 PDFDocument111 pagesBorda-N 0 PDFbrunaNo ratings yet
- Solidão Desamparo e CriatividadeDocument18 pagesSolidão Desamparo e CriatividadeBárbara Caroline MacedoNo ratings yet
- Trauma e testemunho: uma leitura de Maryan S. MaryanDocument25 pagesTrauma e testemunho: uma leitura de Maryan S. MaryanAlan Osmo100% (1)
- Joel Birman - Psicanálise, Ciência e Cultura PDFDocument206 pagesJoel Birman - Psicanálise, Ciência e Cultura PDFVictor Hugo SilvaNo ratings yet
- A dialética do malandro e do otárioDocument113 pagesA dialética do malandro e do otáriochristianeomat5742100% (3)
- Derrida Lacan: o Gozo de Uma ParceriaDocument18 pagesDerrida Lacan: o Gozo de Uma ParceriaLuis RafaelNo ratings yet
- Disciplina Literatura e Psicanálise 2020Document3 pagesDisciplina Literatura e Psicanálise 2020Markson BarretoNo ratings yet
- O Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFDocument9 pagesO Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFcarla100% (1)
- Esquema R de Lacan ilustra relações objetais e identificações do sujeitoDocument3 pagesEsquema R de Lacan ilustra relações objetais e identificações do sujeitoLaura TrindadeNo ratings yet
- Pesquisa Psicanalítica Fenômenos SociaisDocument20 pagesPesquisa Psicanalítica Fenômenos SociaisEttore Dias MedinaNo ratings yet
- Adolescencia Sintoma Da Puberdade StevensDocument13 pagesAdolescencia Sintoma Da Puberdade StevensLorena ReisNo ratings yet
- O fluxo e a cesura: Um ensaio em linguística, poética e psicanáliseFrom EverandO fluxo e a cesura: Um ensaio em linguística, poética e psicanáliseNo ratings yet
- A Psicanálise e A Clínica Contemporânea - Luiz Claudio FigueiredoDocument9 pagesA Psicanálise e A Clínica Contemporânea - Luiz Claudio FigueiredoRob Autre100% (1)
- Psicanálise e Arte: Contribuições para o Trabalho TerapêuticoDocument21 pagesPsicanálise e Arte: Contribuições para o Trabalho TerapêuticoNaila Giane de LimaNo ratings yet
- A Desordem e o Limite - A Proposito Da Violência em Grande Sertão VeredasDocument111 pagesA Desordem e o Limite - A Proposito Da Violência em Grande Sertão VeredasAryanna OliveiraNo ratings yet
- Ah As Belas Lições by Radmila Zygouris PDFDocument268 pagesAh As Belas Lições by Radmila Zygouris PDFDiogenes Rodrigues100% (3)
- Zizek - O Superego Pós-ModernoDocument7 pagesZizek - O Superego Pós-Modernomarcelo-viana100% (2)
- Zizek - Luta de Classes Na Psicanálise - Freud X JungDocument5 pagesZizek - Luta de Classes Na Psicanálise - Freud X Jungmarcelo-vianaNo ratings yet
- Zizek - Bem-Vindo Ao Deserto Do RealDocument5 pagesZizek - Bem-Vindo Ao Deserto Do Realmarcelo-vianaNo ratings yet
- Maria Rita Kehl - Você Decide... e Freud ExplicaDocument6 pagesMaria Rita Kehl - Você Decide... e Freud Explicamarcelo-viana100% (1)
- Maria Rita Kehl - A Publicidade e o Mestre Do GozoDocument15 pagesMaria Rita Kehl - A Publicidade e o Mestre Do Gozomarcelo-vianaNo ratings yet
- Vladimir Safatle - Gênese e Estrutura Do Objeto Do Fantasma em Jacques LacanDocument16 pagesVladimir Safatle - Gênese e Estrutura Do Objeto Do Fantasma em Jacques Lacanmarcelo-vianaNo ratings yet
- Vladimir Safatle - Destituição Subjetiva e Primado Do ObjetoDocument23 pagesVladimir Safatle - Destituição Subjetiva e Primado Do Objetomarcelo-vianaNo ratings yet
- Sidi Askofaré - Arqueologia Do Cuidado - Da Prática Aos DiscursosDocument10 pagesSidi Askofaré - Arqueologia Do Cuidado - Da Prática Aos Discursosmarcelo-vianaNo ratings yet
- Sidi Askofaré - O Amor DesmetaforizadoDocument11 pagesSidi Askofaré - O Amor Desmetaforizadomarcelo-vianaNo ratings yet
- Sidi Askofaré - Identificação Com o SintomaDocument17 pagesSidi Askofaré - Identificação Com o Sintomamarcelo-vianaNo ratings yet
- Maria Rita Kehl - Não Há TV Independente Da SociedadeDocument2 pagesMaria Rita Kehl - Não Há TV Independente Da Sociedademarcelo-vianaNo ratings yet
- Maria Rita Kehl - Tecendo A Vida AdoidadaDocument6 pagesMaria Rita Kehl - Tecendo A Vida Adoidadamarcelo-vianaNo ratings yet
- Antonio Quinet - O Estilo, o Analista e A EscolaDocument10 pagesAntonio Quinet - O Estilo, o Analista e A Escolamarcelo-vianaNo ratings yet
- Calligaris - A Sedução TotalitáriaDocument6 pagesCalligaris - A Sedução Totalitáriamarcelo-viana100% (2)
- Márcio Peter - O Inconsciente Estruturado Como LinguagemDocument8 pagesMárcio Peter - O Inconsciente Estruturado Como Linguagemmarcelo-viana100% (1)
- Ernest Jones - The Early Development of Female SexualityDocument11 pagesErnest Jones - The Early Development of Female Sexualitymarcelo-viana100% (1)
- Márcio Peter - Lacan Com MarxDocument4 pagesMárcio Peter - Lacan Com Marxmarcelo-vianaNo ratings yet
- Calligaris - O Segredo Da Vida de Um CasalDocument2 pagesCalligaris - O Segredo Da Vida de Um Casalmarcelo-vianaNo ratings yet
- Marcelo Viana (Resumo) - Kaspar Hauser Ou A Fabricação Da RealidadeDocument1 pageMarcelo Viana (Resumo) - Kaspar Hauser Ou A Fabricação Da Realidademarcelo-vianaNo ratings yet
- Calligaris - A Sedução TotalitáriaDocument6 pagesCalligaris - A Sedução Totalitáriamarcelo-viana100% (2)
- Antonio Quinet - Degradação de Lacan e Desprezo Pela Comunidade AnalíticaDocument2 pagesAntonio Quinet - Degradação de Lacan e Desprezo Pela Comunidade Analíticamarcelo-vianaNo ratings yet
- Calligaris - Coisa de HomensDocument2 pagesCalligaris - Coisa de Homensmarcelo-vianaNo ratings yet
- Antonio Quinet - As Novas Formas Do Sintoma Na MedicinaDocument8 pagesAntonio Quinet - As Novas Formas Do Sintoma Na Medicinamarcelo-vianaNo ratings yet
- Jorge Forbes - Jacques LacanDocument6 pagesJorge Forbes - Jacques Lacanmarcelo-viana100% (1)
- Sonia Alberti - O Discurso Do Capitalist A e o Mal Estar Na CulturaDocument12 pagesSonia Alberti - O Discurso Do Capitalist A e o Mal Estar Na Culturamarcelo-viana80% (5)
- Christian Dunker - Sobre Zizek e A Nova EsquerdaDocument3 pagesChristian Dunker - Sobre Zizek e A Nova Esquerdamarcelo-viana100% (1)
- Rosânea Teixeira - O PARADIGMA INDICIÁRIO E AS ORIGENS DO ROMANCE POLICIALDocument9 pagesRosânea Teixeira - O PARADIGMA INDICIÁRIO E AS ORIGENS DO ROMANCE POLICIALmarcelo-vianaNo ratings yet
- Beatles e DylanDocument2 pagesBeatles e Dylanmarcelo-vianaNo ratings yet
- Plan Semanal VERBOS PARA ELABORAÇÃO DE OBJETIVOSDocument4 pagesPlan Semanal VERBOS PARA ELABORAÇÃO DE OBJETIVOSProf_VGSNo ratings yet
- Batalha Espiritual No CasamentoDocument25 pagesBatalha Espiritual No CasamentoFernanda e Adriano100% (5)
- Painel do Aluno - Questões e DesempenhoDocument3 pagesPainel do Aluno - Questões e DesempenhoWeriquis SalesNo ratings yet
- Arte Pré-HistóriaDocument2 pagesArte Pré-HistóriaBianca Santos100% (1)
- Estudo Dirigido Teoria Geral Do Estado - MenelickDocument5 pagesEstudo Dirigido Teoria Geral Do Estado - MenelickfelipesampNo ratings yet
- O triste fim de Policarpo QuaresmaDocument2 pagesO triste fim de Policarpo QuaresmaCamila Apolonio RodriguesNo ratings yet
- NEIVA 2015 Susan McClary e Crítica de Suzanne CusickDocument9 pagesNEIVA 2015 Susan McClary e Crítica de Suzanne CusickElizaGarcia100% (1)
- Fundamentos Da Educação - Prof - DR - José Carlos LibâneoDocument8 pagesFundamentos Da Educação - Prof - DR - José Carlos LibâneoGeuciane GuerimNo ratings yet
- Michelle de Freitas BissoliDocument282 pagesMichelle de Freitas BissoliEdilsonAzevedoNo ratings yet
- Gestao Da QualidadeDocument114 pagesGestao Da QualidadeWanda NogueiraNo ratings yet
- Educacao Pelos Tambores-A Transmissao Da TradicaoDocument15 pagesEducacao Pelos Tambores-A Transmissao Da TradicaoportoppNo ratings yet
- A longa duração na história segundo BraudelDocument5 pagesA longa duração na história segundo Braudelanon_937785226No ratings yet
- CrônicasDocument6 pagesCrônicasmahelyNo ratings yet
- Ela Vai No Meu BarcoDocument148 pagesEla Vai No Meu BarcofernandaNo ratings yet
- 3 Ano Ef Plano de Curso 2023 Anos Iniciais-V2001Document149 pages3 Ano Ef Plano de Curso 2023 Anos Iniciais-V2001André Gustavo100% (1)
- Abordagens linguísticas: Estruturalismo, Gerativismo, Funcionalismo e CognitivismoDocument9 pagesAbordagens linguísticas: Estruturalismo, Gerativismo, Funcionalismo e Cognitivismoembasa03No ratings yet
- Monografia EntregueDocument36 pagesMonografia EntregueMara Cecília Maciel CavalcanteNo ratings yet
- Nietzsche - Obras - IncompletasDocument230 pagesNietzsche - Obras - IncompletasCamilo VenturiNo ratings yet
- Psicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFDocument202 pagesPsicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFZelão Liz100% (2)
- Credencia Colégio Flama com cursos técnicosDocument30 pagesCredencia Colégio Flama com cursos técnicosFabiano PessanhaNo ratings yet
- A arte de redigir: o caminho para um texto bem construídoDocument1 pageA arte de redigir: o caminho para um texto bem construídomagalagamenonNo ratings yet
- Materialdeapoioextensivo Geografia Exercicios Africa Subsaariana Quadro Social e ConflitosDocument1 pageMaterialdeapoioextensivo Geografia Exercicios Africa Subsaariana Quadro Social e ConflitosFabiano rodrigues100% (1)
- Ap1 - Ana - Lucia - Infográfico Teorias e Práticas de CurrículoDocument6 pagesAp1 - Ana - Lucia - Infográfico Teorias e Práticas de CurrículoAna Lucia Corrêa GomesNo ratings yet
- DH Garantia DignidadeDocument10 pagesDH Garantia DignidadeJack StewartNo ratings yet
- 10164-Texto Do Artigo-29275-1-10-20161014Document31 pages10164-Texto Do Artigo-29275-1-10-20161014Juan Da Silva LemosNo ratings yet
- A má-fé da justiça penal e a reprodução da desigualdade socialDocument34 pagesA má-fé da justiça penal e a reprodução da desigualdade socialLeyla LoboNo ratings yet
- A influência de Haussmann no Rio dos anos 20Document12 pagesA influência de Haussmann no Rio dos anos 20Alexandra Dias Ferraz TedescoNo ratings yet
- Antropologia: ciências naturais x sociaisDocument2 pagesAntropologia: ciências naturais x sociaisIsrael Alves Jahn100% (1)
- Avaliação de Tratamentos Do Autismo ATECDocument7 pagesAvaliação de Tratamentos Do Autismo ATECDaniel OliveiraNo ratings yet
- Entrevista com João Paulo Borges Coelho sobre identidade e cultura em MoçambiqueDocument19 pagesEntrevista com João Paulo Borges Coelho sobre identidade e cultura em MoçambiqueMaxNo ratings yet
- Plano aulas 7o ano música, questionário, inglêsDocument2 pagesPlano aulas 7o ano música, questionário, inglêsluciana100% (2)