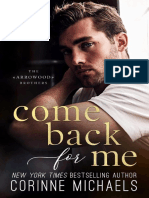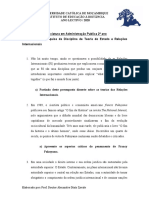Professional Documents
Culture Documents
Revista Brasileira de Sociologia Da Emoção v2, n4, Abril2003
Uploaded by
Rafael RochaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Revista Brasileira de Sociologia Da Emoção v2, n4, Abril2003
Uploaded by
Rafael RochaCopyright:
Available Formats
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
RBSE
Volume 2 Nmero 4 Abril de 2003
ISSN 1676-8965
Artigos
O sofrimento social como experincia distncia. Uma reflexo sobre os silncios da fotografia (pp. 5-34) Mauro Guilherme Pinheiro Koury Cultura do medo e cotidiano dos idosos porto-alegrenses. (pp. 35-69) Cornelia Eckert Existem valores naturais? (pp. 70-77) Alain Caill A emoo e a guerra: fundamentalismos e incertezas. (pp. 78-92) Adriano de Len O brasileiro emotivo: reflexes sobre a construo de uma identidade brasileira (pp. 93-112) Claudia Barcellos Rezende Algunas disquisiciones "culturales" sobre la(s) globalidad(es): dilemas entre lo local y lo global. (pp. 113-125) Jos Palacios Ramrez
Documentos
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A Sociologia de Gabriel Tarde: Notas Introdutrias (pp. 126-133) Mauro Guilherme Pinheiro Koury L'opposition et l'adaptation (pp. 134- 150) Gabriel Tarde A oposio e a adaptao (pp. 151-167) Gabriel Tarde
Resenhas
Sociologia da emoo: resenha (pp. 168-171) Vancarder Brito Souza Os significados da amizade: resenha (pp. 172-176) Maria Cristina Rocha Barreto Colaboraram neste nmero (p. 177)
Edies GREM Copyright 2002 GREM
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Expediente:
A RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoo uma publicao do GREM Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoes. Tem por objetivo debater questes ligadas subjetividade nas Cincias Sociais, sobretudo ao uso da categoria emoo.
Editor
Mauro Guilherme Pinheiro Koury (GREM/UFPB)
Conselho Editorial
Jess Freitas de Souza (IUPERJ) Alain Caill (Universit Paris X/M.A.U.S.S. - Frana) Alda Motta (UFBA) Bela Feldman Bianco (Unicamp) Cornelia Eckert (UFRGS) Danielle Rocha Pitta (UFPE) Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (UFC) Evelyn Lindner (University of Oslo - Noruega) Luiz Fernando D. Duarte (UFRJ) Maria Arminda do Nascimento (USP) Mariza Corra (Unicamp) Myriam Lyns de Barros (UFRJ) Regina Novaes (UFRJ) Ruben George Oliven (UFRGS) Thomas Scheff (University of California - USA)
Correspondncia deve ser enviada para o seguinte endereo: GREM Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoes RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoo Caixa Postal 5144 CEP 58 051 970 Joo Pessoa Paraba Brasil E-Mail: grem@cchla.ufpb.br
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoo/Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia da Emoo da Universidade Federal da Paraba, vol. 2, n. 6, dezembro de 2003, Joo Pessoa: GREM, 2003. Quadrimestral ISSN 1676-8965
1. Antropologia das Emoes, 2. Sociologia das Emoes Peridicos. I. Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoes. BC-UFPB CDU 301
A RBSE est licenciada sob uma Licena Creative Commons. Copyright 2002 GREM Todos os direitos reservados. Os textos aqui publicados podem ser divulgados, desde que conste a devida referncia bibliogrfica. O contedo dos artigos e resenhas de inteira responsabilidade de seus autores.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. O sofrimento social como experincia distncia. Uma reflexo sobre os silncios da fotografia. RBSE, v.2, n.4, pp.5-34, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
O sofrimento social como experincia distncia. Uma reflexo sobre os silncios da fotografia
Mauro Guilherme Pinheiro Koury
Resumo: Este ensaio busca discutir a relao entre o ato e o objeto fotogrfico nos processos de interditos sociais. Parte-se de fotografias que possuem o tema da morte e do sofrimento social, aqui denominado de fotografias traumticas, em diversas formas de apropriao social, desde o lbum de famlia privado, ao fotojornalismo e a propaganda, para discutir as formas discursivas e os seus limites sociais, ticos e morais na contemporaneidade ocidental. Palavras-chaves: interdito social; fotografias traumticas; sofrimento social.
Uma ave de rapina, um abutre, pousa pacientemente h poucos metros ao lado de uma criana, uma menina, de aparentemente trs ou quatro anos, subnutrida. Sem condies para percorrer a extenso que falta para que chegue ao seu destino, um campo de refugiados, a criana pra, as pernas ficam sem fora, cambaleia e se senta em flexo sobre os joelhos; a cabea baixa, pela tontura do sol e da fome e da sede e, como o que se entrega tontura dos momentos finais em vida, antes de morrer. O abutre, como uma velha e experiente ave de rapina, acostumada a cenas iguais a esta em animais de vrias espcies, espera, pacientemente, o desfalecimento da vtima potencial, a menina faminta, para dar o seu golpe mortal e alimentar-se dos seus restos. Esta uma descrio da fotografia (Foto 1), agora na tela. Descrio de uma fotografia, tirada no ano de 1993, por um fotgrafo sul-africano. A cena se passa na frica, h poucos metros de um campo de refugiados de uma das muitas tragdias
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
genocidas que vitimam o continente e colocam homens, mulheres, jovens, velhos e crianas a merc, vtimas em potencial das guerras e da misria e escassez de alimentos. Esta, especificamente, em um campo de refugiados e de alimentao, dos conflitos no Sudo. O fotgrafo, experiente em fotos de guerra e violncia, acostumado a cenas traumticas da vida cotidiana de povos e gente miserveis espalhados pelo continente africano, estava no local para cobrir o impacto causado por mais um conflito entre etnias diferentes em disputa pelo controle estatal, na modernidade africana. Como o abutre, como uma espcie de ave de rapina, posicionou-se e esperou pacientemente, pelo enfraquecimento da vtima, a criana, acompanhando a trajetria de dor desta pequena tragdia humana, e os rodopios e o ganhar segurana da ave frente a seu alvo. Com esta foto, o fotgrafo tirou o prmio Pulitzer no ano de 1994, na categoria de fotojornalismo e, algum tempo depois, suicidou-se. Este fotgrafo chamava-se Kevin Carter. Tinha trinta e trs (33) anos quando cometeu suicdio.
Foto 1
At o momento da foto pouco conhecido no mundo do fotojornalismo de guerra, de violncia e catstrofes, Carter notabilizou-se internacionalmente atravs desta foto. De um lado, pela violncia dela emanada que serviu de suporte para muitas campanhas de ajuda aos povos africanos e a populao mundial que vive na extrema misria em um mundo que se d ao luxo de desperdiar
6
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
alimentos e concentrar riquezas em cada vez menor nmero de mos. De outro lado, pelo suicdio, atribudo em bilhete deixado, a no mais ter condies de viver aps ter presenciado tal ato e, o que mais grave, participado dele. Uma segunda fotografia (Foto 2), que gostaria de comentar, neste incio de exposio, no mais se refere a uma fotografia de um profissional ligado documentao, ao fotojornalismo ou a expresso artstica. Esta segunda fotografia um dos resultados da democratizao da cmera fotogrfica a partir dos anos cinqenta do sculo passado no mundo, que popularizou o ato de retratar situaes, paisagens e gente e colocou a fotografia mais arraigadamente no mbito do privado. Esta segunda foto, cedida para ser escaneada pela sua proprietria, retrata um homem, pendurado pelo pescoo em um dos caibros de sua residncia, em uma das cidades do interior mineiro, junto ao umbral de uma das divisrias da casa. Casa simples, por sinal, o que denota a pobreza da vtima e da sua famlia, mas que, apesar da pobreza evidente, dispunha de recurso financeiro para a compra de uma mquina fotogrfica. Mquina atravs da qual foi capturada a ltima imagem deste homem no gesto final que o levou morte atravs do ato suicida. A ao de captura foi realizada por um dos membros da famlia, a pedido da esposa da vtima, um pouco tempo aps ter sido encontrado enforcado e antes que a polcia chegasse e se apropriasse do corpo para percia tcnica e policial. Esta foto guardada com carinho como a nica lembrana deste ente querido pela esposa. Fotografia que faz parte do que se denominou chamar de lbum de fotografias. Instrumento privado onde se depositam as lembranas icnogrficas familiares, bem como de amigos prximos e pessoas importantes que, de uma forma direta ou indireta, estiveram presentes na vida e organizao familiar.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Foto 2
Esta fotografia, diferente da primeira, no teve e no possui qualquer expresso pblica. uma apropriao privada de um instante familiar. Um instantneo que retrata o ltimo momento em terra de um corpo querido: no caso, o marido da proprietria da foto. Esta a primeira vez que utilizada em um discurso que transcende o lcus privado de sua apropriao, e a pedido da proprietria, se revela aqui situao, mas no se discriminam o nome do retratado, o nome da proprietria e da famlia, nem o local exato de onde aconteceu o ato, suicida e fotogrfico. O que por si s revela para esta conferncia elementos de interditos que podero ser investigados no seu decorrer. Uma terceira fotografia aqui separada para ser mostrada neste incio de apresentao, teve como destino a publicidade. Foi elaborada, inclusive, para compor a imagem norteadora da campanha de uma grande grife de roupas de uma empresa globalizada a Benetton. A fotografia (Foto 3) da fotgrafa Therese Frare, bastante conhecida nos meios publicitrios internacionais, , e faz parte da campanha publicitria "United Colors of Benetton" do ano de 1992.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Foto 3
Nela, um homem jovem, de nome David Kirby, agoniza e experincia o momento final de sua vida, cercado pelo carinho e pelo sofrimento dos familiares. uma vtima da AIDS. Quase no final da fotografia, ao lado esquerdo, uma tarjeta verde identifica a marca da campanha da Benetton. Como a segunda fotografia h pouco mostrada, esta retrata um instantneo de um drama familiar de cunho privado: o acompanhamento dos ltimos momentos em vida e da agonia de um ser humano pela sua famlia em dor. Fotografia que deveria ser destinada ao lbum de famlia, como recordao do ente que finalizava a sua estada entre os seus, retirado pela e para a morte. Diferente da segunda, contudo, esta uma foto paga de uma cena real, para ilustrar um dos momentos publicitrios de uma grife internacional de roupas. Como muitas outras peas publicitrias da Benetton, esta foto foi proibida de ser veiculada em vrios pases pelo discurso moral que ela provoca e tambm foi bastante comentada na mdia internacional da poca. Uma quarta fotografia para acompanhar este incio de palestra uma fotografia jornalstica que ilustrou um jornal dirio de cunho popular do estado de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, no seu primeiro ano de existncia. Este jornal dirio surge em Pernambuco no ano de 1999 com forte apelo popular, veiculando, como carro chefe reportagens e fotografias de homicdios e atos violentos acontecidos no estado e, principalmente, na capital, a cidade do Recife.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Em um estado controlado por apenas dois jornais dirios, o Jornal do Comrcio e o Dirio de Pernambuco e, onde, tentativas de outra empresa jornalstica impressa ser destinada ao fracasso pelo controle exercido pelos jornais principais, a Folha nos seus primeiros seis meses de aparecimento forou os grandes jornais a baixar o preo de seu produto dirio e acompanhar o preo estabelecido pelo novo produto em cena: a Folha de Pernambuco. No apenas isso, contudo, o teor das reportagens dos jornais estabelecidos comeou a seguir o teor das matrias do novo jornal, bem como as fotografias ganharam o enquadramento e os elementos de composio semelhante ao fotojornalismo da Folha. A fotografia impressa que gostaria de apresentar (Foto 4), do fotgrafo Clemilson Campos, de 1999, publicada na Folha de Pernambuco, retrata um travesti morto, assassinado no ponto em que se oferecia para programas, possivelmente por um cliente insatisfeito ou que no queria pagar o trabalho efetuado, ou ainda por um "caador de travecos" comum nos grandes centros urbanos brasileiros, e em que Recife, atualmente, se destaca, por ser a cidade brasileira com maior nmero de assassinatos de homossexuais, ultrapassando Salvador, So Paulo e Rio de Janeiro.
Foto 4
A fotografia, em si, banal e retrata uma cena comum: mais um travesti morto nas ruas e nos becos e nas periferias da cidade do Recife. A sua composio,
10
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tambm, parece ser comum fotografia jornalstica dos jornais populares: o tipo de enquadramento, a angulao, o sangue derramado pela vtima, etc. se no fosse por um pequeno detalhe. O travesti morto se encontrava com o pnis em ereo.
Foto 5
A editoria de fotografia do jornal achou por bem retirar o pnis ereto da fotografia, borrando-o digitalmente, embora na matria escrita falasse claramente no interior da reportagem da condio de ereo do pnis da vtima. O mesmo acontecendo com outra fotografia (Foto 5), na mesma Folha de Pernambuco e no mesmo ano de 1999, da fotgrafa Hlia Scheppa, onde a manchete chama a ateno do leitor "Idoso achado morto, nu e com pnis levantado". Na fotografia, porm, a regio peniana se encontra borrada digitalmente.
Fotografia e Interditos
As cinco fotografias apresentadas, neste primeiro momento de exposio revelam duas temticas, que interagem entre si e, embora possam ser entendidas metodologicamente em separado, ganham melhor expresso e sentido nos intercruzamentos que promovem a cada momento na leitura de um social para quem elas
11
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
buscaram revelar e de onde so produtos e objetos de discurso e tambm promotoras de falas competentes ou projetos discursivos. As duas temticas de que estou falando, tratam da morte e dos interditos: ambas temticas produtoras de discursos morais que servem de guias para um especfico societrio situar-se e situar os seus membros em formas de conduta, e em termos de tempo e espao, consolidando noes de passado e futuro atravs da presentificao da regra. Para o Dicionrio de Lngua Portuguesa de Aurlio Buarque de Holanda, interdito diz respeito a uma ao intentada com o fim de proteo e caracterizada por um preceito proibitrio como, por exemplo, a proibio do uso e fruio de bens ou impedimento de acesso a lugares ou coisas considerados sagrados ou puros. Relaciona-se com noes de proibio e impedimento. Ou ainda com a noo de poluio e contaminao. O uso de recursos interditos socialmente, deste modo, poder acarretar prejuzos individuais e social para quem dele participa, ativa ou passivamente. Prejuzos que podem ir desde a perturbao mental ou social, isto , individual ou coletiva, at a constrangimentos pessoais ou coletivos entre partes em interao expostas ao recurso interdito. Tais prejuzos decorrem da exposio ao interdito, possibilitando ao exposto uma espcie de contaminao dos elementos poluidores constantes na ao ou na coisa proibida. Uma coisa interdita, assim, quando tocada por mos, ou olhares, ou gestuais pode provocar um ato de poluio e criar uma rea de contaminao que ocasiona possibilidades de vrias espcies queles envolvidos. Sejam estes participantes diretos, sejam participantes indiretos do ato de exposio. As aes e coisas interditas so, deste modo, sujeitas a todo um regramento social pela disfuncionalidade que podem acarretar a um social ou a um indivduo qualquer, interagindo em um tempo e em um espao especfico. Os interditos, assim, podem ser considerados em suas formas de apropriao, por um social, por uma pessoa ou por um grupo de referncia, por exemplo, e em suas formas simblicas expressas no seu contedo imaginrio, no necessariamente consciente daqueles que a manipulam, se expem ou a eles so expostos.
12
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Quanto mais simples o ordenamento social mais a noo do interdito perpassa toda a rede social e funciona na sociedade como um todo. A pluralidade em um social mais complexo, por seu turno, permite a existncia de fragmentaes em vrios nveis e graus no plano social, dissolvendo os interditos a um conjunto de regras passiveis de serem ou no absorvidas ou aceitas pelo todo social. J que a eficcia de um interdito a sua aceitao social, por toda a coletividade ou por parte de um conjunto, grupo ou segmentos do social mais geral. Em todo caso, os interditos enquanto padres morais so re-significados cotidianamente, tanto em relao aos indivduos, grupos ou estratos sociais, quanto em relao ao todo social como uma espcie de imposio imaginria que toca em padres arquetpicos de comportamento ou de interao entre indivduos ou grupos de um social dado. Bem como nas formas diversas de apropriao das aes ou situaes ou coisas de interditos entre os diversos grupos ou personagens envolvidos, passivos ou ativamente, com o resultado da ao ou situao. No caso da noo de morte, por exemplo, bem como nas situaes de violncia, explcita ou no, os interditos perpassam redes compreensivas sociais ou mentais onde as temticas tendem a ser negadas ou vinculadas a um tipo de compreenso passvel de ser visualizada enquanto cotidiano singular onde o grupo ou indivduo est inserido. As diversas formas de apropriao parecem se fazer a partir da intencionalidade do ato em funo da pessoa, e deste modo, aparecendo como uma forma de apropriao no social do produto da ao. Philippe ries, em um estudo de 1997, diz que na sociedade contempornea a morte, enquanto conceito e enquanto expresso, se encontra interdita (ries, 1977). Afirma que o modo de vida atual, nas sociedades ocidentais e industrializadas, impede a vivncia da morte sob um discurso de juventude eterna e dominao da natureza; a morte acontecendo e sendo entendida como uma forma de fracasso tecnolgico. Como no pode ainda ser evitada, a morte tratada, sempre, como a morte do outro e, enquanto tal, as suas formas rituais e expresses de dor so minimizadas e tratadas de forma mais rpida e higinica possvel, entre a morte e o despacho do corpo e
13
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
onde as expresses de dor so restringidas ao interior da pessoa que vivencia esta perda particular. Em um estudo sobre o Brasil urbano no final do sculo passado, o autor (KOURY, 2001) constata as formas higinicas no trato da morte e da dor da perda entre os habitantes das vinte e sete capitais de estados brasileiros, e o desconforto advindo e a diminuio e esfacelamento das relaes sociais resultante, ampliando a esfera da solido do homem comum urbano. Negada socialmente, o interdito funciona como um plano moral singular que tende a retirar do social qualquer vinculao da ao ou coisa proibida e despejla no interior da pessoa enquanto subjetividade. A objetividade do social, deste modo, funciona como uma espcie de regramento das subjetividades, a enquadrando dentro de significantes psicolgicos que podem interferir ou no no comportamento social em geral, se no forem interditas ou pelo menos acionados controles morais para a sua conteno. O seu uso podendo ser feito ou realizado atravs de subjetividades intencionadas para tal, no interior de rgido controle disciplinar imposto socialmente pelo outro da relao. Controle disciplinar este, por exemplo, que pode funcionar atravs das noes de vergonha ou culpa, sempre pessoal, mas tambm sempre referida as interrelaes possveis, vinculares, de forma direta, ou indireta com o social mais geral. o que estuda, de forma magistral, Norbert Elias (1990 e 1993), em seu livro O Processo Civilizador. Quando se pensa no objeto fotogrfico, porm, pensa-se, em geral, em apropriao. Em formas de apropriao do real e sua transformao em realidade captadas e reveladas, capazes de reproduzir em qualquer tempo e em qualquer espao um tempo e um espao que foi, visto e captado por uma lente e transferido na sua imortalidade de objeto revelado para todo e qualquer olhar que a ele se atenha, curta ou demoradamente, a viso. Objeto de objetificao do real, a fotografia parece submeter realidade ao olhar mecnico da mquina fotogrfica e, atravs dele, disciplinar o conjunto de fatos capazes de organizar um discurso sobre o mundo e sobre
14
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
os homens em geral. Bem como dos homens e seus mundos e suas relaes com a natureza e o sobrenatural. A fotografia aparece assim como uma forma singular de captao do real e o seu uso tem um significado amplo que varia segundo as formas de apropriao ou discursos entrevistos ou denotados a partir dos elementos conotados que a constituem. Desta forma, uma mesma fotografia poder representar uma possibilidade infinita de formas de apreenso e apropriao por um indivduo singular, ou por um grupo ou por toda uma coletividade de acordo com os usos a que se encontra submetida. Os interditos, quando agem, funcionam sempre na direo aos outros da relao, quando se objetifica o social. Mesmo que internamente, na subjetividade da pessoa, possa funcionar de um jeito especial de apropriao, por exemplo, mesmo se sentido culpada pela posse ou guarda de um objeto, esta re-significa-o dentro de uma simbologia prpria que permite acomodar a culpa ou vergonha da posse, transformando-a em um sentimento qualquer, sentimental, por exemplo, em relao ao objeto fotogrfico de que se fez guardi ou proprietria. Os dramas internos acomodados, e o objeto sendo de significao apenas pessoal, sem o controle e aparecimento pblico, na sociedade atual, possvel de ser administrado e com ele convivido. Mesmo assim, se descoberto ou entreaberto a possibilidade de posse de um sobre objetos interditos ou de suspeio social, esta pessoa pode se sentir constrangida pela posse que possui, ter receio de passar vergonha em pblico e em ltimo caso, ser objeto de tratamentos especializados, pela sua fixao em objetos mrbidos ou no aprovados socialmente. Este parece ser o caso da segunda fotografia (Foto 2) mostrada no incio desta exposio, que retrata um ente querido morto e guardada como a nica lembrana pela esposa. O fato de ser uma foto de um homem enforcado e ainda preso corda que o matou um detalhe, ou assim o parece ser, na administrao sentimental com que ela visualizada pelos entes que a possuem e a utilizam como objeto de memria sentimental do morto.
15
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Por fora de circunstncias, esta foto mantida sob um misto de segredo e receio de mal interpretada por sua guarda pela esposa do morto retratado. vista na comunidade em que mora esta famlia, entre vizinhos e inclusive familiares, como uma espcie de doena mrbida "esta mulher maluca", por exemplo, ou atravs de expresses de nojo e distanciamento, como se a foto, e atravs dela, a famlia que a possui, pudesse contaminar os demais pela afronta que a foto representa: a idia de um suicdio, de fato, acontecido em um tempo atrs e naquela residncia. A idia de morte acompanhada ou adjetivada pela de suicdio presente na fotografia parece, assim, traduzir um receio geral sobre as conseqncias que poder trazer para a comunidade. Evitar a fotografia, e atravs dela, evitar relaes mais estreitas com a famlia que a possui e a guarda sentimentalmente, desta forma, parece ser o mais prudente que se tem que fazer. A fotografia morturia, no sculo XIX e primeiras dcadas do sculo XX, foi um instrumento de lembrana muito utilizado e de importncia especial para os lbuns de famlia. Atravs das fotos repassava-se para as geraes seguintes aqueles que um dia fizeram parte da famlia, no s adultos, como vidas passageiras, de crianas nati-mortas ou mortas em tenra idade. Atravs das fotos dos mortos queridos tambm se administrava o estatuto social da famlia, em fotos de velrios, onde o corpo morto era rodeado no apenas por familiares mas tambm por toda uma corte de autoridades, amigos importantes ou no, pessoas comuns a ele gratas, agregados entre tantos outros. Estudiosos como Bourdieu (1967), Jay Ruby (1995 e 2001), Moreira Leite (1993) e Koury (1998, 2001), entre vrios outros autores, estudaram o fenmeno na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. No caso brasileiro, estudado pelo autor (KOURY, 2001), a fotografia morturia foi largamente utilizada entre a classe alta e mdia at meados da dcada de cincoenta do sculo passado, onde fotgrafos importantes retrataram mortos ilustres para lbuns privados. O desuso tem incio a partir do final da dcada de cincoenta e se estende at os dias presentes. Embora ainda seja freqente o seu uso principalmente em cidades interioranas de todo o Brasil, e ainda sejam enviadas com
16
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dedicatrias, guardadas com carinho e s vezes utilizada como forma de recordao de mortos recentes, por grande parte da populao urbana habitante das capitais dos estados brasileiros de classe mdia, como a Foto 6, de uma famlia paraibana, tirada em 1961, indica. A contradio entre a ampliao do desuso e o uso ou guarda de fotografias morturias entre os habitantes urbanos contemporneos apenas aparente. O que aconteceu, de um lado, que as fotografias morturias privadas dos ltimos quarenta anos tem sido cada vez mais tiradas por fotgrafos amadores, quase sempre membros da famlia do morto retratado, o que retira para a instncia do privado um ato at ento pblico. De outro lado, porm, esta retirada para o privado, amplia ao nvel das relaes pblicas, isto , sociais, uma espcie de interdito sobre esse tipo de retrato.
Foto 6
17
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A ampliao das formas urbanas advindas com o crescimento das cidades e com a industrializao do pas, a modernidade brasileira, enfim, veio acompanhada de todo um discurso de higienizao das relaes sociais e, aqui, especificamente, no trato da morte. O que provocou um estranhamento para formas de expresses de sentimentos at ento vigentes no pas, bem como uma diminuio do ritual da morte e do luto. Tornando ambgua e ambivalente as relaes e discursos dos indivduos quanto ao processo de morte e do morrer e as formas de agir quando atingidos direta ou indiretamente. A fotografia morturia tornou-se deste modo, interdita. Uma espcie de proibio branca faz com que o seu largo uso, ainda hoje, seja dissimulado por aqueles que o praticam e criticado pelos outros quaisquer da relao. Perguntados se fotografam os seus mortos, a primeira expresso de receio ou indignao com a pergunta, para depois, ganha a confiana, confessarem ainda possuir ou ainda tirar fotos de ente queridos. A vergonha da posse uma expresso moderna do interdito sobre a propriedade de fotografias morturias, o que faz a apropriao ser constrangida e a relao pblica de expresso social ambgua e ambivalente. O medo de ser tratado de louco, de estranho, e de que suas atitudes sejam motivo de gracejos ou preconceito, coloca o ato fotogrfico dos mortos ou a sua guarda e reverncia em uma espcie de sombra, com pouca ou nenhuma visibilidade social. O mesmo acontecendo com as expresses de sentimento e rigor ritual no trato com a morte e os mortos. No preciso, assim, realizar uma comparao entre o estado mrbido contido na Foto 6, - que retrata uma jovem morta em seu caixo, retrato dedicado para a irm como lembrana dos ltimos momentos desta jovem na terra, - com a Foto 2, que retrata um suicida no local e ainda sob a corda que o matou. Na Foto 2, no se expressa apenas um sentimento mrbido de reteno de um ente querido, mas ainda relata a forma que o retratado foi morto e o tipo de morte: suicdio por enforcamento. O que coloca a Foto 2 e quem mandou retratar ou a possui como lembrana ntima e sentimental, aos olhos dos outros, como uma pessoa estranha, seno doente.
18
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A Foto 6, deste modo, apesar de serem entendidas como mrbida, ainda possvel de serem administradas pelos outros como um costume antigo, no moderno de relao familiar e culto dos mortos, j que muitos tambm possuem retratos do tipo ou conhecem quem os conserva. A Foto 2, sentida como uma expresso de repugnncia e nojo, j que expressa no s o interdito da morte, mas a morte por suicdio, retratando o ato suicida em si. Ambas as fotos possuem no olhar crtico dos outros uma conotao no moderna de encarar e reviver a morte e os mortos dos entes-queridos. A Foto 2, porm, intimida os demais pela presentificao de um ato voluntrio contra a vida. Na cultura crist vivida no pas, o suicdio encarado como um desafio a Deus e como tal sujeito a uma denegao simblica que prende o suicida seno no inferno, a vagar como um condenado por entre mundos, sem nunca obter a salvao e misericrdia divina. Comprometendo deste modo no apenas ao que o praticou, mas toda a famlia. A insistncia em guardar como lembrana ntima do ente-querido a fotografia que o eterniza preso a uma corda, refora a estranheza familiar e o perigo da sujeira presente e fixa na fotografia contaminar a todos ao redor, que dela se aproximem ou a toquem. O que visto pelos outros como uma espcie de anomalia, instncia de perigo que deve ser desviada a qualquer custo, evitando, inclusive a proprietria e todos os membros de sua famlia. Esta famlia e a fotografia por ela guardada servem assim de enredo a uma srie de conversas sobre a etiqueta sobre a morte e o morrer e o relacionamento com os mortos, e deste modo como um elemento positivo de evitao sobre as regras que devem erigir um comportamento do enlutado perante os seus mortos e com os demais membros da famlia e comunidade e vice versa. At que ponto, pode-se perguntar, uma etiqueta social tem necessidade de elementos considerados sujos e poluidores para a formulao de uma padronizao do comportamento individual e coletivo? Esta questo poderia ser bem mais explorada, embora o tempo desta exposio no o permita. Os ouvintes so remetidos, assim, para o importante texto de Mary Douglas (1976), intitulado Pureza e Perigo, onde o tema tratado com maior profundidade.
19
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ao comparar as Fotos 2 e 6, com a Foto 3, v-se que esta ltima se debrua, de uma forma at singela, em uma reedio das fotografias morturias. Os familiares acompanham os ltimos momentos em vida de um moribundo. Junto agonia da morte retratada no rosto do doente terminal em seus minutos finais de vida, pode-se enxergar um sentimento de satisfao por est acompanhado pela solidariedade daqueles que o amam e que ama. A dor dos familiares, contida emocionalmente, revela tambm a solidariedade e o conforto que querem dar ao ente-querido que se vai, acompanhado, claramente, da inconseqncia da morte e da retirada de um ser querido de perto dos seus. A foto retrata um momento privado que se quer reter na memria familiar, que se quer conservar para as novas geraes familiares remontarem-se enquanto singeleza e importncia da famlia enquanto estrutura. Das trs fotos, talvez seja a mais singela e a que melhor expresse a fotografia morturia de cunho privado e o significado da famlia enquanto um bem universal a ser conservado. Uma fotografia que, embora olhada com um certo vis de passado, de tradio, poderia ser suportada aos olhos da cultura ocidental individualista mais chegada a memoriais. Esta fotografia de nmero 3, porm, foi proibida de ser veiculada mundialmente, uma semana aps sua exibio. Teve a presso do Vaticano contra ela, na sua veiculao primeira nas cidades italianas, e a partir da, pas a pas proibiu-a de exibio. Porque, pode-se perguntar. E a resposta pode vir de trs outras ordens de considerao. A primeira, diz respeito ao moribundo: o doente terminal era um doente de AIDS, uma praga mundial e, principalmente, urbana com incio nos anos oitenta do sculo passado, e que teve o apogeu nos primeiros cinco anos da dcada de noventa. A fotografia de 1992. A segunda, foi indignao internacional por esta fotografia ter sido paga, aos familiares e ao doente, por uma empresa, para veiculao na imprensa e nos cartazes de propaganda do mundo inteiro, quebrando o elo sacrossanto que poderia haver na fotografia para uso privado e ampliando um debate possvel sobre a estruturao frgil da famlia moderna. Indignao comandada pelas Igrejas, a comear pela Catlica a partir do Vaticano, e por diversas instncias jurdico-polticas dos estados modernos. A terceira, que resume as outras
20
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
duas ordens, indica a origem e o papel que a fotografia deveria desempenhar, e que de fato desempenhou: a de vender um produto especfico, no caso roupas da grife Benetton. A discusso moral tornou-se uma bandeira tica contra o uso de determinadas temticas para propaganda. Bandeira que se alastrou para alm das Igrejas e instncias jurdico-polticas, chegando sociedade civil em manifestos contra o uso e a forma de uso de temticas que prejudicariam segmentos determinados da populao, ou ajudariam a ampliar o preconceito. Assim, grupos organizados de Gays, Lsbicas e Simpatizantes, bem como vrias outras entidades politicamente corretas pronunciaram-se contra a Benetton e a sua linha de propaganda. Embora no seja o caso de aprofundar aqui, vale a pena lembrar que a linha de propaganda da Benetton envolveu-se em diversas disputas jurdico-polticas e arrastou consigo vrias manifestaes de protestos em diversas outras fotografias temticas que ilustraram os seus cartazes. Como por exemplo: em 1991, a fotografia "o anjo e o demnio", de Oliviero Toscani, que retrata duas crianas, uma loura e uma negra. A criana negra abraa a criana branca. Ambas olham direto para a cmera. A criana loura a representao do anjo, atravs de um rosto angelical, e a criana negra, faz a representao do demnio, com um penteado, inclusive, que lembra dois pequenos chifres. O bem e o mal abraados, poderiam representar, parodiando as representaes crists sobre a imagem do anjo e do demnio. Uma brincadeira contra o preconceito, talvez! No sendo entendido, porm, desta forma. No Brasil, organizaes ligadas ao movimento negro protestaram contra o preconceito advindo da imagem posta na propaganda. No conseguiram retirar a propaganda, mas ela durou pouco menos de duas semanas. Em 1995, duas fotografias conjuntas, tambm de Oliviero Toscani, criavam a idia temtica da propaganda. Um casal de homossexuais masculinos e um casal de homossexuais femininos, este ltimo com uma criana, simbolizavam o tema "liberation". Este cartaz causou
21
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
polmica e protesto em vrios pases, orquestrado pelo Vaticano. Um outro exemplo foi fotografia intitulada "Soldado Bsnio", veiculada em 1994, e que retratava um conjunto de roupas: uma cala militar e uma camisa de algodo, encharcadas de sangue e com perfurao de balas. Ou a srie fotogrfica intitulada: "inimigos", de 1998, onde judeus e rabes, servos e bsnios, e outros inimigos tnicos apareciam abraados. A mais comentada, e que gerou protesto de organizaes judias, foi fotografia, tambm de Oliviero Toscani, que retratava uma moa judia beijando amorosa e apaixonadamente um rapaz palestino. Em todos os casos, a Benetton conseguia o objetivo de suas campanhas. Polmica armada, ganhava os jornais do mundo afora e se fazia conhecida e discutida mundialmente. A apropriao de imagens traumticas, ou de contedos moral, ou de linguagens ambguas pela propaganda atingia o publico, no caso da Benetton, de uma forma direta, na medida em que utilizava a ambigidade inerente nos estatutos do individualismo e da individualizao ocidental contempornea. De um lado, tudo possvel, do outro lado, nem tudo possvel, antes pelo contrrio. Ao jogar a ambigidade enquanto temtica provocativa no ar, denuncia a falsidade em que se assenta o cosmopolitanismo ocidental, realando o preconceito e a solido, e o no saber agir dos sujeitos na cena social. Ampliando o debate sobre at que ponto a liberdade de aes dos sujeitos so ativas e quais os limiares possveis de admoestao do novo na sociedade contempornea. O que tico, o que preconceito, e o que razo moral, enfim. o que parece, tambm, acontecer, no debate internacional ocorrido a partir da Foto 1, que retrata os rodopios e o avano de uma ave de rapina sobre uma menina sudanesa faminta. Kevin Carter, autor da fotografia, at o momento da foto era pouco conhecido no mundo do fotojornalismo de guerra, de violncia e catstrofes. Segundo um artigo de um outro fotgrafo, amigo seu, Scott Macleod, em uma espcie de obiturio, publicado um pouco tempo aps a
22
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sua morte, na revista Time, de 12 de setembro de 1994, Carter notabilizou-se internacionalmente atravs desta fotografia, e a repercusso internacional dessa foto se deu em um desses acasos da vida cotidiana. Fotgrafo free-lance, tinha at ento trabalhado em alguns dos jornais Sul Africano e para a agncia Reuter, sendo conhecido apenas na frica do Sul, segundo Judith Matloff, em obiturio para o Columbia Journalism Review, CJR, de novembro/dezembro de 1994. Aps cobrir as vtimas da escassez e dos conflitos tnicos do Sudo, retorna a Johannesburg. Por coincidncia, o New York Times estava procurando fotografias sobre o Sudo e comprou algumas fotografias de Carter. A fotografia da menina sudanesa foi publicada na edio de 26 de maro de 1993, causando grande impacto na opinio pblica americana e mundial. Centenas de cartas chegaram ao jornal, de acordo com MacLeod, querendo saber sobre o destino da criana, e a fotografia ganhou o mundo, sendo publicada em vrios jornais de diversos pases. A fotografia, tambm, serviria como suporte para campanhas internacionais contra a fome e a misria, promovida por diversas instituies internacionais da sociedade civil, ou ligadas a organismos internacionais, ou Igrejas. A notabilizao da fotografia, assim, se deveu por tocar sentimentalmente ou politicamente olhares observadores mais variados, do homem comum, a agncias de estado e organismos internacionais governamentais e no governamentais. De um lado, pela violncia dela emanada que serviu de suporte para discursos e muitas campanhas de ajuda aos povos africanos e a populao mundial que vive na extrema misria em um mundo que se d ao luxo de desperdiar alimentos e concentrar riquezas em cada vez menor nmero de mos. De outro lado, pelo suicdio, em pouco menos de um ano, aps o registro fotogrfico, atribudo em bilhete deixado, a no mais ter condies de viver aps ter presenciado tal ato e, o que mais grave, participado dele apenas como observador. As duas formas de notabilizao do fotgrafo e documentalista Kevin Carter, acima, causou imenso debate entre fotojornalistas amigos seus ou no, sobre a tica por trs da captao de imagens em vista da busca de notoriedade ou da melhor fotografia, sem se importar
23
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
por aquele que est sendo retratado, desde o lado aventureiro do fotojornalismo de guerras e catstrofes, at os chamados de caadores de imagens e a discusso tica sobre a necessidade de pensar visualmente em campo, no processo de captao de imagens que possuam melhores ngulos ou qualidade tcnica sobre o produto retratado, foram temas de discusso. Temtica consciente do prprio Carter, de acordo com ele, falando do dilema comum aos fotojornalistas, "... voc est fazendo um visual aqui, mas dentro algo est gritando, Meu Deus! Mas tempo de trabalhar. Se lida com o resto depois. Se voc no puder fazer isso, ento saia do jogo". Palavras atribudas a Carter no depoimento do tambm fotgrafo James Nachtwey, que cobriu vrios trabalhos junto a ele. Outra linha de discusso buscava refletir sobre o processo tico no fotojornalismo e no ato fotogrfico em si. O suicdio de Kevin Carter, para esse outro caminho do debate, talvez tenha sido uma forma do sair do jogo, proposto por ele a Nachtwey, do no puder mais fazer isso, sim. Diversos depoimentos sobre o fotojornalista falam de sua instabilidade emocional, do consumo excessivo de drogas e lcool, do correr atrs da notoriedade sem medir limites, - enfim conseguida com o premio Pulitzer para a fotografia da menina sudanesa, tendo em vistas entender a fatalidade acometida, mas, talvez, para essa outra vertente, tais depoimentos, do modo consciente ou inconsciente, buscavam livrarem-se de um sentimento de culpa mais geral. Culpa presente no prprio ato fotogrfico por trs do fotojornalismo e que fala da sociedade de consumo de imagens vivida no mundo ocidental contemporneo e da busca sem limites da mdia de explorao de sentimentos e possibilidades de discursos que ampliem a vendagem de suas edies, no importando as fronteiras da moral e da tica. A possvel equao entre vendagem, novidade diria e qualidade da imagem vindo em primeiro plano nas agncias e mdias internacionais, parece, assim, em nome da informao imediata e dos furos sobre os concorrentes, expor os fotgrafos a agirem a partir de uma forma de pensar visual que separe as imagens em captura, como trabalho, da vida cotidiana desses mesmos profissionais. bom lembrar que o fotgrafo brasileiro radicado na Frana, Sebastio Salgado, h pouco tempo foi exposto no Brasil polmica semelhante sobre o seu trabalho, o situando entre a busca de notoriedade e esttica do sofrimento
24
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
social e a questo tica da captura dessas imagens que o tornaram clebre. Um outro debate, mais acadmico, situou-se, na discusso das formas de apropriao de imagens traumticas para transmisso de discursos com intuitos de dominao e explorao, ou, simultaneamente, de sensibilizao de pessoas para aprovao de projetos financeiros no necessariamente com aplicaes para a salvao das vtimas motivo das campanhas. Em um artigo intitulado "O clamor da experincia; o terror das imagens: Apropriaes culturais do sofrimento do nosso tempo" Arthur e Joan Kleinman (1997, pp. 1 a 24) tomam a fotografia ganhadora do premio Pulitzer, em 1994, da menina sudanesa e o abutre, e o suicdio do fotgrafo Kevin Carter, para discutir as bases de apropriao do sofrimento social pela poltica e mdia contempornea na sociedade ocidental. Falam das imagens traumticas como representaes culturais do sofrimento social e suas apropriaes para propsitos polticos ou morais; discutem o uso social do sofrimento como um componente da poltica econmica globalizada contempornea, e da criao de um mercado pulsante para imagens e discursos sobre sofrimento social. O sofrimento social e as vtimas do seu processo tornando-se uma mercadoria de grande procura no mercado miditico e de polticas pblicas internacional. Luc Boltanski (1993), fala sobre o sofrimento distncia, para expressar as formas de como a cultura popular apropria-se e estimulada a apropriar-se de imagens sobre o sofrimento social mundial, tornadas mercadorias. Imagens que se tornam alvos de retricas atravs das representaes discursivas e culturais sobre elas, como restos pouco densos e distorcidos de uma experincia social que se passa longe dos sujeitos que a vem. Representaes culturais do sofrimento social veiculadas atravs das imagens traumticas, tornadas objetos de elaborao temtica, hierarquizada e estigmatizada, geralmente sob a gide protetora e intervencionista de uma moral social dominante e suas instituies. Esta discusso tica sobre a fotografia de imprensa motivada pela fotografia 1, tambm pode ser aplicada para as Fotos de nmero 4 e 5 mostradas no incio desta exposio. Com uma diferena, contudo. Esta diferena
25
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
diz respeito s formas de edio de imagens fotogrficas anteriores publicao na imprensa. Os cortes sofridos, as formas de manipulao das fotografias e a censura moral sobre o que deve ser ou no mostrado nas imagens publicadas. Mais uma vez se est falando de imagens traumticas onde a morte o tema principal, e sua expresso na imprensa chamada popular. O sofrimento social expresso nas fotografias de morte tem uma intencionalidade direta, que pousa como uma espcie de editorial, sobre o significado construdo para a violncia urbana e seus protagonistas: geralmente populaes pobres ou grupos considerados marginais a moral comunitria em vigor. Sejam eles pequenos bandidos, estrupadores e suas vtimas, homossexuais, travestis, sejam eles pessoas comuns, moradores das periferias das cidades, trabalhadores ou desempregados, sejam ainda grupos de exterminadores organizados, pagos pelo comrcio local, sejam ainda grupos de linchamento, que buscam a justia pelas prprias mos, sejam eles, ainda, a polcia, mostrada tanto no seu lado corrupto quanto no seu lado de ao e proteo cidad. No se vai discutir, por absoluta falta de tempo, o papel da imprensa popular na construo das imagens de sofrimento como mercadoria e na disseminao das imagens traumticas como discursos intervencionistas de ao direta ou como banalizao e estigmatizao do sofrimento social como experincia especfica de um segmento da populao e o seu consumo mrbido como processo cultural. Em um outro trabalho (KOURY, 1998, pp. 67 a 86) o autor discutiu a questo da indiferena no processo de consumo de imagens traumticas na imprensa, atravs de informantes expostos a um conjunto de fotografias tendo a morte como o tema principal. Pela viso dos informantes chegou concluso da indiferena pela banalizao e rotinizao das imagens, talvez porque as cenas expostas de matanas, chacinas, guerra e outros fossem pblicas, sociais, e como tal possam ser analisadas de fora do sujeito que as observa: embora a morte venha tona incomodando com sua morbidez, no diz de imediato respeito aos medos, receios e perdas pessoais. A sua impessoalidade permitindo um distanciamento e uma interpretao sobre os horrores e a
26
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
violncia do mundo em geral, sem afetar diretamente o mundo pessoal do informante. A perturbao sendo mais social, e no dizendo diretamente respeito ao subjetivo da pessoa. So ou outros e no o sujeito e os seus os retratados. O que torna possvel, dessa forma, abstrair e transcorrer o depoimento em um nvel de distanciamento onde as emoes transpaream atravs de categorias muito amplas e aparentemente desligadas do cotidiano individual. Parte-se desses elementos como um pano de fundo, para se discutir o significado do corpo na construo imagtica de fotografias traumticas na imprensa popular. O corpo em geral, e aqui, especificamente, o corpo morto fotografado faz parte de um conjunto de smbolos de conotao social. Para Mary Douglas (1976, pp. 141 a 158), no corpo est expresso todo o poder e perigo creditado a uma estrutura social qualquer. Atravs desta ligao que se podem perceber os limites de exposio, positividade ou negao do corpo, na sua totalidade ou em partes, ou ainda nos excrementos a ele relacionados, como sangue, suor, saliva, em um social qualquer, j que nele esto gravadas as imagens de um social determinado. A fotografia impressa na imprensa popular trabalha, deste modo, com todo um conjunto simblico para expressar uma poltica visual direcionada sua apreenso pelo leitor. Tanto no que se refere ao que deve e como deve ser mostrado, quanto no que deve ser interdito ou censurado. A fotografia, deste modo, restaura, ao mesmo tempo em que instaura uma nova leitura re-significada, atravs do corpo objetivado, o que Victor Turner (1990, p. 87), chama de drama social. O drama social seria para Turner, deste modo, um conjunto de comportamentos ou representaes que compem unidades scio-temporais quase totalmente fechadas sobre si prprias, que sinalizam mecanismos de projeo inconscientes e elaboram um quadro de referncia sobre o adotado ou o que se devem adotar como critrios para a sua apreenso. O simbolismo do corpo, deste modo, investido de poder e perigo, e age dentro de um plano intensamente emotivo, em virtude de uma experincia imaginria vivida por uma coletividade e introjetada pelos indivduos que dela fazem parte.
27
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A linguagem do sofrimento expresso nas fotografias de homicdios publicadas nos jornais populares, por exemplo, trabalham o poder e os perigos do corpo e atravs deles arremessam um drama social, no apenas para as vtimas expostas, mas para toda a coletividade e ou individualidades que a observem. Drama social este que assegura no apenas o estatuto social de pertencimento daquele retratado, mas tambm lidam com os limiares imaginrios da vulnerabilidade e perigos a que esto expostos qualquer um que com ela se identifique ou com ela se horrorize, no processo de apropriao da imagem retratada e a expropriao, simultaneamente, do corpo enquanto um processo de exposio dos elementos que singularizam a sua morte e condio ou classificao social: pobreza, desvios de conduta considerada padro, bem como excrementos, lquidos, furos ou pedaos arrancados que projetem para fora aquilo que no deve ser visto, como vsceras, sangue, ossos, etc. Ao mesmo tempo em que busca retratar a poluio desses elementos expostos com a sua mistura com a terra, com a lama, nos depsitos de desova ou locais onde aconteceram tais acidentes, bem como na exposio do corpo morto em degradao a passantes quaisquer, homens, mulheres, velhos, jovens, crianas e animais de qualquer espcie. O corpo morto retratado, assim, se reveste de significados precisos de transgresso no interior de uma tica de mercado, o que faz ao mesmo tempo uma referenciao subliminar a condio social do retratado e as formas de apreenso social desta condio, ou seja, perigosa, desviante, violenta, e coloca o sofrimento social enquanto sensao e objeto de consumo. Como pode ser visto na fotografia de Hlia Scheppa, publicada na Folha de Pernambuco de 30 de junho de 1999 (Foto 7), ou na fotografia de Expedito Lima, publicada na Folha de Pernambuco de 15 de maio de 2000 (Foto 8). Ambos retratando corpos mortos chacinados e apedrejados, o sangue misturado s impurezas do lugar e, na Foto 7, sujando e poluindo inclusive uma edio do novo testamento evanglico.
28
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Foto 7
Foto 8
O que vulgariza o sofrimento, o torna uma experincia social banal e distanciada, porque enquadrada em uma dramaturgia social especfica, mas que, concomitantemente, coloca fora de proteo todo e qualquer cidado, pela poluio nela representada e os discursos expressos na montagem fotogrfica impressa. As fotos de nmero 4 e 5, trabalham bem estas questes, mas ao mesmo tempo singulariza um interdito sobre o contedo mostrado. Interdito referente ao plano que expe o sexo do indivduo retratado e sua anomalia na morte fotografada: a ereo. O sexo masculino em ereo, visto na sociedade ocidental como potencia e virilidade, parece no se enquadrar em um corpo
29
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
decomposto, vitimado e poludo. Da, talvez, a sua negao e proibio no plano fotogrfico. Proibio visivelmente mostrada no borrar as partes que no devem ser mostradas, no processo de edio, mas que ao mesmo tempo so chamadas a ateno, pelo borro grosseiro intencional e pelas manchetes e reportagem escrita. Contradio aparente entre texto escrito e texto fotogrfico. Aparente porque se ao simples olhar pe interdito, recoloca este interdito, a virilidade exposta pelo membro ereto, tambm com o um sinal de desvio, e como tal, passvel de interpretao enquanto anedota, que de novo vulgariza o corpo morto retratado e o repe em seu lugar social de excluso e criando uma imagem sensacionalista e parcial da criminalidade e da pobreza (BARATTA, 1992). Ambigidade e ambivalncia que induzem o observador a distanciar-se do sofrimento evocado pela fotografia, vendo ou lendo a foto atravs dos elementos morais nela representados ou realados ou, ainda, destacados pelo borro, pelos smbolos presentes que a compem, pelo texto jornalstico que inevitavelmente ela segue ou a acompanha. Ao assumir o sofrimento distncia, confere legitimidade aos discursos que o acompanha, banalizando-o, vendo-o atravs da lente da inevitabilidade. A morte, a violncia e o sofrimento social tornam-se uma qualidade caracterstica de um fato comum, ao mesmo tempo universal e particular, e que precisa ser evitado ou ser encarado como uma advertncia pessoal, ou controlado pelos aparatos disciplinares ou pelos poderes competentes da sociedade.
Concluso
As pessoas tendem a conferir legitimidade a qualquer coisa que seja, ou parea inevitvel, no importa quo dolorosa (BARRINGTON MOORE , 1987, p. 622). Caso contrrio, a dor poderia ser insuportvel. A inevitabilidade parece estar representada, nas fotografias de sofrimento e morte analisadas, pelas idias de ordem e segurana que de forma ameaadora e subliminar, por trs, as legitimam. A inevitabilidade esta presente tambm atravs da banalizao da morte, como explorao sensacionalista ou no, que tomou conta da mdia ocidental a partir da segunda guerra mundial, e vem se acelerando at os dias de hoje.
30
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A morte e o sofrimento social publicadas, enquanto idia de ordem e segurana, parece tornar-se apenas uma espcie particular de um fenmeno geral, que tem e deve ser enfrentado como ameaa pessoal ou pelo poder ou instncias competentes. As formas interditas ou os intercmbios poluidores presentes no registro fotogrfico e a reao sobre eles, deste modo, tem muito a ver com a moral. Para Mary Douglas (1976, p. 160), muito difcil definir as situaes morais, pois elas so normalmente obscuras e contraditrias, mas do que bem definidas. O que pode servir para diferentes discursos e apropriaes, e formas subliminares de manipulao e seduo para uma apreenso abstrata de fenmenos presentes no imaginrio social e experienciado por um individuo ou grupo social qualquer. Segundo Mary Douglas (1976, p. 160), ainda, da natureza da regra moral, e dos interditos nela existentes, "ser geral e a sua aplicao a um contexto particular deve ser incerta". As regras de poluio, em contraste com as regras morais, so inequvocas. Trabalhado na fronteira, isto , na abrangncia dos cdigos morais e na especificidade dos cdigos de interditos e poluio, dentro de uma idia de experincia abstrata, o objeto fotogrfico retrata situaes de sofrimento e morte na ambivalncia resultante da abrangncia e especificidade e na ambigidade das regras morais e expresses poluidoras e interditas. Torna-se, assim, subproduto de uma ao legal ou legtima exercida institucionalmente, ou, no privado, em ameaa concreta ou potencial, subproduto, dos medos gerais conformadores dos indivduos sociais. Pode, tornarse, tambm, em instncia de conformao e conforto sentimental e elemento de memria, dentro do privado, ou instncia de ordem e segurana no coletivo que o expressa e de onde se configuram as apropriaes discursivas sobre o fato fotogrfico em si como objetificao do real. A exposio dos corpos mortos e dos corpos chacinados, ou vitimados pela fome, pela dor e sofrimento enquanto banalizao, amplia ao olhar que observa cotidianidade e ao comum da cena. O que refora a indiferena, que no mximo exclama a morbidez representada, a inevitabilidade da violncia nela contida, ou o interesse de chocar presente.
31
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A dor e o sofrimento, assim, so como que estigmatizados e negado. So retirados de cena pela amplitude das generalizaes que legitimam a morte pblica e sua inevitabilidade, e transformados em experincia abstrata e mercadoria de largo consumo. A fotografia de sofrimento, excluso e morte ao fornecer uma coleo de objetos parciais, favorece um certo fetichismo (BARTHES, 1984, p. 51). Um aumento da subservincia que provoca uma espcie de perverso. Perverso que consiste, em nome de negar a violncia incorporada morte e ao sofrimento pblicos, legitimar a violncia em si mesma, pela descaracterizao da imagem atravs das convenes que reforam a inevitabilidade do ato registrado nas fotografias. possvel reconhecer a morte e o sofrimento social presentes no enquadramento fotogrfico, mas, o que se experimenta em relao a essas fotos tem a ver, ainda seguindo Barthes (1984:45), com uma espcie de adestramento. Tem a ver com o cultural que formou e do qual necessariamente participa o observador individual ou coletivo, dando significado s aes, s figuras, s cenas que as fotos revelam. Tem a ver, tambm, com uma espcie de recalcamento: restos perdidos, parcelas inacessveis ao olhar pelo fora fotogrfico, que assombram a imagem pela parcela invisvel nela contida, catalogada como morbidez, como inevitvel, ou tratada com indiferena. Como se a dor e o sofrimento que das fotos prenunciam fossem de-significadas, dando lugar a uma indiferenciao mxima em que tudo, em que todas as imagens se equivalem (RAMOS, 1994, p. 48). Espcie de rito de passagem traumtica que interroga a linguagem, bloqueia a significao e refora a noo de inevitabilidade. Noo que implica a concepo de um universo regido, ao menos em parte, por foras no suscetveis vontade e a ao dos indivduos (BARRINGTON MOORE, 1987, p. 662), impedindo ou sufocando a indignao moral. Que erige ou parece erigir movimentos de autoiluso que reforam, ou tentem a reforar, a perigosa capacidade humana de acostumar-se s coisas, ou que tende a sufocar os impulsos do fazer alguma coisa face
32
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
violncia que das fotos emanam, endurecendo o olhar para enfrentar a tragdia da vida.
Bibliografia
RIES, Philippe. (1977). Histria da morte no Ocidente. Rio de janeiro, Francisco Alves.
BARATTA, Alessandro. (1992). Mdia e violncia urbana. Rio de Janeiro, Faperj.
BARRINGTON MOORE Jr. (1987). Injustia: as bases sociais da obedincia e da revolta. So Paulo, Brasiliense.
BARTHES, Roland. (1984). A cmara clara. Nota sobre a fotografia. 4. Edio, Rio de Janeiro, Francisco Alves.
BOLTANSKI, Luc. (1993). La Souffrance a Distance. Paris, Metailie. BOURDIEU, Pierre, (0rg.). (1967). Um art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. 3. Edio. Paris, Minuit.
DOUGLAS, Mary. (1976). Pureza e Perigo. So Paulo, Perspectiva.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. 2 vols., Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990 e 1993.
KLEINMAN, Arthur & KLEINMAN, Joan. (1997). "The appeal of experience; the dismay of images: Cultural appropriations of Suffering in our times". In, Social Suffering (edited by Arthur Kleinman, Veena Das & Margaret Look). Berkeley, University of California Press, pp. 1 a 24.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (1998). "Fotografia e a questo da indiferena". In, Imagens & Cincias Sociais. (MGP Koury, 0rg.), Joo Pessoa, Editora Universitria, pp. 67 a 86.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (1998). "Fotografia, sentimento e morte no Brasil". In, Imagens & Cincias Sociais. (MGP Koury, 0rg.), Joo Pessoa, Editora Universitria, pp. 49 a 66.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (2001). "Voc fotografa os seus mortos?". In, Imagem e Memria. Ensaios em Antropologia Visual. (MGP Koury, 0rg.), Rio de Janeiro, Garamond, pp. 51 A 94.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (2001). Ser Discreto. Um estudo
33
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sobre o Brasil urbano atual sob a tica do luto. Relatrio Final de Pesquisa. Joo Pessoa, GREM/DCS/UFPB.
MOREIRA LEITE, Mirian L. (1993). Retratos de famlia.Leitura de fotografias histricas. So Paulo, Edusp.
RAMOS, Ferno Pessoa. (1994). "Imagem sensacionalismo". Imagens, n. 2, pp. 18 a 27.
traumtica
RUBY, Jay. (1995). Secure the shadow. Death and photography in America. Cambridge. The MIT Press.
RUBY, Jay. (2001). "Retratando os mortos". In, Imagem e Memria. Ensaios em Antropologia Visual. (MGP Koury, 0rg.), Rio de Janeiro, Garamond, pp. 95 a 111.
TURNER, Victor. (1990). L phnomne rituel. Structure et contrestructure. Paris, PUF.
***
Abstract: This essay discuss the relationship between the photographic act and the photography in social interdict process. Photographies that possess death and social suffering as subject, called here as traumatic photographies, are analyzed in several forms of social appropriation, since private family albums, photojournalism and propaganda, to discuss the discursive forms and its social, ethic and moral limits in the western contemporaneity Keywords: social interdict; traumatic photographies; social suffering.
34
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ECKERT, Cornelia. Cultura do medo e cotidiano dos idosos porto-alegrenses. RBSE, v.2, n.4, pp.35-69, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
Cultura do medo e cotidiano dos idosos portoalegrenses.[1]
Cornelia Eckert
Resumo: O artigo trata das experincias narradas de idosos de camadas mdias na cidade de Porto Alegre a partir de um estudo etnogrfico desenvolvido de 1997 a 2000. Referem-se a questo da violncia urbana e da cultura do medo que lhes infere transformaes estticas no seu ethos e estratgias cotidianas nos seus estilos de vida para fazer face a um sentimento de vulnerabilidade e insegurana dimensionadas nas experincias singulares dos idosos entrevistados. Palavras-chaves: Memria coletiva, cidade, medos urbanos, idosos, narrativas, cotidiano, antropologia
Sujeitos urbanos
Dona Crista vive em um bairro de classe mdia de Porto Alegre, onde reside com familiares em uma casa de alvenaria com ptio. Apesar de ser um bairro considerado pelos moradores como "de gente de bem", seu ptio e as janelas da sua casa esto totalmente gradeadas. Quando a conheci em 1997, tinha 92 anos e seu parentesco com um aluno da equipe de pesquisa criou a situao de confiana necessria para um convvio etnogrfico importante de 1997 a 2000, perodo deste exerccio antropolgico[2] sobre o viver de idosos de classe mdia na cidade de Porto Alegre. Na ocasio de uma entrevista, suas palavras carregadas de devoo catlica pela proteo divina aos seus filhos e netos frente aos perigos e violncia na cidade nos desvendou um complexo cotidiano de medos e receios do viver urbano. Outros idosos nos foram apresentados, alguns pertencentes a uma rede de vizinhana em edifcio de classe mdia no centro de Porto Alegre, contatados a partir de redes de parentesco e vizinhana de alunos universitrios de antropologia na UFRGS. Dona Eullia com 67 anos em 1998 reside neste prdio, sendo moradora do centro de Porto Alegre, na ocasio, h 54
35
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
anos. Vive em um apartamento amplo com o marido, Seu Mauro, 73 anos, aposentado do exrcito e uma filha e uma neta. J Dona Nora, viva de 70 anos, reside sozinha em apartamento vizinho ao casal Eullia e Mauro, rua dos Andradas, cognominado de "calado do centro". Seu Ronaldo, 71 anos e sua esposa Dona Joyce, 60 anos residem na rua Duque de Caxias, territrio caracterizado como "nobre e de elite" com edifcios de classe mdia e alta, no longe do Palcio do Governo do Estado. Seu Jorge funcionrio aposentado, 70 anos de idade. proprietrio de um apartamento antigo em bairro residencial nas proximidades de uma das principais artrias comerciais e de lazer da cidade de Porto Alegre, a Avenida Osvaldo Aranha. Residem com ele, alm de sua esposa, um filho e um neto (tiveram cinco filhos e 5 netos). Sua esposa, Dona Prola, tem 59 anos (em 1997) e participou igualmente dos momentos de entrevistas. Dona Raquel, 60 anos, aposentada e divorciada, mora em apartamento de classe mdia em rua igualmente caracterizada por edifcios pertencentes a " elite " prximo a Praa da Matriz contornada pela Catedral Catlica, pelo Teatro So Pedro e os j citados prdios administrativos e executivos da poltica estatal. Vrios aspectos podem ser triados como comuns a estas pessoas (o fato de morarem em Porto Alegre, de pertencerem a segmentos mdios, o capital cultural, etc), mas sobretudo o fato de apontarem para experincias geracionais de um passado em Porto Alegre com estilos de viver diferenciados das atuais condies cotidianas urbanas que nos fez conceb-los como autores singulares de narrativas que problematizam o carter temporal de suas experincias de vida. Nesta ambincia, buscamos tratar do cotidiano de pessoas idosas, velhos habitantes de Porto Alegre, a partir da suas reconstrues narrativas das experincias temporais que delineiam trajetrias de vida. Referimo-nos a uma populao de segmentos mdios que de alguma forma experienciou as transformaes urbanas da localidade e compartilha de interpretaes scio-histricas e polticas a partir de inmeras modalidades de
36
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
simbolizao: meios de comunicao de massa, formas de sociabilidade formais e informais, etc. Neste sentido os velhos habitantes de Porto Alegre entrevistados se situam como narradores da memria coletiva da cidade que estilizam o viver cotidiano no sentido dado por Georg Simmel (esttica) e estetizam a existncia, nos termos de Michel Foucault (tica). A partir de suas vozes cognitivas refletem as rupturas e descontinuidades no tempo, sentidos de mudanas que tematizam as transformaes como vividas, constitutivas de sistemas de representaes e de valores em vigor em todas as aes e prticas cotidianas. Esta polifonia de relatos figura a polissemia da vida social concebidas no senso de uma tragdia (Simmel, 1934) pelos desencaixes[3] de sentidos que o medo, a insegurana, e o sentimento de vulnerabilidade vo alimentando nos seus mapas mentais desenhados por relaes afetivas de pertencimento a territorialidades, na sua rua, no seu bairro, em suas redes sociais formais e informais, ameaando ao esquecimento as apropriaes dramticas que puderam realizar na vida urbana em seus rituais cotidianos.
Cidade e drama cotidiano
O cotidiano em uma cidade como a de Porto Alegre, um lugar de mudanas sobre um tempo-espao de continuidades tanto quanto um lugar de continuidade sobre transformaes na vida da cidade e de seus habitantes que no se limita a um tempo pontual ou a uma experincia precisa. Trata-se de uma cidade que como tantas outras ritmada pela modernidade, compartilhando de uma imagem internacional de "cidade democrtica", inserida na civilidade apregoada pelos ideais da Razo; o progresso por um lado, e os ideais do individualismo por outro[4]. Com uma historia oficial de mais de 230 anos, capital do Estado do Rio Grande do Sul, situando-se no extremo sul do Brasil, banhada pelo lago Guaba. Com uma populao em torno de 1.300.000 h, a expectativa de vida de 71,4 anos[5]. A populao idosa , portanto numericamente expressiva nesta cidade. Mas trata-se de uma cidade que conhece igualmente uma grande ilegalidade social apresentando uma taxa de criminalidade no negligencivel convergindo ao que Mary Douglas
37
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
define por "sociedade de risco" reveladora de uma nova cultura individualista, que se apia sobre os moldes de determinaes abstratas e universais (Douglas, 1992). A violncia urbana apontada pelas instituies oficiais de segurana como tendo um ndice crtico[6]. Uma condio atual que desafia os atuais estudos sobre a vida cotidiana de populaes urbanas ao tratarem das relaes objetivas de probabilidade que sempre caracterizaram a construo das atividades rotineiras ao desvendamento das catstrofes da vida cotidiana considerando os riscos necessrios para a continuidade da vida (Heller, 1992:3031) frente aos riscos assumidos dia-a-dia diante de um quadro estatstico de violncia mensurvel. Isto implica considerar-se o sentimento de insegurana pela imprevisibilidade das aes na cotidianidade que se colocam como um problema com relevncia que obriga os sujeitos a traarem novos procedimentos na vida urbana, inserindo os projetos de agir, numa dramtica social, especialmente entre os idosos, vtimas em potencial nos espaos pblicos dos "descuidistas", dos "trombadinhas", para citar algumas formas de agresso de roubo e assalto, imagem bastante recorrente na mdia. Os idosos, portanto, aparecem como uma populao bastante propensa a desenvolverem um sentimento de receio e ressentimento face ao desamparo e impotncia de ao. Frente a um aumento desmesurado da violncia nas grandes cidades, a questo da sobrevivncia assumiu aspectos especialmente dramticos, como sugere Gilberto Velho: "Pode-se especular que essa seria uma varivel importante para compreender uma espcie de individualismo agonstico que se tornou cada vez mais freqente nas camadas mdias brasileiras". Os relatos de como vivem e pensam os velhos habitantes neste contexto urbano marcado pela imagem da violncia, permitem refletir sobre as experincias de envelhecer neste contexto prximo obsesso pela segurana e a generalizao do sentimento de medo a todos os lugares no social. Portanto, pensar a condio de viver na cidade hoje, infere sobre as formas culturais e simblicas dinamizadas igualmente por sentimentos de medo, insegurana, ansiedade e solido, mapeando a cidade como um grande depositrio de vtimas de um contexto
38
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
urbano ameaado pela desordem e mecanismos de desencaixe (Giddens, 1991:29-37). O sentimento de confiana depositado em experincias no passado, em suas narrativas, no encontram eco nas eventuais providncias poltico-administrativas estatais, na maioria das vezes insuficientes. As narrativas das experincias dos sujeitos urbanos dizem aqui respeito configurao de uma cultura do medo na cidade a partir do trabalho da memria de velhos habitantes, evocando no presente suas experincias que processam as feies dos medos assimilveis aos "dramas culturais" (Turner, 1974), na tentativa de exprimir, o sentido "dizvel" da existncia e da vida, tecendo na memria narrativa um sentido cultural que ultrapasse o carter episdico de experincias vividas.
Vozes na cidade
"Aqui criei razes" De uma infncia interiorana, o casamento e a carreira do marido que so citados como sendo as motivaes para Dona Crista ter-se mudado para Porto Alegre na dcada de 1930. "(...) Naquele tempo era uma vida bem simples, n, bem pacata, mas num ponto era melhor, no havia violncia como h hoje, n. As crianas saam, brincavam de noite na rua, a gente sentava na calada. At tarde da noite. E hoje em dia (...) Vai sentar na calada hoje? (...) Deus o livre (...) Vai ficar com a casa aberta sentada na rua? T pedindo pra ser assaltada n (...) Naquele tempo no, a gente sentava, tomando chimarro, as vizinhas vinham tudo sentava na frente. Nossa! Quantas horas a gente ficava at a meia noite sentado na frente conversando. Mas capaz que d pra fazer isso hoje! Mas nunca, n. (...) As crianas brincavam na rua de noite, saam, vinham pra casa. E a gente no tinha preocupao, no havia mesmo, isso uma pura verdade. Pelo menos onde eu morei. No tinha essa bandidagem, no tinha mesmo. A gente conhecia as vizinhana, crianada brincavam, de noite saam, brincavam na rua vinham (...) Hoje no! Os netos saem e a gente fica preocupada, n. Botou o p pra fora... no sabe se volta. Ai que coisa triste! Eu, cada um que sai, eu fao uma carga de orao. De verdade! Cada um que sai eu rezo. Pra que volte sem problemas n. Porque eu acho que tem que ser assim mesmo. S Deus pra nos salvar. Eu no tenho esperana (...) Cada vez aumenta mais essas coisa ruim n (...) Porque era um tempo muito bom, era um tempo com pouco progresso, mas era muito bom por isso. Muita paz (...) e segurana, a gente no tinha medo das coisas, n. Ladro era (...) s de noite arrombando janela das casas e assim mesmo era muito pouco, no tinha assim como tem hoje. Hoje roubam, assaltam de dia. No, naquele tempo arrombavam uma (...) "Sabe vizinha,
39
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
arrombaram a loja do seu fulano, entraram pela janela!" Ah, mas aquilo era uma coisa, um acontecimento! E era uma coisa que acontecia assim l uma vez que outra, n! s vezes faziam isso. Faziam buraco na parede pra entrar n. Mas hoje no precisa, entram porta dentro que (risos) que a gente estranha n. Puxa vida, e como. V hoje que t tudo povoado. Esses (...) esses condomnio que eles fizeram a, essas coisas tudo isso no tinha n. Porto Alegre cada vez cresce mais, fica mais bonita n. No tinha nada disso (....) Hoje t tudo uma beleza. Vai, vai melhorando, cada dia melhor, e o progresso avanou muito ligeiro. Pra esse lado aqui, no sei dos outros porque eu no vou pra l. Mas pra c, barbaridade, como desenvolveu. Porque aqui at Alvorada cidade hoje, asfaltado e tudo que no era. Era uma poeiragem triste na estrada. Hoje tudo t que uma maravilha (...) Sempre gostei daqui." "Naquela poca (...) ningum trancava a porta".
Em tom de lamento Dona Eullia explica que "havia uma plaquinha na porta com o nome do proprietrio, todo mundo passava e respeitava e antes de entrar as pessoas batiam na porta, batiam palmas ou chamavam pelo nome do proprietrio.
"Naquela poca no podia sair sozinha, nem eu, nem minha me, a gente s saa acompanhada, porque era assim mesmo. Perto do nosso bairro tinha uma zona mal falada... mas naquela poca, olha, nunca se ouviu falar em assim assaltar e atacar, me lembro quando eu fui pro Instituto de Educao, eu j estava com 12 anos, de vez em quando aparecia no instituto um cara, como que se chamava? Um exibicionista, e ficava se mostrando s vezes pras gurias, mas aquilo era a coisa assim mais chocante que acontecia. T te dizendo, a gente saa de casa as portas eram fechadas assim s com o trinco. No entravam, no roubavam, todo mundo se conhecia, porque at a misria era diferente, n? Naquele tempo a diferena era de dinheiro mesmo, de gente pobre, mas eram todos pessoas assim, a gente brincava com os colegas pobres. Hoje em dia a gente tem medo, se tranca toda. Acho que antes a gente no tinha medo de nada. Hoje, se a gente vai com uma criana pra praa a gente fica at com medo que roubem, n? Tem que estar sempre de olho." "Todo mundo morava em casas, a comearam as dificuldades, comearam a roubar, a assaltar as casas (...) Ento j comeavam as pessoas a se fechar em apartamento. Ningum roubava pobre. J hoje em dia eles roubam at dos miserveis, entram nas casas do miserveis e levam tudo (...) Antes no tinha porque tu ter medo, se um guri mexia contigo e tu reclamava! Ah! j levantava dois, trs homens para te defender. Hoje no, no tem ningum olhando pela gente nem nada."
40
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Seu marido, Seu Mauro, que continua a reflexo:
"Da dcada de 70 para c. Bom, at 60 ainda se tinha a Rua da Praia ainda se conservava um pouco, vamos dizer uns 70%, 60%, do que era antes." (Narra longamente passeios com seus pais, o clima familiar dos passeios, os footings, os cafs da poca, chocolaterias, etc. poca em que Porto Alegre contava com 275 mil habitantes e conhecem uma importante urbanizao das zonas centrais e o surgimento de vilas irregulares na periferia.). A maioria era bem-arrumado. O pessoal de fora vinha menos ao Centro. Mas a gente j comeava a notar a diferena, porque uns eram dum jeito e outros eram de outro. O pessoal dessas vilas populares aparecia por a, se sentia a diferena. Hoje o pessoal de fora vem mais ao Centro, essas vilas populares a, vm mais. o perigo hoje. De assalto, de roubo. O pessoal... O desemprego t comeando a crescer, a porcentagem de desempregados. E o pessoal desempregado, com filho, com isso, com aquilo... termina fazendo qualquer negcio. Hoje aqui na frente, a tardinha principalmente seguidamente a gente escuta pega ladro, pega ladro... seguidamente essa Rua da Praia aqui toda. Aqui no centro assaltam muito, roubam muito. mais gurizada assim, 18, 19, 20 e poucos anos que roubam e um passa para o outro e tal. Depois ningum sabem quem foi ou no foi. A polcia s vezes anda, ontem mesmo eu vi a Brigada, pegou meia dzia ali, encostou na parede e tava revistando (...)". "Ah, hoje o individualismo tomou conta da populao. Cada um primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois a minha me (...) e olhe l." "Adorava a casa, mas estava envelhecendo e ficar sozinha naquele casaro... era perigoso" "No que tenha medo de ficar sozinha, mas eu no gosto de ficar sozinha". Dona Nora com expresso de espanto pondera: "no compreendo, tenho amigas que dizem que adoram ficar sozinha, no precisam de ningum, eu sou uma pessoa completamente dependente de algum .... Ento, para mim, o apartamento ficou mais fcil, apesar que sento uma falta enorme da minha casa (...). Mas tudo muda no edifcio, tem zelador, porteiro 24 horas, porteiro eletrnico, facilita muito a vida e tem mais segurana." "Se saio, normalmente a esta hora (20 horas) eu j cheguei. Para no arriscar, sabe .... Agora hoje minha filha passa aqui, me liga, eu ligo, a gente t sempre se vendo." "Ento eu acho Porto Alegre muito perigosa e violenta" "Eu sempre morei nesta rua. T, eu nasci em Passo Fundo e vim pra Porto Alegre com 15 anos. Eu trabalhava no centro mesmo (profisso de jornalista). Naquela poca quase no tinha edifcios (...) Eu tinha um fusquinha que dormia na rua. Eu chegava de viagem e deixava o carro na rua, no tinha problema nenhum e os meus filhos brincavam no meio da rua,
41
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
s se cuidava o bonde (...) Era muito tranqilo (...) s era perigoso andar de noite no Alto do Bronze, perto do presdio (...) era uma parte mais pobre, mas aqui em cima era ponto nobre. Eu cansei de sair assim, domingo a noite, eu tambm trabalhava noite, a gente saa, jantava e ia passear no centro, olhar vitrine, era um baita programa. L pelas 8 da noite eu e minha mulher amos passear, voltava pra casa s 10 horas sem pensar em assalto nem nada, agora est um terror. Eu andava a p at duas da manh e tudo bem, eu tinha dois empregos e nesse da noite eu voltava pra casa a p (...) Olha, eu digo que est perigoso, nunca fui assaltado, s roubado, numa sextafeira tardinha al naquela praa em frente Santa Casa. Ento eu acho Porto Alegre muito perigosa e violenta. J pensei em me mudar para a praia. T todo mundo fazendo isto (...)" (continua a narrar os motivos pelos quais ainda no consolidou este projeto). "De uns 10 anos pra c (...) De noite eu no saio mais, s s vezes, na casa de um filho, mas a agente chega em casa e ilumina bem a entrada do edifcio pra ver se no tem nenhum ladro esperando pra assaltar, e j entraram no nosso apartamento antes. A gente morou um tempo na Nilo, um daqueles edifcios pequenos ali da rua, tem s quatro andares, tem zelador mas no tem portaria permanente, a num dia de manh o cara conseguiu entrar, foi no andar de cima, a moa, empregada, abriu a porta e ele entrou, ele estava armado, a chegou a filha da dona de camisola e ele mandou ela se vestir, era um negro, n? Ele levou jias e levou o dinheiro que tinha em casa. No dia seguinte ns fomos pro parque de exposies de Esteio, quando voltamos pra casa eu botei a chave na porta, e abri com o trinco, virei pra minha mulher e disse pra ela que ela tinha se esquecido de trancar a porta, e ela respondeu que nem bbada iria esquecer, ns notamos que o freezer estava desencostado da parede, e ali era uma entrada de ar e ele entrou por ali. Por sorte a minha mulher tinha fechado chave a porta que leva pros quartos e o cara no conseguiu abrir, ele s levou um anel que tinha cado no cho e amassou (...) eu tinha deixado em cima da geladeira pra lembrar de levar na relojoaria pra consertar. Depois os caras botaram guarda e grade em tudo, ento a cidade assim, nesse edifcio aqui em 30 anos houve um roubo s. Foi quando o zelador foi pra um Grenal e deixou o edifcio, foi embora, entraram e roubaram. O fato de ter um porteiro 24 horas no evita o roubo, mas dificulta. Dona Joyce: O nosso prdio l da Nilo no tinha porteiro 24 horas, ento botamos porta de ferro. Essa porta de ferro aqui foi idia do vizinho. O ladro te espera quando tu chega em casa, quando tu encosta o carro ele quer entrar junto na garagem, quando tu vai abrir a porta do edifcio a p ele est te esperando pra entrar dentro". "Ns gradeamos tudo" Dona Prola: "Eu tinha pena de assustar (refere-se aos netos), mas a entraram aqui em casa (relato do arrombamento) agora eu no tenho mais pena de assustar, tem que avisar. Meus
42
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
meninos quando eram pequenos eu tinha pena de assustar, porque eu acho que a pessoa viver assustada, n, horrvel. Os meus tipos de susto eram outros naquela poca: minha me dizia, 'no come isso ouviu! isso faz mal'... minha me dizia que manga com gua no podia, me metia medo assim n, que hoje no existe mais, hoje o medo dessa violncia." Seu Jorge: "Ns gradeamos tudo aqui agora, j fazia algum tempo que ns pensvamos em coloc-las com medo dos assaltos (...) aqui na frente (...) nossa! No existe mais segurana." Dona Prola: "Uma vez assaltaram nossa filha dentro do carro, saindo de dentro do carro, ela e o namorado. Ento v o perigo que t essa zona aqui hoje? De uns 10 anos para c (...) esta rua meio caminho de trfico (...) essa mudana dessa atualidade n, as drogas modificou completamente (...)". Seu Jorge: "Como eu disse ainda h pouco, sabes que at algum tempo atrs, existia um pouco de esprito comunitrio. Hoje em dia no existe mais esse espirito comunitrio, ns procuramos defender a nossa famlia. Ento a gente procura dar alguma coisa para a comunidade com o exemplo que a gente d aos filhos, os ensinamentos para que ele no venha a perturbar o outro porque eu, sinceramente, na situao que estamos vivendo hoje nesse pas politicamente (...). Ento eu procuro me doar minha famlia. Isso no quer dizer que um vizinho vai cair no cho, numa casca de banana, e eu vou passar, e no fazer nada, no vou menosprezar o vizinho, mas eu no tenho mais condies de freqentar os outros, conversar assim, vamos melhorar isso (desvia para questes do condomnio), colocar uma lmpada aqui. No! eu tenho que ficar dentro de casa, infelizmente, egoisticamente eu falo. E lamentavelmente todo mundo est fazendo a mesma coisa hoje." "No tinha esse problema de temer ser assaltada na rua" "Eu no tinha medo (...) meus pais nunca inculcaram na gente o medo, eu no temia as coisas. Eu sempre fui valente, mais arrojada (...) No que as pessoas no tivessem medo, umas amigas que moravam do outro lado do parque Farroupilha atravessam correndo porque tinham medo. Mas eu no me lembro de coisas temerosas desta poca. Eu trabalhava na periferia e tudo como diretora, diziam que era um lugar de delinqncia, no tinha policiamento, mas no era perigoso (...) enfim, como eu era mais jovem (eu e meu marido ento) no tnhamos medo. No tinha esse problema de temer ser assaltada na rua. At uns anos atrs, no lembro de nunca ter medo de andar na rua." "Eu buscava um caminho (...) tentei o espiritismo e no gostei, no sabia o que queria, queria uma filosofia de vida, e a uma amiga minha me falou do grupo esotrico (...). Eu agora fao parte, ns estudamos textos de filosofia de vida buscando um caminho (...) era tudo que eu queria na vida, um grupo para estudar juntos". (Grupo denominado Tempo Astral ou Grupo Universal, tambm denominado simplesmente de Grupo Esotrico).
43
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Na sua narrativa, Raquel diz que esta opo espiritual de vida lhe ajudou em vrios aspectos, "eu, por exemplo, tinha uma arma em casa". Mas passou a superar o medo e desvencilhou-se da arma.
Dos "gestos" e "estratgias": dialticas da estetizao do cotidiano
Dona Crista
O ponto de vista de Dona Crista revela o paradoxo de viver o tempo vertiginoso da cidade moderna que intensifica os estranhamentos e os distanciamentos entre as pessoas nas esferas pblicas e nas esferas privadas, construindo rupturas e fragmentaes intensas no exerccio da arte de conviver. Trata-se da ambigidade entre os discursos que consolidam uma admirao racionalidade urbana (o progresso econmico como valor ideolgico) e o embaraamento da experincia vivida pelas crises consubstanciais ao sistema e a imagem da catstrofe total dos valores e virtudes sociais. Dona Crista caracteriza hoje um estilo de viver em Porto Alegre a partir do caos de um tempo presente, reportando ao passado, na sua condio de pertencer classe mdia, uma ordem mais slida. A conscincia da desordem vem das sensaes de rupturas inditas e imprevisveis na sua prpria cidade, onde as pessoas empreendem mil maneiras de se protegerem, constroem muros e grades em torno de suas casas e os idosos so recomendados a evitar circular em certos locais, em certos horrios: o deslocamento solitrio. A experincia de envelhecimento , cada vez, mais exilada de dinmicas interativas (o vizinhar, o passeio livre, a caminhada descomprometida), sendo prisioneira do pessimismo sobre os itinerrios dos membros da famlia, restando-lhe a preocupao presentesta da sobrevivncia dos netos que circulam neste contexto urbano hostil, frustrando-lhe o exerccio de projetar um futuro seguro para os seus. Sem dvida, a partir de seu lugar como velha habitante que reflete, acerca do sentido das transformaes urbanas, uma crise que "no existia antes": a violncia na sua proximidade e banalidade, perturbadora de associaes projetivas. como idosa de uma condio de vida "mdia" que avalia a desfigurao de ordens temporais almejadas como contnuas.
44
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Entretanto, na condio de filhos de Kronos que somos, o prprio envelhecimento lhe confronta dialtica temporal do viver como transformador da imagem de si frente vulnerabilidade de novas rupturas na continuidade, at a prpria morte. A experincia de envelhecer tambm o processo de constituio da experincia temporal dos sujeitos, percurso de lembranas e esquecimentos, de linguagem e silncios, de escolhas e desistncias, mas que os requisitam ao olhar avaliador e ao gesto recriador, em cada palavra do trabalho da memria que o trabalho de tomada de conscincia. A imagem da cidade evocada no presente tambm o contexto que dilacera suas experincias de envelhecer e fragmenta seu reconhecimento como sujeitos da histria da cidade que lhes aparece cada vez mais desencantada pela violncia progressiva. Neutralizados como agentes de transformaes, os velhos habitantes percebem-se ameaados pelo esquecimento na cidade divulgada na mdia, que lhes sujeita indulgncia compreensiva na simplificao demaggica do estado de arte da criminalidade e da vitimizao noticiados.
Dona Eullia, Seu Mauro
Na oportunidade de uma entrevista, Dona Eullia e Seu Mauro sugerem uma transformao importante frente ao impacto da insegurana no cotidiano das pessoas que passaram a recorrer aos apartamentos "para maior comodidade e segurana", ampliando as razes prticas destes smbolos de urbanizao e massificao populacional das cidades verticais, idealizados por Le Corbusier como condio da galgar a liberdade individual (Jacobs, 2000: 20). igualmente significativa nas narrativas, a identificao de um certo "momento", a partir do qual o sentimento de insegurana passa a ditar novas atitudes preventivas, como "chavear, trancar as portas", um indicador, dir Roch (1993:135), da presena do sentimento de medo pessoal ou preocupao por ordens comportamentais e verbais, individuais ou coletivas. Desta forma, a breve harmonia da interpretao de situar uma superao de recalcamentos passados que podem ser extensivos aos conflitos interiores vividos num passado recente (o medo autoridade, a vergonha do
45
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
olhar moral do outro), encompassada por uma outra ordem de embaraos (no necessariamente intimista), que acompanha o sentimento de que, para manter sua posio na rede humana, deve-se deixar novamente "fenecer sua verdadeira natureza" (Elias, 1994: 33). Seu Mauro busca problematizar no tempo o aumento do sentimento de sua vulnerabilidade vitimizao ao justificar seu receio em percorrer certos lugares "para evitar a violncia", contrastando com seus hbitos de passeios no centro da cidade no passado. Nas dcadas de 1950 e 60, o footing na principal rua do centro da cidade "Rua da Praia", era hbito recorrente de um grupo emergente no processo de modernizao da cidade: a classe mdia. O adensamento da cidade e o fenmeno urbano que se complexifica (diviso social do trabalho, distines sociais, xodo, desemprego) so causas, para Seu Mauro, de um estranhamento concentrao popular. A imagem do "outro" na Rua da Praia no passado contrastada ao presente: A prudncia passou a ser uma regra do cotidiano. luz do dia arriscam o convvio em lugares pblicos, j ao escurecer evitam sair, e a entrada de qualquer desconhecido controlada por um servio de portaria com vigilncia as 24 horas, que comunica por interfone interno a presena de um visitante. Uma srie de prticas desempenhada para modular o cotidiano da neta, num quadro de forte segurana: "Eu levo e busco de carro" sentencia a av. Para seu Mauro, o temor que sente na rua motivo para uma certa recluso, sua e da sua famlia, no mbito do apartamento. Hoje a cidade o grande contexto pblico que prima pela insegurana e desordem. Ao referir a hegemonia de condomnios fechados para classe mdia, acrescenta. Avalia como "enclausuramento forado" a condio de vida nos tempos atuais provocando o enfraquecimento das relaes de vizinhana que implicam num decrscimo das relaes de amizade e solidariedade. Mas relativiza seu pessimismo relatando paradoxalmente sua participao em redes de sociabilidade ao situar seu pertencimento ao grupo de aposentados no clube Militar com encontros peridicos onde se sente "entre amigos", ao "grupo de terceira idade" da parquia catlica local que
46
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
frequenta e ao relatar manter relaes de "boa vizinhana". Nesta mesma ocasio, apresenta-nos para sua vizinha, Dona Nora, que aceita igualmente nos receber para uma entrevista.
Dona Nora
Dona Nora j na primeira entrevista comentava que ela havia morado por 30 anos em uma casa com sua famlia, mas face a viuvez e a solido a opo por residir em apartamento lhe parecera mais conveniente. Em seu relato dimensiona a problemtica da relao do idoso com sua famlia, caracterstica nos segmentos mdios, somada s estratgias e tticas a serem apreendidas pelos idosos que optam por residir em suas prprias casas. Explica que nenhum filho quis permanecer na residncia da famlia aps a idade adulta; o casamento e a independncia econmica permitiram a construo de novos projetos familiares. Ela justifica que esse era um hbito do passado e hoje "a poca outra". Nora critica filhos que jogam seus idosos em asilos, mas tambm no quis "a sada" da casa geritrica, "pelo menos enquanto eu puder ter autonomia, n!" Uma vez que nos restringimos a entrevistar pessoas residentes em seus prprios lares, entre os entrevistados o recurso do asilo ou da casa geritrica bastante estigmatizado. Dona Nora expe uma srie de estratgias tomadas para poder conviver sozinha, com autonomia, "sem atrapalhar" os filhos, mantendo os vnculos familiares e trocas de favor, como a tarefa de cuidar dos netos, situao que desempenhava na hora mesmo da entrevista. Explica que quando sai por um tempo indeterminado, telefona para os filhos e avisa sobre seu deslocamento e itinerrio. Justifica que pequenos cuidados so importantes para tranqilizar os familiares sobre sua segurana. Em decorrncia, Dona Nora explica que prefere manter uma vida independente e autnoma, pelo menos enquanto a doena e a perda da conscincia de si mesma no lhe imponham a morte social[7], e por isto havia recusado de residir com algum de seus filhos, como explica: "cada um leva sua vida (...) todos moram em apartamentos e no gosto de atrapalhar" sentencia explicando que a vida familiar no passado "era muito diferente", mas que os filhos, mesmo distncia, esto
47
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sempre "vigilantes" pois considera o centro uma zona perigosa para um idoso deslocar-se sozinho.
Seu Ronaldo, Dona Joyce
Uma certa idealizao da vida pblica no passado corresponde tambm ao exerccio reflexivo testemunhado por Seu Ronaldo, na ocasio da entrevista em sua residncia. Em outra entrevista, acompanhado de sua esposa Dona Joyce, Seu Ronaldo nos faz visitar o edifcio e explica que todo ele gradeado, mesmo tendo servio de portaria. Informa que; mais recentemente o condomnio contratou o servio permanente de segurana de rua, facilmente identificvel nas guaritas que proliferam nas ruas da cidade. Resenha em palavras um temor muito presente, o atentado ao patrimnio por latrocnio, roubo ou furto. Dona Joyce identifica as seqelas da exploso do crime organizado em Porto Alegre, que configura a dcada de 1980, e a disseminao do crime pelos bairros, que se acelera na dcada de 1990 e que deixa a populao em pnico frente a criminosos e/ou quadrilhas cada vez mais armadas em prticas audaciosas como assalto a carros e edifcios que, embora seguros, tm no seqestro de algum morador ou funcionrio ameaados morte e leses corporais, a garantia do sucesso da transgresso.
Seu Jorge, Dona Prola
Seu Jorge, poeta, apaixonado por sua cidade, por seu bairro. Em entrevista em sua residncia, relata longamente seus hbitos no passado, marcados pelo carter bomio de freqncia a bares e ao Restaurante Maria, prximo ao mercado pblico, ponto de encontro de poetas amadores. elaborando um jogo contrastivo com as recordaes de um "passado seguro" com "esprito comunitrio" que seu Jorge sentencia ser "a segurana, o maior problema na atualidade, nesta cidade", desabafo acompanhado por sua esposa: "o maior problema". justamente sua esposa, Dona Prola, que situa a presena do valor medo no projeto de preparar o neto "para o futuro". Socializar seu neto com a ameaa iminente da violncia urbana retira do fenmeno da violncia sua anormalidade para situ-la como estruturante da sociedade. Seu depoimento associa um sentimento de perda de ideais sociais que se fragmentam na poeira do tempo com o crescimento da violncia urbana.
48
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
H de qualquer forma uma desconstruo de rotina objetivada e o esforo de construo de enfrentamentos s circunstncias, tticas cotidianas de resistncia, diria De Certeau (1994), na busca de sentido numa histria de mudanas contingentes. Neste sentido Seu Jorge assinala terem aderido ao signo mais presente dos traos de hostilidade e desconfiana em relao ao "outro" e requisito bsico de proteo, a grade de ferro que muda a esttica de seu apartamento trreo e de seu edifcio ajardinado.
Dona Raquel
Dona Raquel, neste sentido, relata uma experincia significativa. Se auto-avalia como tendo sido "uma mulher decidida". Foi a nica filha mulher de uma famlia de imigrantes do interior gacho de predomnio tnico italiano, a enfrentar uma vida de estudos na capital. Raquel casou-se e teve trs filhos (uma menina e dois meninos, hoje tem um neto). Uma situao de vitimizao vivida por seu filho, segundo ela, foi o incio de alguns acontecimentos desagregadores de sua histria familiar. Seu filho fora perseguido e assaltado por um "grupo de delinqentes" a gangue da Matriz, como foi denominado um grupo de jovens assaltantes que atacavam na regio da Praa Matriz, no centro da cidade, que chegou a ser noticirio dos meios de comunicao: "Ele ficou muito fragilizado", explica, e foi o incio de uma histria de depresso que o levou morte. Seu relato segue situando uma segunda ruptura drstica de uma rotina familiar, a perseguio poltica, a priso sua e do marido. Esta experincia de trauma somada a problemas de sade e um divrcio difcil levaram-na a prtica da yoga como uma "busca de equilbrio". A prtica da yoga foi o incio de um percurso em grupos de prticas espirituais em que refez redes de relaes e onde aponta ter encontrado a "paz interior".
Insegurana e cultura do medo
49
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Hoje, caminhar, passar, viver, pertencer, ocupar so verbos condicionados pela imagem que as pessoas interiorizam no mbito de uma sociedade de risco e representam sobre os espaos urbanos de maior ou menor segurana. Paliativos de toda ordem so tomados em conta, cuidado com os horrios sobretudo noturnos: segura-se o carro, gradeia-se a casa, vigia-se o bairro, estetizando a cidade com os medos e receios do viver urbano. De fato a busca por maior segurana uma empreitada sem fim. As pessoas so roubadas, assaltadas, agredidas, etc. Esses acabam sendo os maiores temores e as indagaes reflexivas cotidiana de segmentos mdios urbanos destitudos da liberdade celebrada na modernizao. Vtimas ou no de perigos reais (incidentes/acidentes), adotam estratgias de proteo e criticam a insustentabilidade da ordem cotidiana por autoridades civis. Estudos e reportagens constatam que no raro quando se questiona sobre as causas da violncia urbana, no imaginrio da populao urbana a tendncia conceber o "inimigo" na figura genrica do "bandido pobre", o "outro", que ameaaria uma irreversibilidade na crise urbana. O deslize para um sistema de acusaes perigo ideolgico iminente. Neste sentido a populao do segmento mdio brasileiro, que sempre buscou proteger seu patrimnio num contexto fragilizado pelas desigualdades sociais, que hoje mais se depara com o aumento da violncia urbana como um "neo-conflito" (Ricoeur 1988: 149), uma nova determinao social pelo risco iminente em sua rotina da ameaa sobrevivncia fsica pela criminalidade desmesurada em que transparece a globalizao do crime organizado. Cada vez mais recolhidos em seus nichos gradeados conclamam por macrossolues enquanto mergulham no sentimento de impotncia, sem sair da passividade. A esttica do medo a constatao material mais figurativa na transformao da cidade, impulsionando seus habitantes, sobretudo os aposentados, a buscarem maior segurana. Justamente so os segmentos mdios, com um certo poder aquisitivo, que iro recorrer ao gradeamento de suas casas, edifcios e janelas e
50
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
instalao de alarmes em suas casas e carros. Os edifcios tm porteiros eletrnicos e as ruas se povoam de exrcitos pessoais para vigilncia. Seus hbitos e rotinas so igualmente estilizados pela esttica do medo. Em um estudo dedicado sociedade francesa, Giles-Sims (1984), ao analisar a preocupao com a vitimizao criminal entre pessoas da terceira idade, observou que o aumento desta dependia da percepo que as pessoas tinham de sua possvel vitimizao. Isto , quanto mais uma pessoa acredita em sua provvel vitimizao, maior a possibilidade de ela ficar preocupada com o assunto. Corroborando estes dados, Beristain (1992) refere a vitimizao subjetiva - as vtimas do temor. Para ele, este temor pode ser produzido desde uma realidade objetiva at um menor ou maior grau de subjetividade (Rovinski, 1993:52). Impactos do viver urbano que podemos j encontrar nas reflexes de Georg Simmel em 1902 sobre o psiquismo do citadino, ao inferir cidade moderna, o lugar da atitude blas (Simmel in Grafmeyer et Joseph, 1984: 61-77). Mas no se trata de conferir ao medo e insegurana apenas o estatuto de mais um estmulo ao psiquismo a que so submetidos os indivduos nas grandes metrpoles e "fazem dele um ser com elevada conscincia de sua subjetividade e lhe confere, ao mesmo tempo, uma atitude de autopreservao frente aos estmulos recebidos" (Lins de Barros, 1987:17). Toma-se as feies dos medos como estratgias para tematizar os exerccios de re-ordenao do tempo vivido no contexto urbano atravs dos jogos da memria dos entrevistados, sem perder de vista que "o medo um fato social que varia segundo os lugares e as situaes" (Roch, 1993: 41). H uma ruptura para os habitantes da liberdade de acessar as diversas redes que consolidam seu universo cognitivo e contextualizam seus atos de socializao e que integram suas biografias. O medo da violncia dilacera as previsibilidades que giram em torno das experincias de vida para dinamizar as aes presentestas e coloca em xeque as projees de trajetrias na vida urbana. Previsibilidades ancoradas em um capital cultural e mapa simblico to importantes na "auto-interpretao coletiva que representa a concepo comum, interna, da comunidade" (Schutz in Wagner 1979:19), ameaadas pela perda de orientao de suas
51
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
antigas noes relativas conduta diria. O medo da violncia urbana se coloca assim como tendo uma relevncia imposta aos citadinos pela fora com que participa do cenrio cognitivo do mundo da vida, contendo portanto uma "relevncia temtica", nos termos de Schutz (in Wagner 1979:23), onde os indivduos frente uma situao problemtica, tem de se preocupar em reconhecer o problema, e a partir destas atividades cognitivas e "interpretacionais" desenvolver estratgias para resolv-lo. Desta forma o medo da violncia urbana, passa a fazer parte da herana social da comunidade cultural a ser transmitida geraes mais novas. Seguindo a teoria das tipificaes de Schutz, podese sugerir que o medo "define a situao"[8] e conglomera o "duplo carter da motivao: "os motivos a fim de", essencialmente subjetivos (que prescreve as tentativas idiossincrticas do indivduo de se orientar) e "os motivos por que", que indica "as razes dos homens para as suas aes enraizadas em experincias passadas" (Schutz in Wagner, 1979:27). Desta forma, um elemento perturbador, no s da concretizao de projetos de vida, mas da prpria elaborao de novos projetos pessoais dada a incorporao do medo como emoo preponderante na "experincia da dvida" (Schutz in Wagner, 1979), uma vez que so as emoes a base do processo da construo de projetos pessoais-sociais[9]. o exerccio de idealizar aes e planejar o futuro, caracterstico das dinmicas de estilo de vida de segmentos mdios urbanos[10] que os citadinos percebem ameaados de ruptura motivados pelo sentimento de medo, insegurana e pnico associado ao risco do livre ser nas esferas pblicas e mesmo privadas de sua existncia. Mas importa complexificar a noo de cultura do medo para alm das condutas conscientes de mudanas de projetos e aes motivadas pela insegurana num campo de possibilidades de vitimizao, em nos apoiando no mtodo hermenutico nos permite decifrar os comportamentos simblicos do homem, "o trabalho da tomada de conscincia" (Ricoeur 1988:4), que nos aproxima do propsito de elucidar sobre "a dinmica entre memria individual e coletiva"[11] que situa as feies do medo nas mltiplas formas dos velhos habitantes
52
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
interpretarem suas trajetrias vividas, construindo a partir desta "referncia" - o valor medo - a imagem que compartilham do viver na cidade. Trata-se aqui de se conceituar o medo como valor[12].Toma-se a noo de medo como contendo qualidades simblicas, como um "valor" que funda a oposio hierrquica, segundo Louis Dumont, em nome do qual se realiza o processo de englobamento das idias relacionais que amalgama a idia de cultura como sistema simblico e de sociedade como atualizao de uma nova ordem social. Neste, a apreenso e a interpretao que os sujeitos fazem da realidade vivida a abstrao ou a classificao de uma ordem simblica do mundo, mas tambm construo de uma insero social onde se deve deter os diferentes nveis de interao cultural no seio da sociedade dominante. Isso implica dizer que esta insero encontra-se colada a "situaes"[13] que combinam os valores e do sentido s prticas sociais, imprimindo lgica e sentido vida. Dimensiona-se, assim, a partir de uma situao de crise social associada aos sentimentos de medo expressos no viver no contexto contemporneo de violncia urbana, a reflexo sobre a construo do individualismo no processo scio-histrico moderno. O desejo idealizado da igualdade e emancipao do indivduo moderno produz, na contraface, o "contgio da violncia", o enfraquecimento da livre conduta e a impotncia da produo de interaes sociais que potencializem harmoniosamente a integridade moral e fsica de homens e mulheres no espao pblico e privado, encerrando em seu mbito o descompasso da ambincia humana perturbada e temerosa em seus atos recprocos, cada vez mais fragmentados no enclausuramento do homem sobre si mesmo. Trata-se de uma cultura do medo como transparece na narrativa de Dona Crista, apegada as suas reminiscncias marcadas por uma nostalgia de um tempo embalado pelo sentimento de segurana, cotejado com seus temores atuais aos perigos impostos por uma violncia urbana. O recolhimento domstico pelo medo antecipado ameaa de um perigo potencial frente vulnerabilidade cotidiana impe, de forma progressiva, no mais um individualismo-no-mundo como apregoava Louis Dumont (Dumont, 1985), mas um individualismo-
53
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
recolhido e com medo-do-mundo, segurana do seu lar.
preso
suposta
Ora, o sentimento de insegurana infere sobre as formas de sociabilidade cotidianas etnografadas (relaes familiares, vizinhana, trabalho, parceiros, redes associativas formais - clubes - e informais - footing - rede de amigos, lazer ou deslocamentos solitrios e/ou utilitrios, etc). Assim, em torno da inquietude e do sentimento de vulnerabilidade frente a possvel experincia de vitimizao, a simples preocupao se transforma de imediato em medo pessoal (Roch, 1993:67), motivando no s mudanas de atitudes nas formas das pessoas viverem e interagirem no mundo urbano contemporneo mas igualmente na forma de atriburem sentido a vida e representarem seu entendimento do mundo. Trata-se da ameaa da ruptura tica que aponta para um universalismo da boa-vontade, do respeito de si e da estima de si, onde o si "no o eu. Trata-se, antes, de isolar o momento de universalidade que, na qualidade de ambio ou de pretenso (...) marca a experimentao pela norma do desejo de viver bem" (Ricoeur, 1991: 238-239). Segundo Soares, "mais do que um problema tpico especfico, a violncia se converteu numa linguagem compartilhada, a partir da qual temos pensado os limites da sociabilidade, a sua crise e suas possibilidades" (Soares, 1995:1). O medo e a insegurana so, ento, determinantes sociais cada vez mais presentes no convvio urbano, uma linguagem compartilhada de forma cada vez mais coletiva. Este processo est associado tendncia de qualificar todos os fenmenos que conotam violncia a um mesmo e nico processo, cuja matriz, simbolicamente compartilhada, seria a decadncia da cidade, a degradao dos valores ticos, que geraria a crise da civilizao urbana. esta tendncia a homogeneizar as observaes relativas a fenmenos associados violncia a uma crise que Soares (1995:4) define por cultura do medo[14]. O sentimento de insegurana mordaz, solapa a sociabilidade e as experincias pblicas. A crise aparece mais aguda pela emergncia da cultura do medo vitimizao, justamente na contramo da ideologia da
54
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
emancipao das vigas slidas da disciplina moral, da conduta econmica que erigiram a famlia nuclear nos dois ltimos sculos de industrializao e urbanizao. O paradoxo temer o usufruto dos direitos liberdade de ir e vir ou o de trilhar "um caminho de mudanas sociais concernentes a um campo social mais amplo do que aquele de sua prpria famlia" (Lins de Barros, 1987:11), onde a prpria diferena atribuda tradicionalmente aos papis masculinos e femininos so questionados e ressemantizados subvertendo estruturas disciplinares no seio da instituio familiar, que "se emancipa das amarras da pudcia vitoriana" (Carvalho, 1995: 46). A violncia desenfreada que a todos indigna e aterroriza parece trair os atores da histria da emancipao de ordens e proibies scio-morais inculcadas durante tantos sculos, que conquistaram a queda de medos e opresses subjugadas pela ordem tradicional e a superao de traumas morais, de sentimentos de vergonha e constrangimentos associados aos atos afetivos, aes de ser-no-mundo compondo novas formas de relacionamento familiar, liberadas dos controles morais. Constrangimentos sociais bastante presentes nas narrativas, ao relacionarem suas experincias pessoais e familiares modernizao da sociedade, as transformaes dos valores morais e modelos de conduta familiar. H, neste contexto de discursividades, uma construo social do medo. O medo dos habitantes do atentado ao patrimnio, integridade fsica e o medo da morte por vitimizao so sintetizados no temor violncia, ao crime, que tem como atitude paliativa um regramento de condutas, interiorizando a hostilidade do viver urbano, alienando-os de dinmicas do mundo publico. O receio resulta de um processo de contato agressivo a partir do outro que desestimula o indivduo no que lhe constitutivo: as interaes que lhe constri como sujeito social. Refns do estranhamento, indivduos em suas redes de pertencimento designam como perigosos territorialidades, trajetos, situaes, horrios, e indivduos que, potencialmente estranhos, ameaam a ordem social. A desconfiana do outro os mergulha no sentimento de esvaziamento dos sentidos coletivos, fortalecendo ainda mais as bases de um ethos social hiperindividualista.
55
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O saber-fazer das prticas cotidianas
Michel de Certeau designa como estetizao do saber as prticas de narrao que constroem um saberfazer do viver cotidiano. Estratgias, tticas, e formas de viver enfrentamentos, reagindo a crise e a violncia que os anestesia. Respostas prticas e simblicas para garantir a integridade humana e sociabilidades que expressam um novo estilo de vida, reconfigurando o imaginrio social. Tocados pelas circunstncias, nos jogos da memria os velhos habitantes vo singularizando estas mobilidades desconcertantes impressas por condies externas e acabam por conferir ao prprio ato de memorar uma potica temporal na viglia pelo aprendizado de reinventar a vida por reordenaes dos sentidos fragmentados ou, como diria De Certeau, "na arte de contar as maneiras de fazer, estas se exercem por si mesmas" (De Certeau, 1994: 166). Da esta possvel leitura, entre outras, da arte de viver o cotidiano a partir das prticas que vo estetizando novas formas do viver e estilizando as interaes sociais cotidianas propulsoras de expresses mltiplas de repensar e re-agir na cidade dramatizada pela esttica do medo, nas condutas preventivas e projetivas por uma rotina segura, percursos e situaes planejadas, trajetrias e interaes comedidas, implicando uma "esttica de existncia", como diria Foucault (1984), delineada pela violncia urbana como um constrangimento social externo. Sugere-se, assim, que a crise urbana postulada tambm uma crise de interpretao que permite, outras interpretaes dos velhos habitantes que, ao folhearem a memria-contexto de suas vidas, ultrapassam o prprio conflito perturbador ao acomodarem os tempos de desordem em suas narrativas como movimentos incessantes de instaurao de sentido, de "durao", ou na significao dada na dialtica do ser na durao (Bachelard, 1989) dando aos ritmos temporais vividas, um encadeamento lgico e compreensivo. No ato de narrar suas rememoraes configurando o mapa dos medos, os velhos habitantes de Porto Alegre situam suas experincias com o mundo atravs deste
56
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sentimento ou de sua superao, seja na representao dos aspectos positivos, seja na dos negativos, conforme situaes vividas e contextualizadas etnograficamente. Os velhos habitantes narram uma prolongada convivncia em mltiplos ambientes da vida urbana local atravs dos quais vo relacionando dinamicamente o passado no presente, mapeando uma cidade de mudanas de condutas e atitudes, que comunica seus afetos territoriais, suas incertezas e evitaes scio-espaciais, as faces de medo e agonias, orientadas pela linguagem socializada e pelas emoes apreendidas, reconfigurando Porto Alegre como depositrio de suas memriasexperincias sobre o que nos ensinou Walter Benjamin (1986, 1993 e 1995). Importa menos aqui a condio cronolgica que condiciona os sujeitos nesta fase cclica da vida, e mais a riqueza do testemunho que aportam a partir de suas histrias vividas, conforme Maurice Halbwachs (1968) elucidou (o terico que diferenciou a memria coletiva da memria histrica a partir de um pertencimento afetivo comunidade da lembrana), ao destacar nos velhos o privilgio de guardies da memria por deterem nos ritmos da durao temporal, as referncias dos quadros sociais da memria. Em suas reminiscncias, Dona Crista reordena o vivido embalado por mudanas conflitivas que vo sendo configuradas nos jogos da memria que reordenam as descontinuidades ritmadas por transformaes espaotemporais da "paisagem urbana" vivida cotidianamente. nos jogos da memria e do trabalho da imaginao criadora humana que podemos recolocar a experincia de envelhecer na vida temporal da cidade na dimenso de mltiplos significados, explodindo com o modelo linear da imagem do homem moderno configurado no processo de individualizao que "coloniza"[15] as etapas etrias e institucionaliza o curso de vida. A anlise, nesta instncia, consiste em relacionar as formas com que experienciam as reconfiguraes do envelhecimento a partir de mltiplas vivncias que vitalizam este ciclo de vida s vicissitudes figuradas por uma violncia urbana que estetiza os estilos de viver urbano.
57
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A critica ao individualismo exacerbado beirando um narcisismo como metfora da condio social de nossos dias (para citar Lasch, 1983) traz, interpenetrado ao tema da crise, a noo do enfraquecimento dos sentidos de socializao pela privatizao, em certas esferas da vida (vizinhana, comunidade, famlia), das relaes tradicionais (hierarquia, solidariedade, reciprocidade). A trama do tempo a fragmentao dos laos e valores de reciprocidade. A personalidade individualista, diria Sennet, desintegra as relaes, fragmenta os sentidos, impondo aos sujeitos uma ideologia da intimidade (Sennet, 1979). Esta idealizao da vida pblica no passado (presente mais em Sennet que em Lasch (1983: 52-53) um exerccio reflexivo significativo nas ordenaes temporais dos entrevistados, como revela a narrativa do Seu Ronaldo. Seus relatos sinalizam para a emergncia progressiva de uma massa de indivduos idosos (como apontam as estatsticas sobre os ganhos tecnolgicos e cientficos, medicina gerontolgica, por exemplo, neste final de sculo) no mbito das novas imagens construdas sobre o ser velho, que ao contrrio do idoso construdo pelo discurso gerontolgico, multifacetam o desempenho de papis previstos socialmente para os velhos. O prprio convvio familiar, neste sentido se desamarra de antigos preceitos para serem revistos sob novas perspectivas, como aponta Dona Nora. As experincias so mltiplas tanto quanto so os indivduos singulares, mas o exerccio destas novas reinterpretaes da realidade acabam por mapear um estilo de viver a dramtica do envelhecer sob novas figuraes, que emancipam os atores e possibilitam a negociao possvel seja de suas autonomias, seja de seus pertencimentos coletivos. Este movimento no demonstrativo de uma luta contra a famlia, ou da "crise familiar" que instituies morais buscam convencer, nem se revela uma luta contra as desigualdades de gnero (proposta do movimento feminista, por exemplo), bem como no se reduz as aes e prticas que celebram o envelhecimento como os "programas para a terceira idade ou os grupos de convivncia de idosos" que tem "na mdia o palco central para a criao e divulgao das novas imagens" (Debert, 1999: 209).
58
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A adeso a esttica do medo no impede o aproveitamento de formas de sociabilidade privilegiadas para a valorizao pessoal e afetiva, como relata Seu Mauro ao cultivar grupos de amigos em reunies semanais, tanto quanto motiva `a vivncia da prtica religiosa j tradicionais na cultura brasileira como o catolicismo citado por Mauro, ou a adeso formas religiosas mais recentes no ethos brasileiro como a opo espiritual de Dona Raquel. O fortalecimento do sentido religioso tema sempre presente nas narrativas. Desde o catolicismo tradicional at a terapia se fazem presentes. Neste caso especfico, a afirmao de um crescimento individual, busca um rearranjo da vida interior mediada pelos "saberes psis" (Salem, 1992: 69) que contrasta com uma grande maioria de idosos catlicos entrevistados, que se mantm em redes de sociabilidade catlica e em projetos pessoais de devoo tradio judaico crist do amor como auto-sacrifcio e ideal de salvao. O medo da solido revela um trao importante da vida contempornea, que pode ser esboada por uma cultura privatista, uma vez que se tornou "um fenmeno endmico" da vida caracteristicamente urbana. solido pblica das massas se acrescenta uma dose ampliada de temor vitimizao, encurralando o cidado nos domnios do privatismo "no s pela hibernao emocional do homem moderno" (Carvalho: 1995: 193), mas pelo temor da busca de espaos de interaes em lugares pblicos. No caso das pessoas idosas, este parece ser um dos maiores dilemas, sobretudo nos segmentos mdios, onde o idoso tende a permanecer vivendo s aps a partida dos filhos ou aps a perda do cnjuge. A visibilidade desta condio solitria um dos pontos de maior motivao para os programas para a terceira idade angariarem novos adeptos. Tambm as formas associativas tradicionais, como grupos religiosos, associaes e programas para a terceira idade que, segundo Debert, "so formas de associativismo em que a idade cronolgica um elemento fundamental na aglutinao dos participantes" (Debert 1999:138), mobilizam uma importante populao (sobretudo mulheres) em geral promovendo uma sociabilidade ldica e de re-investimento de laos afetivos de amizade e convvio social.
59
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O recorte dado histria de Raquel sobre viver na cidade a partir das feies do medo e inseguranas paradoxalmente tambm captar seu esforo de durao (dure) social na luta contra a desordem e a desagregao social. Tal como na mitologia grega, o medo personificado por Fobos e por seu irmo Deimos, o pavor[18], tm uma irm chamada Harmonia, que vislumbra o restabelecimento da ordem e da segurana. A interao de Raquel em rede de cultivo espiritual, assim como em outros exemplos citados pelos entrevistados, promove este exerccio de re-encantamento da vida. Ser porto alegrense para o velho habitante narrador, no afundar-se nos traos de um passado perdido. Mas enquanto velho habitante que pode delinear os mltiplos movimentos que lhe assujeitam a conflitos e tenses pessoais/coletivos, internos/externos, singulares/complexos em que negocia incessantemente uma identidade familiar e social, individual e coletiva.
Concluso
Ser velho viver um conflito de identidade e ser velho habitante de Porto Alegre, igualmente viver as tenses identitrias que a cidade amalgama. Conflitos que descompassam a rtmica das trajetrias de vida e do trajeto urbano (histria da cidade), mas que no matam a reinventividade do viver neste ethos. a partir da identidade de velhos habitantes que podem ento narrar sua cidade, enfim, trabalhar a memria tecendo as "reminiscncias" que re-situam as experincias orientadas pelo sentimento do medo como algo vivido, temporalizando a vida por esta identidade-"valor", onde se percebem como sujeitos transformados na predominncia de outros valores significativos ao passado. Compartilhar da cultura do medo que se impe pela linguagem ordinria, e que naturaliza seu contedo, acaba por permitir o conhecimento deste processo e ultrapasslo, no na negao, mas na adeso a esta realidade, no reconhecimento da existncia do conflito na dramatizao das relaes sociais. Compreender nossa relao com a cultura do medo seria, de certa forma, conhecer nossa ttica de pensar a morte para desejar a vida. No se trata de criar a expectativa de prorrogar a morte fisiolgica, mas de ultrapassar as rupturas trgicas, que ameaam de
60
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
esquecimento, as referncias identidade do grupo.
de
uma
durao
da
Desta forma, se a violncia nos situa no drama trgico da vida pela sua dinmica cclica como determinante simblico, a cultura do medo como crise nos situa num jogo interativo, dialgico e reflexivo que acaba por permitir, em alguma dimenso, o conhecimento do simesmo (Ricoeur:1991). Uma circunstncia que nos faz ver a cidade inventada por ns mesmos, uma trajetria de vida traada pelo nosso desejo e temores constitudos por nossos ressentimentos. Os conflitos, as crises, as tenses do mundo moderno tm sido historicamente vinculadas ao fenmeno urbano, contexto que implica compreender a vida e as interaes sociais diferenciadas segundo as diversas formas de construo social da realidade. Frente ineficincia do aparelho estatal para limitar esta onda de ameaas (uma vez que em grande parte o prprio aparelho e sistema estatal corrompido: polcia, polticos, etc) temerosos ou no, os habitantes tomam precaues, atitudes, comportamentos que inferem em prticas e sociabilidades cotidianas. O cenrio da cidade se confirma, assim, como topos de uma multiplicidade de acontecimentos individuais e coletivos que denotam experincias vividas carregadas de sentimento de insegurana. Este sentimento , sem dvida, uma sensao que envolve uma srie de aspectos psicolgicos e culturais dos indivduos, suas emoes, suas reflexes e seus comportamentos. Tendo os indivduos sido vtimas de situaes de violncia urbana ou simplesmente bombardeados pela mdia, sua recluso passa a ser uma atitude recorrente, desconfiando de suas prprias certezas sobre a previsibilidade de sua "sorte" em seus movimentos interativos em redes diversas no mundo urbano. A previsibilidade lhe escapa "das mos", ou do seu pensamento, para ser tomado pelo temor imprevisibilidade que a condio da violncia urbana impe. O medo estruturante o de sair em espao pblico, sobretudo em determinado horrio. A insegurana
61
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
concerne a todos, mas aos idosos esta condio parece mais perversa, sobretudo no final do seu ciclo de vida, em geral mais solitrio, tendo que contar com os imponderveis do corpo envelhecido. Os idosos de segmentos mdios que optam pela autonomia residencial aderem aos "conselhos" de preveno que configuram os "medos domsticos" (Roch 1993) como o de trancar-se em casa "a sete chaves", o no-atendimento porta, o aumento proteo do domiclio. A vida intramuros no um desejo, mas uma preveno para evitar a vitimizao. Os recursos possveis do pertencimento segmento mdio, investido na segurana material em que a grade e o alambrado se destacam na arte da proteo. A vida social no mundo pblico no rompido, pois se nutre nele como ser social, mas sua interao neste de receio, medo do estranho, medo do assalto, medo dos muitos acidentes de percurso e das armadilhas que est sujeito na condio cotidiana, numa espcie de agorafobia. As formas de configurar as inquietudes so correlatas com a expresso de um medo que se afirma na subjetividade -"eu estou inseguro" - (Roch, 1993:150). Estas formas de expresso das preocupaes que habitam os coraes e as mentes dos citadinos se colocam como uma discursividade do desejo coletivo de uma reconstruo de uma ordem perdida, de uma normatividade desfeita, de uma sociedade que lhes parece cada vez mais estranha e incivilizada, buscando incessantemente, no contexto da imponderabilidade, os sentidos de seguir. Sero, de modo geral, as vozes citadinas dos segmentos mdios, movidos pela lgica do auto-interesse, que aclamaro a incivilidade que retrata a violncia urbana, que ressoa em suas avaliaes sobre a perda dos valores morais, o esvaziamento de sentido tico, a desordem e o desencantamento das emoes humanas, a banalizao do horror, a subverso dos direitos, a saturao (ou excessos) dos modelos de gesto poltica da ordem social, a guerra civil. Os constrangimentos impostos pela violncia, diro os velhos habitantes de Porto Alegre, tencionam os valores modernos na perda de referncias humanitrias, a reciprocidade, a solidariedade encapsuladas num tempo alhures, designando s estruturas de poder polticourbanas a tarefa de salvaguarda do mundo objetivado da
62
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
lgica racionalista a partir de atos e normas coibidoras da criminalidade. Nas experincias de vida dos entrevistados nesta cidade, o sentimento de medo constitutivo de uma crise que des-ancora as probabilidades de suas projees de vida. A clivagem de suas vontades e escolhas no pode mais seguir apenas um traado livre da ideologia individualista, mas precisa conformar suas volies ao mapa do medo. A "crise dos tempos", presente para a populao etnografada a ruptura do trajeto de identificao do indivduo psicolgico como o sujeito da conscincia, da vontade e autonomia, sobretudo ao condicionar o futuro dos netos a um mundo cotidiano que no garante mais uma previsibilidade da vida, de reconhecimento do outro na imagem ideal do prometeico. Neste contexto de cultura do medo, o citadino tende a aguardar macro reestruturaes com eficcia para a garantia de uma qualidade de vida humana, cultivando em suas impresses do viver urbano, as crises dos tempos gestadas nos discursos mediticos que acabam por imprimir cdigos de interpretao da realidade. As narrativas que delineiam fragmentos de trajetrias so apreendidas como prospeco e projeo das possibilidades de realizao de um projeto de humanidade. Se o aceleramento dos acontecimentos urbanos entrelaa a violncia que escapa legibilidade, o medo vitimizao nos ameaa como condio de possibilidade de um desconhecimento do outro e de esquecimento das prticas conciliadoras de redes de sentido. Mas na incessante arte de narrar sua cidade, os velhos habitantes acabam por transmitir formas de ultrapassar a passividade de nossos sentimentos urbanos de desencantamento. nesse sentido que se buscou a narrativa "de durar" na cidade em que vivem. Este trabalho rduo de no deixar cair no esquecimento as "artes de fazer" o social, dado que, o trabalho da memria, de lembrar o que no esquecemos, tem esta fora de reconstruir as razes afetivas para continuar[19].
BIBLIOGRAFIA
ARENDT, H. (1994). Sobre a violncia. Rio de Janeiro: Relume Dumar.
63
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BACHELARD, G. Quadrige/PUF.
(1989).
La
dialectique
de
la
dure.
Paris:
BENJAMIN, W. (1986). "Critica da violncia - critica do poder". In: Documentos De Cultura - Documentos de Barbrie (Escritos Escolhidos). So Paulo: Cultrix, EDU So Paulo. BENJAMIN, W. (1995). Charles Baudelaire um lrico no auge do capitalismo. Obras Escolhidas III. So Paulo: Brasiliense. BENJAMIN, W. (1993). Magia e tcnica, arte e poltica. Ensaios sobre Literatura e Historia da Cultura. So Paulo: Brasiliense. BERMAN, M. (1987). Tudo que solido desmancha no ar: a aventura da modernidade. So Paulo: Cia. das Letras.[ BOSI, E. (1987). Memria e sociedade. Lembranas de velhos. So Paulo: Queiroz ED. Ltda. e EDUSP. BOTT, E. (1976). Famlia e rede social. Rio de Janeiro: Francisco Alves. BOURDIEU, P. (1974). A economia das trocas simblicas. So Paulo: Perspectiva, p. 3 a 26. CANEVACCI, M. (1993). A cidade polifnica. Ensaio sobre antropologia da comunicao urbana. So Paulo: Studio Novel. a
D'AVILA, N. L. M. (1996). "Na trajetria da modernidade, as camadas mdias porto-alegrenses frente modernizao na dcada de 50". Dissertao de mestrado no PG em Histria. Porto Alegre: UFRGS. DA MATTA, R. (1985). A Casa & Rua. Espao, cidadania, mulher e morte no Brasil. So Paulo: Brasiliense. DE CERTEAU, M. (1994). A inveno do cotidiano: artes de fazer. Petrpolis: Vozes. DEBERT, G. G (Org). (1994). Antropologia e Velhice. Textos Didticos, Campinas: IFCH/UNICAMP, n. 13. DEBERT, G. G. (1999). A reinveno da velhice. So Paulo: Edusp, Fapesp. DELUMEAU, J. (1989). Histria do medo no Ocidente. 13001800. So Paulo: Companhia das Letras, 1989 . DOUGLAS, Mary. (1992). Risk and Blame, essays in cultural theory. Londres, Routledge. DIAS DUARTE, L. F. (1986). Da vida nervosa, trabalhadoras urbanas. Rio Janeiro: J. Zahar./CNPq. nas classes
DUMONT, L. (1985). O individualismo. Uma perspectiva antropolgica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco. DUVIGNAUD, J. (1983). Festas e civilizaes. Fortaleza: EUF/Cear e Tempo Brasileiro. ECKERT, C. (1998). "Questes em torno do uso de relatos e narrativas
64
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
biogrficas na experincia etnogrfica". In: Revista Humanas. Revista do Instituto de Filosofia e Cincias Humanas, n 19, Porto Alegre. ELIAS, N. (1994). A sociedade dos indivduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. EVANS-PRITCHARD, E.E. (1978). Os Nuer. So Paulo: Perspectiva. FOUCAULT, M. (1979). Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Graal. FOUCAULT, M. (1988). Vigiar e Punir. Petrpolis: Vozes. GANDILLAC, M. de. (1995). Gneses da modernidade. Rio de Janeiro: Ed. 34. GEERTZ, C. (1978). A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Zahar. GIDDENS, A. (1991). As conseqncias da modernidade. So Paulo: UNESP. GOFFMAN, E. (1973). La mise en scne de la vie quotidienne. Paris, De Minuit. GRAFMEYER, Y. et JOSEPH, I. (1984). L'Ecole de Chicago. Naissance de l'cologie urbaine. Paris: Aubier Montaigne. HALBWACHS, M. (1968). La mmoire colletive. Paris: Puf. HARVEY, David. (1996). Condio ps-moderna. So Paulo: Loyola. HELLER, Agnes. (1992). O cotidiano e a histria. So Paulo, Paz e Terra. ISRAEL, Joachim. (1992). "Simmel et quelques problmes fondamentaux de la connaissance". In: Revue Socit. Georg Simmel. Paris: Dunod. JACOBS, J. (2000). Morte e vida de grandes cidades. So Paulo: Martins Fontes. LASCH, C. (1978). The culture of narcisism: american life in the age of diminishing expectations. New York: Mouton. LINS DE BARROS, M. (1995). "O passado no presente: aos 70 falando do Rio de Janeiro". In: Cadernos de Antropologia e Imagem, A cidade em Imagens, nmero 4, Rio de Janeiro: UERJ, NAI. LINS DE BARROS, M. (1987). Autoridade & Afeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. MAUSS, M. (1974). Sociologia e Antropologia. So Paulo: EPU, EDUSP. MILLS, C W. (1975). A imaginao sociolgica. Rio de Janeiro: Zahar. RICOEUR, P. (1988). Interpretao e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
65
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
RICOEUR, P. (1991). O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus. RICOEUR, P. (1994). Tempo e Narrativa, tomo I e II. Campinas: Papirus. RICOEUR, P. (2000). La mmoire, l'histoire, l'oubli. Paris, Seuil. ROCHE, S. (1993). Le sentiment d'inscurit. Paris: Puf. ROVINSKI, S L R. (1993). "A violncia na vitimizao criminal vivncias em situaes de assalto". Dissertao de mestrado, Instituto de Psicologia. Porto Alegre: PUCRS. SALEM, T. (1980). Um estudo de papis e conflitos familiares. Petrpolis: Vozes. SALEM, T. (1992). "A 'despossesso subjetiva': dos paradoxos do individualismo". In: Revista Brasileira de Cincias Sociais, nmero 18, ano 7, p. 62 a 77. SENNET, R. (1988). O declnio do homem pblico. So Paulo: CIA. das Letras. SENNETT, R. (1979). Les tyrannies de l'intimit. Paris: Seuil. SIMMEL, J. (1934). Cultura femenina y otros ensayos. Madrid: Revista de Occidente. SOARES, L E. (1991). "Homicdios Dolosos Praticados contra Menores no Estado do Rio de Janeiro. Relatrio de pesquisa desenvolvido como parte do plano de trabalho do Projeto Se Essa Rua Fosse Minha". Rio de Janeiro: FASE, IBASE, IDAC, ISER. SOARES, L E. (1995). "Violncia e cultura do medo no Rio de Janeiro". Mimeog. Palestra proferida no PPG Antropologia Social. Porto Alegre: UFRGS. SOARES, L.E. et alli. (1996). Violncia e poltica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/ISER. SOREL, G. (1993). Reflexes sobre a Violncia. Petrpolis: Vozes. TIRELLI, C. (1996). "Cartografia social da violncia: estudo sobre a criminalidade na Regio Metropolitana de Porto Alegre 1988 1995. Dissertao de Mestrado, PPGS. Porto Alegre: UFRGS. TURNER, Victor. (1974). "Social Dramas and Ritual Metaphors". In: Dramas fields and metaphors: symbolic action in Human Society. Itacha: Cornell University Press. VELHO, G. (1987). "O cotidiano da violncia: identidade e sobrevivncia". In: Boletim do Museu nacional. Nova serie. Rio de Janeiro: Antropologia n 56. VELHO, G. (1981). Individualismo e cultura. Notas para uma antropologia da sociedade contempornea. Rio de Janeiro: Zahar.
66
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
VELHO, G.(1986). Subjetividade e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar. VELHO, O (org.). (1979). O fenmeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar. WAGNER, H R.(1979). Textos Escolhidos de Alfred Schutz. Rio de Janeiro: Zahar. WEBER, M. (1982). La ville. Paris: Aubier Montaigne. ZALUAR, A. (1994). Condomnio do diabo. Rio de Janeiro: Revan e UFRJ.
***
Rsum: Larticle concerne aux rcits des expriences des personnes ages appartenant aux couches moyennes dans la ville de Porto Alegre selon ltude ethnographique dvelopp entre 1997 a 2000. Ils font rference aux enjeux de la violence urbaine et de la culture de la peur que nous permet de compreende les transformations esthtiques dans son ethos et les stratgies quotidiennes dans leurs styles de vie pour faire face a des sentiments de vulnerabilit et insecurit galgu dans les experinces singulires des personnes ages interview. Mots cls: Mmoire collective, ville, peurs urbaines, rcits, personnes ges, quotidien, anthropologie.
***
NOTAS
[1]
Uma verso dos resultados desta pesquisa foi apresentado na Oficina de trabalho "Antropologia, Sade e Envelhecimento", Rio de Janeiro, agosto 2000, coordenada por. Maria Ceclia de Souza Minayo e Carlos E. A Coimbra Jr tendo sido publicado sob o ttulo "A cultura do medo e as tenses do viver a cidade: narrativa e trajetria de velhos moradores de Porto Alegre" In: MINAYO, Maria Ceclia de Souza e COIMBRA JR. Carlos E. A. (organizadores). Antropologia, Sade e Envelhecimento. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2002. ps. 73 a 102. Nosso estudo etnogrfico foi iniciado em maro de 1997 no mbito do projeto de pesquisa "Estudo antropolgico dos itinerrios urbanos, memria coletiva e formas de sociabilidade no mundo urbano contemporneo", Projeto integrado Cnpq de Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha desenvolvido no Banco de Imagens e Efeitos Visuais, sob nossa coordenao. "Por desencaixe me refiro ao deslocamento das relaes sociais de contextos locais de interao e sua reestruturao atravs de extenses indefinidas de tempo-espao" in Giddens, 1991:29. A prefeitura da cidade administrada h mais de 13 anos pelo Partido dos Trabalhadores (fundado em 1979 pelo dirigente sindicalista Luis Incio "Lula" da Silva), identificado como de "esquerda". conhecida por ser a "capital da democracia participativa" devido o sistema denominado "oramento participativo" desenvolvido pelo PT. Desde 2001 se tornou sede do Frum Social Mundial, reunio internacional contra a mundializao neoliberal.
[2]
[3]
[4]
67
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
[5]
Porto Alegre: Populao 1.286.251 habitantes, mortalidade infantil 18/1000 habitantes, Populao alfabetizada, 91%, Homicdios 20,43/10.000 hab. Fonte IBGE 1996. Latrocnios de janeiro a setembro no RS 2001 - 51; 2002 - 95 casos. Taxas anuais por 100 mil habitantes no Estado Fonte: Secretaria da Justia e da Segurana (SJS (www.sjs.rs.gov.br). No ano 2000 houve na cidade de Porto Alegre um aumento de 74,3% de crimes por seqestro relmpago, 50% de assalto a banco e 250% de roubo de celulares. Aspecto analisado por Myriam Moraes Lins de Barros em seu artigo "Testemunho de vida: um estudo antropolgico de mulheres na velhice", constatando que a perda de conscincia e a velhice-doena era o maior temor pela ruptura do projeto de viver a velhice. Lins de Barros, 1998:165. Concepo de William I. Thomas, conforme Schutz in Wagner, 1979:26. "O lado individual (nos projetos de vida) o das emoes. As minhas emoes esto ligadas, so matria-prima e, de certa forma, constituem o projeto. H sentimentos e emoo valorizados, tolerados ou condenados dentro de um grupo, de uma sociedade. H, portanto maiores ou menores possibilidades de viabiliz-los, efetiv-los". (Velho apud Lins de Barros, 1998:155.) Como sugerem os trabalhos etnogrficos em segmentos mdios brasileiros de Velho (1979:22), Lins de Barros (1998:155) e Salem (1980).
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
O artigo "O passado no presente: aos 70 falando do Rio de Janeiro" foi aqui, orientador de nossas reflexes. (Lins de Barros 1995: 92). [12] Segundo Dumont, o "valor" designa algo diferente do "ser", algo que, distinto da verdade cientfica, que universal, varia muito com o meio social e at no seio de uma sociedade dada, no s com as classes sociais mas, tambm, com diferentes setores de atividade e experincia (Dumont, 1985: 241).
[13]
Propriedades de situao, conforme Evans-Pritchard, 1978.
[14]
Nos termos de Soares, "uma certa estrutura simblica de articulao entre representaes" (Soares et alli, 1996:259). Mike Featherstone analisa a forma como especialistas da Psicologia do Desenvolvimento relacionam o curso da vida com fases cronolgicas bem-demarcadas, tem-se o que chamamos de colonizao das idades. (Featherstone in Debert, 1994:62). Guita Debert chama a ateno para o fato de que o processo de individualizao, prprio da modernidade, teve na institucionalizao [17] do curso de vida uma de suas dimenses fundamentais. (Debert, 1994 : 8). "Os saberes 'psis' afirmam-se como importante foco de produo
[15]
[16]
[17]
68
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
social de representaes sobre o indivduo moderno". (Salem, 1992: 69).
[18]
Ambos so filhos de Ares, o Deus da Guerra, e acompanham seu pai por onde houver conflito e sangue. Seguimos Bachelard, 1989.
[19]
69
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
CAILL, Alain. Existem valores naturais? Traduo de Mauro Guilherme Pinheiro Koury. RBSE, v.2, n.4, pp.70-78, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGO ISSN 1676-8965
Existem valores naturais?*
Alain Caill
Resumo: Todos ns das sociedades ocidentais contemporneas compartilhamos e nos encontramos envolvidos entre dois sistemas de convico opostos, mas para os quais aderimos com a mesma convico. Nossa inabilidade para arbitrar entre eles parece instituir o risco de nos condenar ao choque de civilizaes, profetizado por Huntington. Como arbitrar e estabelecer uma viso alternativa? Muito provavelmente aceitando colocar sem receio uma questo amplamente assentada: h valores naturais? Palavras-chaves: Marcel MAUSS, Antiutilitarismo, Terceiro Paradigma, Valores.
Todos ns, mulheres ou homens das sociedades ocidentais contemporneas compartilhamos e nos encontramos envolvidos entre dois sistemas de convico opostos, mas para os quais aderimos com a mesma convico. Nossa inabilidade para arbitrar entre eles parece instituir o risco de nos condenar ao choque de civilizaes, profetizado por S. Huntington. Como arbitrar e estabelecer uma viso alternativa? Muito provavelmente aceitando colocar sem receio uma questo amplamente assentada: h valores naturais?
O construtivismo relativista
Qualifiquemos de construtivismo relativista o primeiro grupo de convices para as quais aderimos. Acima de tudo sensvel infinita diversidade de culturas ele se ordena em torno de uma certeza central que no tem nada de natural porque "tudo construdo". Construir e ento deconstruir, arbitrrio ou pelo menos contingente. O que somos, os valores que apreciamos, tudo poderia ter sido radicalmente diferente. No vemos que tudo muda permanentemente? O estado-nao, a democracia parlamentarista de que os modernos estavam to orgulhosos que aprovaram como modelo obrigatrio para o planeta inteiro, a idia mesma de sociedade, so aparies recentes e que duraro apenas por um tempo.
70
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A famlia, que se acreditou quase eterna, a lgica da filiao e at a diferena entre sexos que pareciam apoiadas firmemente no destino biolgico e nas necessidades de reproduo, parecem poder dissipar-se de repente por no mais permitir que subsista a livre escolha contingente e a todo momento revocveis dos indivduos. A cincia em si no nada mais do que um campo de incluso onde triunfam no as verdadeiras e racionais teorias mas aquilo que os jogos constantes de relaes de fora souberam mobilizar suficientemente aliados poderosos para assegurar o seu triunfo. E quanto idia de natureza, no muito difcil de mostrar como ela evolui constantemente ao sabor da sucesso das doutrinas filosficas em voga. Ela representa ento a idia de construo por excelncia, e o que necessrio deconstruir em prioridade. Da a idia de que possam existir valores naturais...
O ocidentalismo racionalista
Qualifiquemos de naturalista-universalista (ou ocidentalismo racionalista) o segundo sistema de convico que disputa nossos favores. Ele cr, que legitimamente o Ocidente domina um mundo em vias de globalizao, porque o que melhor expressa, com mais consistncia e eficincia, os desejos e valores naturais de todos os homens. Todas as sociedades, verdade, no obedecem completamente aos cnones ocidentais. Algumas dificultam a internacionalizao do mercado, a generalizao da democracia parlamentar, a dissoluo do religioso nas indstrias da cultura e do entretenimento, o reinado do livre pensamento crtico e a exploso do individualismo. Mas s uma questo de tempo. Porque, agora e sempre, homens (e mulheres) no procuram mais do que uma s e mesma coisa: proteger-se contra a violncia, contra a enfermidade e a morte, e melhorar sua condio material. Eles tm que administrar as mesmas concluses porque, sempre e em todos os lugares, os homens so racionais e argumentam da mesma maneira. O pensamento, em todo o estado de razo um processo natural cujos mecanismos sero completamente elucidados graas s cincias cognitivas. Viu-se no curso da histria humana florir as crenas mais extravagantes, as supersties mais furiosas, porque a falta de conhecimento objetivo permitiu o surgimento do
71
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
fanatismo religioso e de dspotas sedentos de fora para prosperar em detrimento da ignorncia geral. Mas, salvo acidente, tudo isso no deveria durar um tempo muito longo. A generalizao do mercado dissolver os monoplios locais e far com que desapaream as situaes que beneficiaram os potentados locais indevidamente. A extenso da web e o acesso universal da televiso permitiro a informao crtica penetrar em todos lugares. A economia, a democracia, a medicina, a cincia e as moralidades racionais devem triunfar universalmente e conduzir ao fim da histria anunciada por Fukuyama. Onde sobreviver unicamente o modelo ocidental de sociedade porque ele o nico que constri racionalmente os valores naturais.
O que no vai?
Nossos dois sistemas de crena no so estruturais e necessariamente incompatveis. O construtivismodeconstrutivista se acomoda muito bem apologia do mercado e da cincia apresentada pelo racionalismo universalista. Mercado e biotecnologias no so mais do que mquinas maravilhosas a deconstruir, e que colocam em evidncia a contingncia radical dos valores mais estabelecidos ou das culturas mais organizadas? Os organismos biolgicos em si, decompostos e recompostos para lazer, no testemunham doravante sua prpria dimenso de arbitrariedade? Estima-se que daqui a aproximadamente vinte anos, 90% do organismo humano poder ser (re) produzido em laboratrio. O que permanecer ento sobre a questo da naturalidade do corpo? No obstante, se v isso bem, nossos dois modelos de crena so dificilmente reconciliveis, e se constantemente oscilamos de um para o outro, porque cada um revela as negligncias de rival. Se os valores que fundam o modelo ocidental-universalista so to naturais quanto pretende, como explicar que foram necessrios tantos milnios para que se imponham a todos? E alm, os imponha realmente? Esta demora s se explica por uma falta de conhecimento objetivo? Tambm no h, nas outras culturas, valores fortes que fazem obstculo adoo dos nossos? Sem contar que se pode desejar saber se os fundamentos dos valores adotados pelo modelo racionalista so realmente verdadeiros? Os direitos humanos, sim, sem dvida. Mas a segurana? vontade de sobrevivncia a qualquer preo? O desejo de enriquecer? A eficincia funcional? No saberamos os
72
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
rejeitar. Mas, em certo sentido, no est aqui presente, em tudo isto, algo de obrigao e de resignao, uma falta de entusiasmo. Faa-se matar por eles (morrer pelo direito sobrevivncia?). Diz-se que se si vive sobre valores mais passivos que ativos, sobre valores condicionais e instrumentais, mais que a afirmao desses intrinsecamente desejvel. De seu lado, o modelo construtivista descreve os sujeitos humanos fechados em sistemas de crenas e valores nos quais no permitido decidir. No se pode decidir entre valores arbitrrios em nome de outros valores arbitrrios. Resumamos: no modelo racionalista realmente se fala de valores naturais, mas estes valores quase no so levados em conta porque para este modelo s existem na realidade, a funcionalidade e a razo. E reciprocamente, os valores que existem fora do registro da razo, da eficcia e da necessidade so imediatamente repudiados. Neste modelo os valores no so portanto uma parte nula. No modelo construtivista os valores esto, pelo contrrio, em todos lugares e incluem os homens na diversidade de normas culturais, contudo no saberamos escolher entre eles nem a eles aderir porque o sabemos arbitrrios. O modelo racionalista dissolve a diversidade de culturas na uniformidade de uma natureza universal suposta. O modele construtivista dissipa at a idia de natureza na diversidade de culturas. Algo no se encaixa nesta confrontao de nossos dois blocos de crena. Eis porque temos que estimular se levar histria ao princpio.
Levar a histria ao princpio. Universalidade e "naturalidade" do dom.
Levar a histria ao princpio demanda, como o engendra e se forma as sociedades humanas, propriamente humanas. Sabe-se da resposta de Claude Lvi-Strauss: pela proibio universal do incesto que se opera a passagem da natureza para a cultura. Porque se encontra presente em todas as sociedades, esta proibio fundante da Lei, da troca e da aliana to universal quanto o fenmeno natural - apodera-se da Natureza ento -, mas porque sempre interpretada de modo especfico, abre-se diversidade das culturas apropriando-se ento tambm da cultura. O brilho desta formulao fez muitos esquecerem que ela foi formulada
73
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
atravs de uma descoberta feita por seu predecessor, Marcel Mauss. Sigamos sua argumentao. Este socilogo, herdeiro de Durkheim e fundador da etnologia cientfica francesa surgiu, em primeiro lugar, de uma forma categoricamente construtivista. Do mesmo modo como a sociologia e a etnologia, elas tambm assim no apareceram, pelo menos, em um primeiro tempo? A marca por excelncia da cultura, nos contou Mauss, a arbitrariedade. Tal maneira de amarrar uma gravata, tal forma de telhado ou po etc. Tudo realmente poderia ser de outra forma. Mas entenda bem este construtivismo maussiano: ele no indicado para significar que todo o ser contingente, no importa quanto valha no importa o que, nada ser definitivo. Pelo contrrio, como ele escolhido e assumido, em torno de toda necessidade funcional e objetiva - ou melhor, contra ela -, que a arbitrariedade faz sentido e contribui ao encanto da vida introduzindo a diversidade. O que significa esta arbitrariedade positiva que nos faz um e no outro e que nos faz fazer assim e no o contrrio. Ns comemos nossa carne assada e no cozida, ns bebemos vinho e cerveja, ns comemos nossos baguetes e no outro po qualquer, de escargots e no de gros etc. Ou o contrrio. Em resumo, por este conjunto de arbitrariedades (de "modos", como diz Mauss) assumida e compartilhada que significamos nossa identidade coletiva em relao a outras identidades coletivas e em oposio a elas. o sinal e a matriz de alianas na qual ns nos reconhecemos. Aliana? Aqui nos remetemos de volta temtica lvi-straussiana. Contudo, de um outro modo e mais concreto. Porque, o que descobriu em efeito Marcel Mauss, em seu famoso Ensaio sobre o Dom, de 1923-24, e isso parece ir radicalmente em oposio ao seu construtivismo culturalista, que todas as sociedades selvagens, arcaicas, primitivas, tradicionais - reagrupadas sob o ttulo genrico de sociedades primevas -, obedecem a uma lei demasiado desconcertante aos nossos olhos. As relaes sociais no se abrem e se estabelecem conforme a lgica do mercado, do contrato e do dar-dar do qual o modelo racionalista-ocidental postula a naturalidade e a universalidade, mas formam-se de acordo com uma obrigao geral de generosidade que significada a cada um e que Marcel Mauss detalha atravs da nomeao de uma obrigao tripla de dar, receber e devolver. , ento,
74
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sobre o signo do dom que se encontram por inteiro as sociedades primevas. Este o primeiro valor do qual todos os outros derivam. Da a necessidade de se entender bem o seu significado. Dizer que os membros de uma sociedade primeva agem atravs de uma conformao de si mesmos a obrigao de dar no pressupe, em hiptese alguma, que eles seriam caridosos. Bem pelo contrrio, e Mauss insiste nisso: esta generosidade engendra uma forte caracterstica de desafio e de rivalidade agnstica. Tudo o que referencia a busca de obrigar o outro (notar o duplo sentido da palavra "obrigar"), parece agir sobre o "aplainar" em si, mostrando at que ponto se ultrapassa a obrigao em generosidade. Para compreender esta lgica, nos recordemos de ns mesmos, hoje em dia, exercitando prticas, por exemplo, relativas a hospitalidade ou aos presentes de Natal. Mas o resultado essencial est l: graas ao dom, a guerra de generosidade substitui simplesmente a guerra em si, os inimigos se transformam em aliados, e se forma um primeiro pacote de valores inteiramente intricados ao dom: a confiana, a lealdade, a amizade, a sensao do gesto bonito e um primevo interesse do coletivo sobre os interesses individuais separados. Nele, conclui Mauss, uma espcie de atmosfera do "gasto nobre", meiointeressado meio-desinteressado, meio-livre meioconstrangido, a "pedra das moralidades eternas" encontra-se presente. O fundamento do que pode ser considerar como os valores naturais, condio de especificar que para o Homem a natureza a cultura, e que o que valorizado positivamente justamente tudo o que permite transcender a natureza, e transmutar a ordem da necessidade natural em livre escolha cultural. Ou novamente, em uma formulao que reconcilia Mauss e Lvi-Strauss, diremos que sobre o germe do valor natural (i. e. natural-cultural) incidem prescries que nos levam a subordinar os constrangimentos naturais em geral s aspiraes culturais e submeter s consideraes utilitrias e instrumentais as finalidades antiutilitaristas (os "gastos nobres", o "gesto" bonito) que a tripla obrigao de dar, receber e devolver inscreve.
E hoje?
Embora subsista algum elemento importante sobre o que normalmente no se acredita, ns no vivemos
75
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mais, porm, pelo menos como rtulo principal ou exclusivo, em uma sociedade primeva, a pequena sociedade subordinada lgica do dom e do simbolismo. Nem mesmo, recentemente, no que se poderia chamar de segunda sociedade - a grande sociedade que junta os estranhos debaixo de uma mesma lei religiosa, moral e poltica comum e os transforma em uma comunidade de crentes ou cidados. Nesta segunda sociedade, os valores morais, religiosos ou polticos poderiam ser analisados a partir das formas transpostas e poderiam ser modificados atravs da obrigao primeva da generosidade. A exigncia do dom poderia ser radicalizada, interiorizada e universalizada. deste triplo processo, de radicalizao (de dar verdadeiramente...), de interiorizao (sem se mostrar ou em via de ser mostrado...) e de universalizao (para a comunidade vasta), que resulta o essencial de nossos valores atuais. Que deve alterar e ajustar apario de um terceiro tipo de sociedade, a mega-sociedade virtual onde precisaremos argumentar sobre o ponto de vista da humanidade em seu conjunto, alm de sua estruturao poltica, religiosa e cultural herdada. neste quadro geral que se tornar conveniente a reinterpretao da temtica weberiana da guerra de deuses para demonstrar que ela no significa o conflito do no importa que valor arbitrrio com o no importa esse outro qualquer, mas a tenso inelutvel entre trs sistemas de valores igualmente legtimos e necessrios, os valores prprios respectivamente s sociedades primevas (para o entre-si e para o pequeno mundo), para a segunda sociedade (as do conjunto teolgico-poltico) e para a terceira sociedade (a da humanidade considerada em sua generalidade). Ns no teremos a chance de sobrepujar o choque de civilizaes huntingtoniano - que no nada mais do que o das formas da guerra de deuses e das trs sociedades -se no soubermos demarcar o mago natural comum dos valores por ele enfrentado e se no entendemos que eles sempre foram, sob uma forma ou outra, a reassuno do dom primeiro pelo qual os Homens concedem a si prprios a primeva aliana e a paz na guerra por apostarem na pluralidade das formas de vida. Deixemos a concluso ento com Marcel Mauss: "Assim, de uma ponta a outra da evoluo humana, no h dois saberes. O que se adota ento como princpio de vida o que sempre foi, um princpio e sempre ser isto: sair de si, doar livremente e obrigatoriamente; no h risco de se
76
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
equivocar. Um bonito provrbio maori diz:' Doe tanto quanto voc pegar, tudo sair muito bem '".
Traduo de Mauro Guilherme Pinheiro Koury
Bibliographie
MAUSS, Marcel. (1950) "Essai sur le don " (1923-24), in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1re dition. LA REVUE DU MAUSS (2000), semestrielle n17, "Chassez le naturel. cologisme, constructivisme et naturalisme", 1er semestre, Paris, La Dcouverte. CAILL, Alain. (2000). Anthropologie du don. Le tiers paradigme. Paris, Descle de Brouwer.
***
Rsum : Tous nous des socits occidentales contemporaines sommes partags et tiraills entre deux systmes de croyance opposs mais auxquels nous adhrons avec une mme conviction. Notre incapacit arbitrer entre eux risque de nous condamner au choc des civilisations prophtis par S. Huntington. Comment arbitrer et se frayer une voie du milieu ? Trs probablement en acceptant de poser sans crainte une question largement taboue : y a-t-il des valeurs naturelles? Mots cls: Marcel MAUSS, anti-utilitarisme, tiers paradigme, valeurs
Traduo do texto publicado no n19 de La Revue du MAUSS semetrielle, 1er semstre 2002
77
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LEN, Adriano de. A emoo e a guerra: fundamentalismos e incertezas. RBSE, v.2, n.4, pp.78-92, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
A emoo e a guerra: fundamentalismos e incertezas
Adriano de Leon
Resumo: O discurso fundamentalista se espraia alm do plano meramente poltico. A partir do uso de imagens como o diabo que refletem uma exacerbao da dicotomia do bem contra o mal, aes de terrorismo e intervencionismo poltico so levadas a cabo. Atravs de uma genealogia dos discursos fundamentalistas este texto intenciona desmembrar as facetas das estruturas que erguem e suportam nossas atuais incertezas. Palavras-chave: guerra, fundamentalismo, discurso, religio
"Os Estados Unidos so o Grande Sat!" Aiatol Khomeini, 1979
"Os Estados Unidos iro combater o demnio do terrorismo at o fim! George W. Bush, 2001
O grande choque
Aos onze dias do ms de setembro de 2001, pleno Terceiro Milnio, as torres gmeas do World Trade Center so atingidas por avies Boeing pilotados por kamikazes do novo tempo. Ruem aps duas horas de agonia. O poder simblico da destruio de um dos mais visveis monumentos do capitalismo norte-americano um monte de escombros. Toda a solidez do ao e do concreto se desmancha no ar, parafraseando K. Marx (1982, p. 135), como uma sentena proftica de final de milnio. Um terceiro avio se choca com o Pentgono, pondo em cheque a to proclamada inviolabilidade norte-americana. neste campo de terror e vingana que o fundamentalismo religioso se renova e emerge como o grande discurso do despertar do milnio.
78
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Sob o Sol em ries, 2003 o ano da retaliao fundamentalista de George W. Bush. Atacando o Iraque, isolados pelos protestos anti-guerra, os Estados Unidos, num s golpe, colocam em risco as deliberaes do Conselho de Segurana da ONU e fazem parecer sem eco os apelos mundiais pela paz. Embora hoje extremamente associado ao Isl, a expresso fundamentalismo surgiu para designar o revivalismo protestante norte-americano da virada do sculo passado para este (LAWRENCE, 1999). O seu uso fora deste contexto bastante questionado at porque, a rigor, os grupos a que se refere quando se fala do Isl no tm uma preocupao literalista na interpretao do Alcoro. Alm disso, como destaca um dos mais eminentes filsofos muulmanos contemporneos, Seyyd Hossein Nasr, no captulo 2 do seu Traditional Islam and the Modern World, o termo tem sido usado com tal amplitude, para designar tantos grupos to distintos entre si que o termo perdeu a sua utilidade como categoria cientfica. Lawrence justifica no s o uso de do rtulo "fundamentalista", bem como o carter paralelo deste movimento tanto no Protestantismo, como no Judasmo e no Isl e, embora limite sua anlise a estas trs crenas, avalia que existe similar em qualquer outra f mencionando explicitamente o Hindusmo, o Budismo e os Sikhs. Ele avalia que ainda que o rtulo no seja absolutamente adequado, ele permite, enquanto categoria sociolgica, que se faa um estudo comparativo que permite que se chegue ao cerne do problema e que, portanto o nome que se d ao fenmeno, em si, no importante. Admitidas estas restries de cunho instrumental, parece ser admissvel utilizar o termo. A interpretao tradicional do fenmeno fundamentalista se d a partir do entendimento deste como uma teodicia destinada a explicar a perda de poder e prestgio das camadas tradicionais da sociedade e a dissoluo de seus sistemas valorativos e cognitivos, mobilizando estes segmentos a partir de uma volta aos sistemas tradicionais, o que implica numa rejeio da Modernidade, ou da Alta Modernidade como prefere Giddens (1991). justo, pois, que se trate o termo fundamentalismo muito mais no plano emocional do que no plano poltico. E mesmo diante de uma enormidade de
79
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
artigos sobre a guerra, os Isl e o terrorismo, como se houvesse uma repetio da repetio do que j se foi dito. H uma guerra de notcias falseadas e uma srie de interpretaes cuja lgica tambm aberta e incerta. Isto reflete, entre outras coisas, a insuficincia do discurso meramente poltico incapaz de dar conta de um fenmeno to complexo quanto o fundamentalismo. Neste aspecto, o plano da emoo, da religio e dos discursos nos tm muito mais a dizer. Em relao Modernidade, o Fundamentalismo traz em si o discurso da afirmao e no da negao desta. Neste ponto a diferenciao do chamado Fundamentalismo Islmico em relao a outros fundamentalismos, cristo, judeu, marxista ou cientificista, parece se destacar e o mau uso do termo ganha um sentido inusitado e um retrato infiel do seu real significado. Subliminar ao conceito de Fundamentalismo est a idia de regresso aos Fundamentos da F, portanto de rejeio do que no est nas Sagradas Escrituras. O discurso poltico atual est infestado de imagens do sagrado, numa dicotomia absurda do que se estipula como o bem versus o seu oposto, o mal. H quatro condies essenciais para a caracterizao do Fundamentalismo: um reforo recproco entre crena e prticas rituais, uma tradio articulada que deriva sua legitimidade da autoridade de textos religiosos, um lder carismtico que lidere a formao institucional durante este processo - por vezes contestando a estrutura vigente - e por fim uma ideologia ligando o lder carismtico aos grupos dispersos (LAWRENCE, 1999). Os seguidores deste lder carismtico se apegam mais a um tratado atual dos textos sagrados feitos pelas lideranas do que ao texto sagrado propriamente dito. A definio anterior atende, em parte, questo de que o Fundamentalismo a afirmao da autoridade religiosa como holstica e absoluta, no admitindo crtica ou limitao; expresso atravs da demanda coletiva que aquelas ordenaes doutrinrias e ticas derivadas das Escrituras Sagradas deve ser publicamente reconhecida e legalmente reforada (LAWRENCE, 1999). Neste plano as Escrituras so o elemento legitimador da autoridade, aspecto que em si no suficiente para enquadrar o conjunto dos fenmenos atualmente denominados
80
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
"Fundamentalismos". Em parte isto se d porque as diversas fs tratam de forma diferente o papel das escrituras. A substituio da Escritura pela Revelao, portanto a legitimao baseada numa transcendncia mais esclarecedora para compreendermos o fenmeno contemporneo da escalada dos discursos religiosos no plano poltico. Um discurso convergente nestes fundamentalismos , sem dvida, o restabelecimento de um mundo perfeito, com o banimento das formas herticas: os novos pagos, a nova magia, o esoterismo no campo da Cincia Moderna. O discurso de George W. Bush sobre democracia e interveno poltica, o que chamo de Imperialismo Fundamentalista, traz um apelo tambm emotivo de revelao da verdade. O lder fundamentalista se sustenta, assim, por ser o portador desta revelao, que no caso da guerra EUA - Iraque, justifica seus atos num plano emocional do sagrado. pela sacralizao discursiva que Bush pde intervir em nome da democracia mesmo em se tratando de um presidente cuja eleio fugiu do cnone do processo democrtico. Com o advento da repblica Islmica no Ir de Khomeini e a consolidao de um discurso conservador nas esferas das trs grandes religies abramicas, o conceito fundamentalismo readquiriu novas cores, passando cada vez mais a significar movimentos de carter conservador e sectrio. A idia de que a vontade de Deus deve ser cumprida a qualquer custo ou sacrifcio permeia muitas outras religies, sobretudo o islamismo em pocas atuais. Na esfera interna, o fundamentalismo lido como movimento social, tem como estrutura constitutiva dois elementos bsicos: a rede de fiis e a liderana religiosa (ORO, 1996, p.75). A legitimao da liderana religiosa se d por diversos fatores, mas a obedincia o vetor que dinamiza esta relao. Atravs de uma gesto autoritria e totalitria do sagrado, da demonizao do inimigo, do excesso de fanatismo e da ausncia de relativizaes e de democracia, a liderana se impe ao grupo, constituindo a coluna mestra de seu funcionamento. O poder da liderana reside principalmente na recuperao e seleo de verdades reveladas no passado. No caso americano o sentimento do medo, plantado por fatos reais e reestruturado por uma eficiente rede de comunicaes que solidifica o poder do lder. O acordo do poder se d pela histeria de
81
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
proteo contra um inimigo exterior, contra o mal que significa subverso e desordem.
Fundamentalismo e milenarismo: os ecos do final dos tempos
impossvel separar o Fundamentalismo do discurso milenarista. H no primeiro todo um suporte escatolgico que defende o futuro como o advento de um novo tempo de glria e remisso. O milenarismo , pois, produto das religies abramicas, notadamente o judasmo e o islamismo. nestas religies que a idia de um tempo de purificao declaradamente cantado em versos, em profecias e cdigos de honra. O milenarismo traz imbuda a idia da Histria como um vetor. A linha do tempo, o tempo das tribos desde os mitos admicos, a gnese, o xodo, at a nova aliana, chegam ao Ocidente pelos ditos da razo iluminista. A contagem do tempo numa linha reta e sempre crescente , assim, a base da Histria Ocidental. A datao gregoriana (LEITE e WINTER, 1999, parte IV) estabelece uma uniformidade nos calendrios para que o mundo caminhe em unssono com a Igreja Catlica. Isto se d por um controle discursivo de tamanha fora por parte dos cristos que a celebrao do solstcio de inverno no hemisfrio sul - e seus cultos pagos a Saturno e a Mitra - foi proclamada como celebrao ao nascimento de Jesus Cristo. Em 440 DC a Igreja Catlica decide, ento, impor 25 de dezembro como data sagrada para o mundo cristo. Milenarismo e Fundamentalismo remetem ambos a uma espera: a espera do novo tempo, da volta ao estado de pureza original[1]. o tempo paradisaco, o tempo dos que sero julgados e jubilados. Assim, tanto os discursos de Osama bin Laden, Sadam Hussein quanto os de George W. Bush preconizam este tempo de expurgo. Faz-se mister perceber que antes desde tempo onrico, deve se dar a separao do joio do trigo. Desta feita, ao proclamar a morte aos satnicos, os dois lados refletem a submisso do outro condio do expurgo. A Modernidade e suas reescritas - a Sociologia, a Antropologia - no mais consideravam a Histria como um retorno sobre si mesma, mas como um vetor dirigido a uma realizao final[2]. A Modernidade e seus autores
82
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
constroem a idia de um tempo sempre crescente voltado a uma base de progresso. Bacon, Pascal, Smith, Kant e Darwin so alguns dos maiores expoentes desta idia de tempo progressista. O que h de comum entre todos eles a idia de superao do passado e da renovao evolutiva do futuro. O fetiche do novo da Modernidade tem aqui sua mais plena realizao. O Cristianismo, por sua vez, traz Modernidade a idia de avano a partir dos textos do Antigo Testamento, via renovao do antigo pelas propostas do Messias. A descoberta da Amrica marca no Ocidente cristo esta imagem de renovao dos tempos. Se de um lado havia a abertura dos Infernos atravs das imagens da Nova Terra, por outro se deu a procura pelo El Dorado nos Andes, na Amaznia, nas Minas Gerais, o futuro renovado e plenamente realizado no novo. Os relatos dos viajantes, primeiros sinais da Antropologia que se inaugura no sculo 19, esto tambm carregados de discursos fundadores. O conceito de civilizao, deste modo, forjado pela dicotomia civilizado-primitivo, bem como pela viso idlica de um paraso aps a superao das contradies presentes tantos nas hierofanias sagradas quanto nos textos do jovem Marx. Fundamentalistas e milenarismos vo constituindo assim o cenrio do Novo Mundo. O sculo 19 frtil na produo de discursos fundamentalistas de base religiosa. Nos Estados Unidos, um dos principais beros desta tendncia, Joseph Smith "encontra" o Livro de Mrmon, o qual prope um novo modo de compreender a gnese bblica e a Histria das Amricas. Na doutrina de Mrmon a idia de punio dos pecados se une crena na Amrica como territrio da restaurao das dez tribos de Israel (LIVRO DE MRMON, 1997). Segundo seus relatos, haver o dia da clera, na qual dar-se- a separao dos crentes na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ltimos Dias do meio dos mpios. Tambm nos Estados Unidos, o Movimento Adventista do Stimo Dia surge a partir de um discurso fundamentalista que tem por base o respeito ao sab, a recusa do tabaco e uma severa higiene alimentar[3].
83
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Em 1931 o juiz norte-americano B Rutheford, continuador da obra do pastor prebisteriano Charles T. Russell, solidifica as Testemunhas de Jeov, grupo religioso que prega o fim dos Estados e das religies, pois todos seriam guiados pelo diabo. No Oriente, a revoluo islmica de 1979 no Ir, inaugura uma batalha do bem contra o mal que abrange a maioria dos pases rabes, as ex-repblicas soviticas da Europa Oriental, Indonsia, Paquisto e Afeganisto, entre outros.
Por entre as dobras dos discursos: os elementos constituintes dos discursos fundamentalistas
A maior parte dos discursos fundamentalistas so permeados por algumas idias que podem ser assim descritas: 1. As cruzadas do bem contra o mal A dicotomia moderna do bem contra o mal uma constante no discurso milenarista. Para atingir o mundo novo preciso que se descarte o antigo e seus pressupostos. Surgem da as batalhas, as guerras, os enfrentamentos religiosos. So lutas que refletem de um lado a manuteno de um status quo, e por outro sentimento de guerra santa justificada pela "limpeza" para um tempo novo. um discurso blico e ao mesmo tempo sagrado. Est cheio de imagens de batalhas imemoriais nas quais as legies do mal clamam por sua derrocada a todo custo. 2. A memria do massacre Os massacres e os sacrifcios desempenham papel fundamental nos ditos fundamentalistas. H que se renovar o perodo que se esgota e h que se rememorar a data em que se restabeleceu a nova ordem sagrada. Como o tempo vetorial, deve haver um marco que assinale a entrada do tempo novo, da ordem nova, a era do sagrado. 3. A viso das pestes
84
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O expurgo dos impuros, tese central do fundamentalismo, ter lugar numa poca de agonia na qual as pestes sero o sinal mais visvel dos tempos vindouros. bem comum esta imagem no s nas iconografias medievais, mas tambm nos discursos do final de milnio. A partir dos anos 80 do sculo passado, por exemplo, a AIDS anunciada como a nova peste, o castigo para os fornicadores. A toda hora se evocam as desgraas prprias do final de um milnio, as derrotas econmicas, o surgimento de seitas, o avano de tendncias religiosas e a emergncia da Magia antes banida. 4. O anticristo O mito do inimigo sedutor o discurso mais presente nestes nossos tempos. Israel, Osama Bin Laden, Estados Unidos, Sadam Hussein, Palestina, Taleban, costumes modernos, entre outros, apontam como um mal absoluto dependendo da tendncia religiosa em tela. Sedutor, audaz, cruel, mgico e ardil este inimigo. Ele a justificativa absoluta das prticas fundamentalistas de separatismo e rancor. Representa o anticristo, o avano do outro no territrio do estabelecido, a intolerncia diferena, o momento final do conflito do bem contra o mal. 5. O julgamento O julgamento acabar com a velha dicotomia bem versus mal. Representa um ato final, um ato de expurgao na qual a batalha ltima ter efeito. tambm um ato inaugural que conduzir os eleitos ao paraso, numa perspectiva espao-temporal vetorial e evolutiva. Serve este ato para estabelecer uma ordem perdida pela corrupo da moral divina. um julgamento, pois, sobre-humano, portanto, inquestionvel e infalvel. 6. O livro da verdade As sagas das religies abramicas, nas quais se registram os mais refinados efeitos do fundamentalismo, esto povoadas de narrativas profticas que detm vrias ordens. Uma ordem histrica, em forma de cosmogonia e mitos criacionistas; uma ordem mstica, esta pouco explorada pelos fundamentalistas, uma vez que pressupe a transcendncia e a iluminao do esprito; uma ordem
85
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
moral, que representa a unificao das aes num quadro geral de normas de conduta relacionada a hbitos religiosos, corporais e sociais; e uma ordem proftica, direcionada a uma viso futurstica do estabelecimento de um plano final e natural dos acontecimentos. 7. O caos e a restaurao O profetismo se inscreve no campo das interpretaes hermticas. A linguagem que caracteriza este discurso contm elementos enigmticos que descrevem lugares e pocas os quais freqentemente refletem um momento de caos no presente. "O fim da Babilnia", "A queda da grande meretriz" so exemplos destas narrativas. um discurso codificado, cuja elaborao pelos profetas um lembrete de que o caos est por se instalar e com ele o momento do expurgo. H uma caracterstica prpria nesta linguagem: o uso de imagens simblicas relacionadas a determinadas caractersticas da personalidade humana: serpentes, drages, aves, feras, felinos. H outras ligadas personalidade divina: anjos, demnios, elementais. A destruio pelo fogo marca o caos. Este caos resume o fim da impureza na batalha final contra os inimigos e a vitria final do bem sobre o mal. Aps o caos uma nova ordem estabelecida. o discurso da restaurao, estruturao de um tempo mtico infinitamente duradouro. Para o fundamentalismo cristo ou islmico, o restabelecimento da ordem divina se baseia na reconstituio da Jerusalm Celeste. o ideal de territrio sagrado, de retorno ao centro do mundo. Neste local darse- a reunio daqueles que foram segregados pelos pecados que culminaram no caos.
A diabolozao do mundo: velhas e novas dicotomias
Os discursos fundamentalistas apontam para o diabo como a explicao para os desastres de qualquer natureza nesta transio do Segundo para o Terceiro Milnio. O processo de sujeio de pessoas e povos imagem do diabo serve de justificativa para atos de violncia, uma guerra justificada pelo restabelecimento da suposta ordem natural do mundo. As idias sobre o diabo se derivam de trs fontes: as interpretaes do Novo Testamento, o mito da queda a
86
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
partir de uma leitura da literatura romntica e as tradies populares pags dos cultos de sabs (Link, 1998). Era preciso que se fizesse a representao pictrica do diabo para que este deixasse de pertencer a uma ordem csmica do no representvel - como Deus abstrato - para uma ordem do representvel. Desta maneira, as primeiras representaes associavam o diabo a figuras antropozoomrficas ligadas a determinados animais como morcego, bode, serpente, mitos como o drago, o unicrnio, portando instrumentos de tortura da poca como foices, arpus e forquilhas. A literatura romntica d um toque humano ao imaginrio do diabo. Pode ser uma mulher, um homem, mas sempre representado com atributos como seduo, magia, luxria, fornicao, orgia, beleza. Com base nestes modelos, em 1559 Christopher Marlowe escreveu A Trgica Histria do Doutor Fausto, a qual inaugura uma srie de relatos literrios romnticos sobre a tentao do homem pelo diabo atravs da riqueza do luxo e dos prazeres da carne. Com a caa s bruxas o diabo assume a forma de condutor das heresias. Os hereges eram, ento, instigados pelo maligno se tornando seus adeptos mais fiis. A heresia tomada, assim, como a sujeio de indivduos a prticas no crists. Esta idia de pacto com o diabo serviu para justificar o assassinato de milhares de indivduos acusados de prticas associadas adorao de imagens, blasfmias, pecados da carne, concupiscncia, comunicao com espritos imundos, cultos anmicos, conspirao, injria, sacrifcios de crianas, entre outras mais. Ao resgatar a imagem do diabo para as suas diabruras polticas, homens como W. Bush e Bin Laden inflamam seus seguidores com o discurso do medo para justificar o desequilbrio e a angstia causados no pelo diabo, que o outro, mas por polticas desagregadoras que sacrificam grande parte do mundo a interesses minoritrios e localizados. H uma cultura do medo (DELUMEAU, 1989) nestes discursos fundamentalistas, da a presena do mal como representao da alteridade. O imaginrio de um imprio do diabo contra as naes crists no propriamente uma novidade. O
87
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
imprio otomano passa a ser uma representao do mal j no sculo 15. mesmo aps a queda de Constantinopla, a cultura mourisca foi alvo de investidas cujo objetivo era varrer da Europa Central os resqucios da infidelidade mulumana. As novas formas de heresia - o modo de vida ocidental para os fundamentalistas islmicos e o terrorismo mulumano para os fundamentalistas cristos so formas de controle de discursos que representam um contradito no campo das religies de origem abramica, presumidamente uniforme, uma vez que tem sua origem num mesmo conjunto de textos. Ao colocar os sujeitos como produto da articulao entre saber e poder, Michel Foucault descarta a possibilidade de que um processo racionalizador seja o condutor das mudanas sociais, como teorizava Max Weber, e, nesta perspectiva, busca uma forma de investigao distinta daquela usada pelos cientistas sociais clssicos. Esta forma Foucault vai encontrar no procedimento genealgico elaborado por F. Nietzsche[4]. Neste sentido, Foucault trabalha com o conceito de inveno, uma vez que no h uma verdade a ser descoberta pela investigao cientfica, ou seja, uma origem das coisas, e sim como estas coisas foram "inventadas" a partir de um discurso j-dito. Em pensando-se assim, pode-se anexar genealogia foucaultiana as propostas bsicas da Anlise de Discurso. O discurso fundamentalista inventa seus inimigos para que possa se realizar na sua suposta pureza. Inventar no significa criar a partir do nada, mas sujeitar o outro condio de maligno neste caso em particular. A prpria etimologia do termo discurso evoca a idia do curso, do percurso, do movimento. Assim entendido, o discurso seria o percurso dos vrios sujeitos - o sujeito errante -, sua disperso e conjuno em dados momentos. Esta disperso, no entanto, no aleatria. Ela socialmente controlada por um corpo de interpretadores do discurso, o qual, ao interpret-los, atribui sentidos aos mesmos. As instituies sociais administram os sentidos dos vrios discursos com base num jogo de saberes e poderes, estes tambm frutos de uma construo discursiva. Os fundamentalismos religiosos, com efeito, aparecem neste incio de milnio como a maior explicao para os conflitos territoriais e polticos ora em curso. No so as bolsas de valores, no
88
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
so as crises econmicas que dominam o cenrio dos discursos, mas a religio e seus modelos explicativos. Analisar discursos ou perseguir a genealogia de uma idia pr em suspenso a interpretao[5]. O objeto de investigao algo inexistente se no estivesse investido de sentidos para a sociedade e pela sociedade. A investigao da Anlise de Discurso, para a lingstica[6] se d no plano do interdiscurso, para Mangueneau, e no arquivo, para Foucault[7]. Assim, a busca dos discursos a busca da construo destes prprios discursos que emergem em vrias falas, sob vrios enunciados, configurando o perfil da sociedade que os retm. A inverso metodolgica de maior cunho no que diz respeito a analisar no as interpretaes de um discurso, mas o modo como este foi soerguido, quer dizer que o objeto est investido de significncia para os sujeitos e pelos sujeitos[8]. Deste modo, um mesmo objeto pode ter diferentes anlises, uma vez que a Anlise de Discurso um dispositivo analtico, o que pressupe sua adaptao a vrias formas interpretativas ou dispositivos tericos [9]. A partir das dobras para fora (FOUCAULT, 1982, Cap. 3) que se torna possvel visualizar o que est fora do quadro, ou seja, analisar os lastros formadores dos Fundamentalismos atuais. O visvel nos discursos fundamentalistas de Bin Laden ou W. Bush apenas uma pequena parte de rede interminvel permeada por idias to antigas quanto os livros religiosos de cristos e mulumanos. Da luta do bem contra o mal surge o caos, as pestes, os massacres e suas memrias. Esta dura batalha termina com o restabelecimento da verdade nica, o fundamentalismo no seu mais amplo espectro, verdade esta que presume o fim das heresias e da maldade que se agregou ao mundo. Foucault chama o corpus da anlise de arquivo. H sinonmias para tal, a exemplo de interdiscurso ou memria discursiva. Vale salientar que dentro deste corpus em anlise todas as formas ditas repousam sobre formas discursivas j-ditas. Assim, o arquivo no pode ser algo fechado que se encerre em si mesmo e onde toda anlise tenha efeito. Ao contrrio ele , por assim dizer, a ponta do iceberg de toda uma formao discursiva que atravessa espacilidades e temporalidades, bem como classes sociais e indivduos singulares. Conseqentemente
89
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
no posso pensar numa produo de discurso como ideolgica aos moldes marxistas, e sim como uma profuso de idias, um fluxo contnuo de dizeres, conforme Weber[10]. Produzir discursos produzir mediaes. Um discurso sempre uma interpretao ou uma printerpretao do mundo. Sua elaborao se d a partir de uma trama de outros tantos discursos que se entrelaam para aparecerem como um discurso uniforme e coerente. Se o discurso, portanto, visa a compreenso das coisas do mundo, ento ele almeja tornar coerente o que lhe parece difuso, comum o que lhe disperso, igual o que lhe chega diferente. O arquivo busca definir os discursos, no representaes. Esta uma idia central nos estudos Anlise de Discurso. A descrio das imagens, reconstituio dos modelos no so temas deste tipo metodologia. Na arqueologia, sinnimo de Anlise Discurso, o discurso um monumento. as de a de de
Neste esteio, no nos interessa interpretar os discursos fundamentalistas produzidos neste incio de milnio. A anlise proposta neste texto busca construir os modelos epistemolgicos sobre os quais se erguem os ditos atuais. So, pois as posies dos sujeitos o foco das reflexes feitas a partir da Anlise de Discurso. As prticas so reflexo de um discurso que clama, antes de tudo, por um controle de idias, corpos, emooes e sociabilidades. O fundamentalismo atual significa, portanto, um controle discursivo baseado nas idias do mal - o diabo - e do medo - o terror, evocados a partir de uma construo simblica milenarista a qual toma o diferente como causador do mal-estar do mundo que ora se renova.
Bibliografia
AGOSTINHO. DELUMEAU, Companhia (1996). Jean. A Cidade Mil de Anos das Deus. de So Paulo, So Loyola. Paulo, Letras.
(1999).
Felicidade.
DELUMEAU, Jean. (1989). Histria do Medo no Ocidente. So Paulo, Companhia das Letras. FOUCAULT, Michel. (1982). As Palavras e as Coisas. So Paulo, Martins Fontes.
90
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GIDDENS, Anthony. (1991). As Conseqncias da Modernidade. So Paulo, UNESP. GIRARDET, Raoul. (1982). Mitos e Mitologias Polticas. So Paulo, Companhia das Letras. LAWRENCE, Bruce. (1999). Defenders of God: the fundamentalism revolt against the modern age. Nova York, Paperback. LEITE, Bertlia & WINTER, Othon. (1999). Fim de Milnio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. LINK, Luther. (1998). O Diabo. So Paulo, Companhia das Letras. LIVRO DE MRMON, O. (1997). Salt Lake City, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ltimos Dias. MARX, Karl. (1982). Obras Escolhidas. Lisboa, Alfa e mega.
MANGUENEAU, Dominique. (1992). Novas Tendncias em Anlise do Discurso. Campinas, Pontes. NIETZSCHE, Friedrich. (1982). O Crepsculo dos dolos. So Paulo, Loyola. ORLANDI, Eni P. (1999). Anlise de Discurso. Campinas, Pontes. ORO, Pedro. O Outro o Demnio: uma anlise sociolgica do fundamentalismo. So Paulo, Paulus, 1996. SINGER, Helena. (1999). A Genealogia Como Procedimento de Anlise. In: Foucault. So Paulo, USP. WEBER, Max. (1992). Sociology of Religion. Londres, UCP.
***
Abstract: The fundamentalist discourse reaches beyond the political plan. Through images as the devil which figures out a dichotomy "good against evil", terrorism and political interventionism actions are permitted. Analyzing the fundamentalist discourses, this text is supposed to detach some structures which support our current uncertainties. Keywords: war, fundamentalism, discourse, religion
*** NOTAS
[1]
Recomendo a leitura de R. Girardet. Mitos e Mitologias Polticas, 1986. Neste contexto podemos inserir A Cidade de Deus de Agostinho como parte central desta idia.
[2]
91
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
[3]
Para mais explicaes vide J. Delumeau, Mil Anos de Felicidade, 1999. H. Singer, A Genealogia Como Procedimento de Anlise. A autora trabalha os conceitos de emergncia epistemolgica e inveno na obra de M. Foucault. A proposta bsica de F. Nietzsche em O Crepsculo dos dolos, 1983, p. 187-223, construir uma filosofia "a marteladas" que derrube os dolos da Modernidade. E. P. Orlandi, em Anlise de Discurso, 1999: 25 e segs., estabelece uma diferena bsica entre Anlise de Discurso e Hermenutica: a primeira visa compreender como o simblico constri sentidos, analisando a sua prpria interpretao, esta objeto da Hermenutica. Aqui no Brasil a UNICAMP representa esta vertente. H toda uma ligao da Anlise de Discurso com trs teorias: a Psicanlise, o Marxismo e a Lingstica Clssica. Nesta tese as citaes da Anlise de Discurso no tm necessariamente esta referncia terica. Foucault pensa o arquivo como um conjunto de saberes que se constroem a partir da interveno de um conjunto ordenado de poderes. A este respeito, E. P. Orlandi, em Anlise de Discurso, 1999: 26, apresenta uma srie de consideraes sobre a proposta metodolgica da Anlise de Discurso, bem como estabelece uma diferenciao entre esta e a hermenutica como procedimento analtico. Veja o exemplo da escola de Campinas ligada a Anlise de Discurso: as anlises feitas por Orlandi e outros seguem bem a vertente marxista que tem a ideologia na produo de discursos como tnica principal. Este no o nosso caso. Para M. Weber, em Sociology of Religion, 1992: cap. 2 e seg., bem como para D. MacRae, um dos seus bigrafos, ideologia seria para este autor "um fluxo catico de idias".
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
92
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
REZENDE, Claudia Barcellos. O brasileiro emotivo: reflexes sobre a construo de uma identidade brasileira. RBSE, v.2, n.4, pp.93-112, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
O brasileiro emotivo: reflexes sobre a construo de uma identidade brasileira
Claudia Barcellos Rezende
Resumo: Este artigo busca compreender a presena do elemento do afeto na construo de uma identidade nacional brasileira. Para tal, analisa trs textos clssicos do pensamento social brasileiro: Retrato do Brasil, de Paulo Prado, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre e Razes do Brasil, de Srgio Buarque de Holanda. Nestas obras, recorrente a idia de que os brasileiros tenderiam a agir seguindo suas emoes, o que teria conseqncias positivas e negativas. A partir de uma abordagem pragmtica dos discursos emotivos bem como de aportes dos estudos ps-coloniais, esta viso ambivalente dos brasileiros examinada em termos das relaes de poder entre colonizador e ex-colnia. Palavras-chave: identidade brasileira, pensamento social, emoo.
Quando pesquisei o tema da amizade entre ingleses para o meu doutorado, todos me explicavam como as diferenas de classe social dificultavam as relaes entre amigos. De volta ao Brasil, montei um projeto de pesquisa semelhante, cujo fio condutor era perceber como aqui as diferenas sociais afetariam a amizade. Qual no foi minha surpresa ao ouvir recorrentemente, nas entrevistas que fiz com cariocas de segmentos mdios, a afirmao de que se fazia amizade com qualquer pessoa independente de diferenas de gnero, idade, opo sexual, classe social, raa e religio. Todos falavam de um ideal de amizade estendido a muitos, sem "preconceitos", e davam exemplos de suas amizades com faxineiros, negros, homossexuais, para citar alguns dos casos mais mencionados de diferenas sociais, enfatizando que o "carter" era mais significativo do que estas distines[1]. Neste discurso, os elementos mais importantes da amizade eram o afeto, o carinho, a sinceridade e a confiana no amigo, de modo que, tendo estes ingredientes, qualquer um poderia ser um amigo.
93
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Esta facilidade de fazer amizade seria at um trao da auto-imagem do brasileiro, idia que aparece nos dados de uma outra pesquisa realizada com jovens que fizeram intercmbio no exterior[2]. No relato de suas experincias, havia freqentemente o contraste entre suas formas de ser - "calorosos" e "abertos" para as amizades - generalizada como um modo de ser brasileiro, e aquelas das pessoas hospedeiras, mais "fechadas" e "frias", em sua maioria de culturas anglo-saxs. A autoimagem do brasileiro como pessoa "calorosa" espontnea e afetuosa - que gosta de se relacionar com os outros tambm est presente nos estudos de Sales (1999) e Ribeiro (1999) sobre brasileiros residentes nos Estados Unidos. Entretanto, esta idia das amizades fceis no era sempre valorizada. Voltando aos dados das entrevistas com cariocas, em vrios momentos surgiam ressalvas de que estas no eram "amizades mesmo", sendo os "amigos verdadeiros" em nmero muito pequeno e muito difceis de serem encontrados. Neste contraste, as amizades amplas portavam um grau de desconfiana e superficialidade que nas "verdadeiras" no deveria haver. Ou seja, por no terem a "intimidade" e a confiana das amizades "verdadeiras", podiam esconder "interesses" e "ms intenes" por trs de uma "aparncia" afetuosa. Este discurso problematizava o argumento de Da Matta (1985) de que, na sociedade brasileira, as amizades tornam-se recursos sociais importantes, isto , a idia de que estas relaes podem servir a propsitos e interesses variados para alm do lao afetivo no era bem aceita pelos entrevistados cariocas. Com esta breve discusso sobre amizade, quero destacar alguns pontos. Primeiro, h a idia de que a facilidade de fazer amizades vista como um reflexo de um modo de ser afetuoso, emotivo e espontneo. Segundo, tal caracterstica parece ser tomada como um elemento de uma identidade nacional brasileira. Terceiro, ela percebida com ambivalncia. Por fim, se estas idias fazem parte de um imaginrio especfico - segmentos mdios urbanos na dcada de 1990, elas encontram ecos em algumas vises mais clssicas do pensamento social brasileiro sobre a sociedade brasileira. Frisando a especificidade de cada um - pocas e contextos muito distintos - meu objetivo neste artigo voltar analise de algumas obras que se tornaram paradigmticas para
94
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
compreender a presena do elemento do afeto na construo de uma identidade nacional brasileira. Para tal, escolhi trs textos clssicos do pensamento social brasileiro: Retrato do Brasil (1929), de Paulo Prado, Casa-Grande & Senzala (1981 [1933]), de Gilberto Freyre e Razes do Brasil (1982 [1936]), de Srgio Buarque de Holanda. Farei um recorte bastante especfico para os limites deste artigo. Partindo de uma abordagem antropolgica que analisa as representaes e valores como elementos de um certo modo de pensar, examino a idia encontrada em todas as trs obras de que, em funo de um fundo emotivo muito presente, os brasileiros tenderiam a agir seguindo seus afetos, o que teria conseqncias positivas e negativas. Argumento que esta viso ambivalente dos brasileiros movidos pela emotividade torna-se fundamental na construo de uma identidade nacional brasileira. Meu foco no elemento da emoo no decorre apenas da sua centralidade para uma identidade brasileira, como apresentarei a seguir. Deve-se tambm a uma postura terica preocupada com a elaborao cultural da subjetividade, da qual as emoes fazem parte no como realidades psicobiolgicas mas como construes culturais. Mais ainda, focalizar os discursos sobre as emoes torna-se significativo no apenas como meio de ter acesso subjetividade mas tambm pelos efeitos que produzem nos contextos em que so pronunciados (Lutz e Abu-Lughod, 1990). Ou seja, privilegia-se a dimenso pragmtica dos discursos emotivos, que constrem experincias e reverberam nos aspectos mais variados da vida social. Assim, falar sobre as emoes bem como caracterizar algum - ou uma sociedade - de emotivo tm conseqncias para um conjunto de relaes mais amplas, perpassadas sempre por negociaes de poder, conforme discuto neste artigo.
Narrando a nao
Como vrios autores recentes (Anderson, 1991, Hall, 1998, Smith, 1995, Verdery, 2000) tm mostrado, as identidades nacionais so construes - narrativas mesmo para citar Bhabha (1990) pautadas freqentemente na noo de uma cultura e histria partilhadas, implicando vises muitas vezes homogeneizantes e essencialistas desta cultura comum.
95
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ao contrrio do que pretendem estas construes, os estudos sobre identidade nacional mostram como ela datada historicamente - cada perodo elege elementos e narrativas que variam e usam com freqncia como contraste identidades estrangeiras, como ela construda sobre uma diversidade cultural e social e como ela tende a no ser consensual, sendo objeto de negociao e disputa entre grupos distintos. com estas questes em mente que aponto algumas semelhanas entre as trs narrativas escolhidas antes de examinar cada uma em detalhe. As trs obras foram escritas entre as dcadas de 20 e 30, perodo em que a discusso sobre uma identidade nacional especificamente brasileira fervilhava nos meios intelectuais e artsticos. A Semana de Arte Moderna de So Paulo, em 1922, j havia se tornado um manifesto nas artes em busca de uma esttica que rompesse com os cnones europeus. No cenrio poltico, a Repblica Velha encontrava crticos, como Alberto Torres, que acusavam a legislao, modelada na constituio norte-americana, de no ajustar-se sociedade brasileira. Alm disso, revelava-se a fragilidade da unidade nacional com vrias revoltas regionais. Neste contexto, os debates em torno da construo de uma identidade nacional brasileira voltavam-se para a exaltao de caractersticas que seriam "autenticamente" brasileiras. Assim, encontramos nas trs narrativas a valorizao da mestiagem entre portugueses, africanos e indgenas, o que j demarcava um afastamento de vises anteriores afinadas com as teses do racismo cientfico segundo as quais o cruzamento entre as raas produziria seres inferiores (Seyferth, 1989). O foco na varivel raa, at ento utilizado como fator explicativo da sociedade brasileira, seria deslocado para a noo de cultura, de modo que os trs autores priorizam, ao falar da miscigenao, valores, costumes e disposies dos portugueses, africanos e indgenas, em detrimento de aspectos fisiolgicos dos trs grupos. Mas a idia de cultura utilizada tinha suas especificidades, no apenas em termos do prprio conceito antropolgico da poca como tambm do contexto particular de construo de uma identidade nacional. Em todos os trs textos, presume-se uma homogeneidade cultural entre todos os membros de uma dada sociedade ou grupo, de forma que possvel falar
96
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
em "carter nacional" bem como em um tipo genrico como "o brasileiro", "o portugus", etc.[3] Tal pressuposto, por sua vez, tem dois correlatos: remete idia de uma essencialidade cultural que produz uma viso esttica da cultura. Pode-se falar em uma homogeneidade cultural porque cada membro do grupo compartilharia um conjunto de elementos culturais autnticos, fixos e praticamente imutveis (Woodward, 2000). Assim, teramos em comum nas trs obras, por exemplo, as idias de que "o portugus" tem a caracterstica de plasticidade social e "o brasileiro" movido pela emoo, ilustrando o que seria o "carter nacional" de cada. Utiliza-se igualmente o tempo verbal no presente, uma vez que tais descries no se alterariam com o tempo. A prpria coeso destas imagens sobre a sociedade e a cultura brasileira reforada pela comparao constante com outras sociedades, cujas culturas seriam do mesmo modo essencializadas. Nas trs narrativas, o foco preferencial recai sobre os Estados Unidos, por alguns motivos. Sendo igualmente um pas com vasto territrio, teve tambm uma colonizao que data do mesmo perodo que a brasileira. Contudo, o fator que o torna particularmente atraente para comparaes a diferena nas formas de colonizao anglo-sax e portuguesa. Assim, variando os elementos discutidos bem como os sinais positivos e negativos atribudos a cada um, a discusso sobre o que o Brasil surge atrelada s percepes sobre o que so os Estados Unidos. Outro trao comum s obras escolhidas o recurso ao que seria o passado, a histria da nao como forma de compreenso da cultura no presente. Nos trs livros, comeamos com a chegada dos portugueses ao Brasil - a descoberta[4] - como marco fundamental para entender a formao da sociedade brasileira. Todos discutem a mestiagem como decorrncia de uma determinada forma de contato entre grupos culturais. Embora Gilberto Freyre em Casa-Grande Senzala se detenha no perodo colonial enquanto os demais chegam ao incio do sculo XX, tanto a colonizao portuguesa quanto a mestiagem tornam-se traos significativos do passado para a definio do que "o brasileiro". Por fim, todos esto comprometidos com um projeto de pensar a nao brasileira, expondo de formas mais ou menos explcitas suas opinies sobre o pas,
97
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
apontando para qualidades e problemas a serem resolvidos. Por trs destas posturas distintas - a exaltao de Gilberto Freyre contrastando com o pessimismo de Paulo Prado e Srgio Buarque de Holanda - est uma preocupao em situar o Brasil em relao a outras sociedades, em particular com as naes modernas. Encontramos nos trs textos uma viso quase evolucionista, que toma um modelo nico de modernidade - o europeu - como fim a ser alcanado pelo Brasil. Se esta preocupao demonstra at certo ponto o carter relacional inerente ao processo de construir identidades em geral, reflete tambm a posio especfica do pas como ex-colnia que almeja o mundo do colonizador (Gandhi, 1998). Como veremos a seguir, esta a questo subjacente viso do brasileiro emotivo.
Histrias das paixes
Em Retrato do Brasil (1929), Paulo Prado constri um "quadro impressionista" do pas, para usar suas palavras, focalizando a compreenso do que chama a "psique nacional"[5]. Para tal, analisa sua formao atravs de um prisma psicolgico, baseando-se muito nos relatos de viajantes brasileiros e estrangeiros. Ao rever os vrios momentos da colonizao - da "descoberta" ocupao pelos bandeirantes - bem como as mudanas ocorridas com a independncia e a proclamao da repblica, Prado enfatiza sempre as foras emotivas que marcaram estes perodos, deixando em segundo plano aspectos da organizao social, econmica e poltica. Busca "no fundo misterioso das foras conscientes ou instintivas as influncias que dominaram os indivduos e a coletividade" (p.183). Nomeia seus captulos, portanto, com ttulos como "a luxria", "a cobia", "a tristeza", sentimentos que caracterizariam esta "psique nacional" e explicariam o estado da sociedade brasileira na poca em que escrevia. J no incio, conforme Prado, veramos nos portugueses esta forte verve emotiva. Logo na primeira pgina do livro lemos que a "descoberta" do Brasil aconteceu movida por dois "impulsos" cruciais: "a ambio do ouro e a sensualidade livre e infrene" (p.09). Se a prpria colonizao do Brasil pelos portugueses foi motivada pela ambio e pela sensualidade, estas disposies emotivas ganhariam uma nova fora com "a seduo dos trpicos", tanto em virtude da natureza do
98
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
pas quanto do encontro com a populao indgena "animal lascivo" nas palavras de Prado (p.33).
"Para homens que vinham da Europa policiada, o ardor dos temperamentos, a amoralidade dos costumes, a ausncia do pudor civilizado - e toda a continua tumescncia voluptuosa da natureza virgem - era um convite vida solta e infrene em que tudo era permitido" (p.33).
A marca dos trpicos era ento temperamentos exacerbados e ausncia de controle - de pudor e de costumes morais - em contraste com o "policiamento" europeu, levando assim a uma vida desregrada, "luxria". Se este trao apresentado de forma negativa, h uma importante conseqncia positiva na viso de Prado: pela vida emotiva "infrene" que "todos proliferam largamente, como que indicando a soluo para o problema da colonizao e formao da raa no novo pas" (p.51). A miscigenao dos portugueses com ndios e depois negros no apenas resolve o problema de ter um contingente humano para ocupar o territrio como tambm cria um "produto humano fisicamente selecionado" (p.51) que se adapta bem vida colonial nos trpicos. Prado valoriza o mestio brasileiro no apenas pela sua adaptabilidade como tambm pelos exemplos de inteligncia, cultura e valor moral existentes no pas, j em consonncia com a tendncia da poca de valorizao da mestiagem no Brasil. Mas, fazendo uma ressalva que lembra as teses do racismo cientfico, indaga se o cruzamento racial no teria provocado entre os mestios uma certa "fraqueza fsica", com pouca defesa para "a doena e os vcios" (p.192-3). No entanto, a "vida solta" dos colonos acarreta mais problemas do que solues. Os temperamentos ardorosos e a falta de controles produz um "individualismo infrene, anrquico pela "volatilizao dos instintos sociais", cada qual tendo no peito a mais formidvel ambio que nenhuma lei ou nenhum homem limitava"(p.59). Se os bandeirantes, por seu papel de integrao do territrio, foram um exemplo positivo do que este individualismo pode gerar, "faltavam-lhe os estimulantes afetivos de ordem moral e os de atividade mental" (p.105) que transformassem a riqueza
99
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
conquistada em prosperidade duradoura. Viviam movidos fundamentalmente pela "cobia". Nesta argumentao, o contraste com a colonizao americana explcito e ilumina as conseqncias deste individualismo anrquico. Nos Estados Unidos, os colonos se submetiam "rigidez da lei puritana" e esta forte disciplina religiosa promovia uma "poderosa unidade de esprito social", "um rigoroso principio cooperativo" (p. 112), responsveis pela independncia do pas. A associao entre a presena marcante da religio puritana e um "instinto de colaborao coletiva" enfatizada por Prado, que assinala a falta destes princpios de ordem moral entre os colonos portugueses. Nota-se que o catolicismo no visto como religio que prov semelhante disciplina e rigidez, mesmo com sua condenao da cobia e da luxria.[6] No Brasil, a "ausncia de sentimentos afetivos de ordem superior" (p.123) criou uma "raa triste", aptica, submissa e individualista. O "carter social" foi dissolvido pela amoralidade do sistema escravocrata, a administrao pblica foi em geral falha e a unidade do territrio - fruto da iniciativa privada das bandeiras manteve-se graas a apatia e no por um sentimento de pertencimento nacional. Em sntese, "a histria do Brasil o desenvolvimento desordenado dessas obsesses subjugando o espirito e o corpo de suas vtimas. (...) Desses excessos de vida sensual ficaram traos indelveis no carter brasileiro." (p.121). Prado elabora, ento, um quadro sombrio de um povo "melanclico". Ao mesmo tempo em que faz um recorte analtico centrado nos "impulsos", "foras conscientes e inconscientes" e "afetos" que formaram a sociedade brasileira, cria tambm uma imagem do brasileiro movido por um excesso de emoes. Pode-se questionar at se no esta imagem que o motiva a escolher este recorte. Com tal abordagem, remete a uma viso das emoes como realidades naturais, existentes a priori, que condicionam as formas sociais, criando um determinismo psicolgico por assim dizer. No caso brasileiro, este determinismo parece ser ainda mais exacerbado, pois haveria uma falta de controle emotivo e, pior, uma perda - uma "volatilizao", uma "dissoluo" dos "instintos sociais". Ainda assim, ao fazer a distino entre sentimentos morais e amorais, de ordem superior
100
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ou inferior, Prado concede s emoes a possibilidade de um papel construtivo se forem aliadas disciplina, ao rigor de um elemento social como a religio, caso dos Estados Unidos onde teria havido um instinto de colaborao coletiva,. No Brasil, pelo contrrio, no teria havido este balizamento social que contivesse as emoes em excesso, obsesses mesmo, levando portanto ao oposto - ao individualismo anrquico, responsvel pela ausncia de um esprito de cooperao coletiva e, consequentemente, por governos com administraes pblicas falhas. Casa-Grande & Senzala (1981 [1933]) traz um tom positivo completamente oposto obra de Paulo Prado. Para Gilberto Freyre, a emotividade do portugus e do brasileiro torna-se uma importante qualidade, vista a partir de uma perspectiva antropolgica afinada com a escola culturalista de Boas. Ao contrrio de Prado, Freyre privilegia a compreenso das caractersticas culturais da formao da sociedade brasileira colonial. Com o foco nas relaes entre portugueses, indgenas e negros, analisa tanto seus aspectos socio-econmicos quanto sua dimenso cultural em termos de costumes e valores, com uma nfase maior nestes ltimos. Como Paulo Prado, Freyre volta aos portugueses e suas caratersticas para comear sua anlise da sociedade colonial. H um trao fundamental portugus que seria responsvel por elementos cruciais da sociedade em formao: a plasticidade. Sendo hbridos eles mesmos, os portugueses teriam uma "singular predisposio" para a colonizao dos trpicos. Possuiriam as caratersticas de aclimatabilidade, mobilidade e miscibilidade, favorecendo no s a adaptao fsica ao pas de clima tropical quanto a povoao do vasto territrio. Pontuado por antagonismos de fundo emotivo, o portugus teria "um carter todo de arrojos sbitos que entre um mpeto e outro se compraz em certa indolncia voluptuosa muito oriental, na saudade, no fado, no lausperene" (p.07). Destaco aqui o aspecto da miscibilidade dos portugueses, pedra de toque no argumento de Freyre, fator no apenas de povoao do pas mas de formao cultural da sociedade brasileira. J sendo, nas palavras de Freyre, "um povo indefinido entre a Europa e a frica" (p.05), os portugueses teriam pouca "conscincia de raa", deixando-se atrair por mulheres indgenas e,
101
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
posteriormente, negras.[7] No havia assim preocupao dos colonizadores com a pureza de raa, apenas com a f catlica. A "mistura de raas" foi no apenas fsica mas cultural - nos costumes em geral. Ao longo do livro, Freyre aponta os elementos indgenas e negros que se mesclaram aos portugueses, desde modificaes na dieta, vesturio, hbitos de higiene ao "amolecimento" da lngua portuguesa. Para Freyre, a "mistura de raas" junto com a agricultura latifundiria e a escravido tornam-se a fundao da sociedade colonial, cuja unidade bsica a famlia patriarcal. Diz ele:
"a famlia, no o indivduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comrcio, desde o sculo XVI o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a fora social que se desdobra em poltica, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da Amrica" (ps.18-19).
Neste trecho, Freyre destaca a importncia dos vnculos familiares extensos, mostrando que o princpio de colaborao coletiva, para usar termos de Prado, no ultrapassaria os limites da famlia, gerando muitas vezes o "privatismo". A famlia patriarcal seria uma fora poltica to atuante que, na poca da colonizao, se sobreporia ao Estado. At a religio catlica se adaptaria ao poder da famlia, tornando-se muito mais um culto familiar do que de "catedral ou de igreja" (p.22). Dentro desta famlia colonial, encontraramos em escala menor "um processo de equilbrio de antagonismos" (p.53) que estaria presente em toda sociedade brasileira colonial. No centro deste processo, estaria a relao senhor - escravo, atrelada s oposies entre culturas europia e africana, raas branca e negra. Freyre mostra com detalhes como a relao entre senhores - pai, me e filhos pequenos - e escravos homens e mulheres - foi marcada pela violncia, por prticas "sdicas" dos primeiros e por um "correspondente masoquismo" (p.51) dos segundos. Ao mesmo tempo, havia tanto "voluptuosidade sexual" quanto "doura" entre eles, de tal forma que, segundo as tradies, as mespretas ocupariam um verdadeiro lugar de honra no seio das famlias patriarcais (p.352). Freyre resume, no esprito que marcou sua obra: "somos duas metades
102
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
confraternizantes que se vm mutuamente enriquecendo de valores e experincias diversas; quando nos complementarmos num todo, no ser com o sacrifcio de um elemento no outro" (p.335). Ao contrrio do caso anglo-americano, onde subsistem "duas metades inimigas", este equilbrio que permite dar vazo a "toda nossa vida emotiva e [s] nossas necessidades sentimentais e at de inteligncia", pois o privilgio de um lado apenas implicaria na expresso de "s metade de ns mesmos" (p.335). Assim como Prado, Freyre constri sua viso do Brasil colonial contrastando-o com outras sociedades, em particular a norte-americana. No entanto, inverte os sinais, fazendo uma leitura positiva da colonizao brasileira. Em particular, a verve emotiva do portugus que o torna plstico responsvel pela mistura no apenas racial mas sobretudo cultural que seria a especificidade brasileira. Mesmo na famlia patriarcal brasileira, a intensidade de sentimentos - sempre presente, seja na relao ao mesmo tempo "violenta" e "doce" entre senhores e escravos, seja nas rivalidades entre famlias gerada pelo privatismo - no tomada como trao problemtico. Ao contrrio, ao afirmar que a famlia - e no o indivduo ou o Estado - torna-se a unidade social bsica, Freyre est buscando mais uma compreenso do que seria a sociedade brasileira e menos uma avaliao do que ela deveria ser. Em Razes do Brasil (1982 [1936]), voltamos a encontrar uma viso mais negativa da sociedade brasileira, compartilhando de algumas inquietaes j manifestadas por Paulo Prado. Em seu estudo de cunho sociolgico e histrico, Srgio Buarque de Holanda v a forte presena das "paixes" na formao do pas. Tal elemento, junto a uma falta de "racionalizao", seria responsvel por muitos problemas que colocariam o Brasil em um situao de desvantagem em relao a outros pases. Do mesmo modo que Prado e Freyre, Holanda inicia seu livro com os portugueses, atribuindo a eles tambm a caracterstica de plasticidade social tanto em relao adpatao ao meio-ambiente quanto no contato com outros grupos, como os indgenas e negros. Entretanto, ao contrrio de Freyre, que veria nesta interao a produo de uma cultura nova, hbrida, Holanda acredita
103
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
que a influncia portuguesa se sobreps s outras. "Podemos dizer que de l [Portugal] nos veio a forma atual de nossa cultura; o resto foi matria que se sujeitou mal ou bem a essa forma" (p.11). Esta forma teria mudado pouco ao longo dos sculos, sofrendo uma mudana mais significativa com o declnio da economia agrria no sculo XIX. Ao escrever a concluso, Holanda argumenta que mesmo na dcada de 30, quando se percebe a criao gradual de um novo estilo na sociedade, o desafio est em levar a termo o "aniquilamento das razes ibricas de nossa cultura" (p.127). Quais as caractersticas portuguesas que Holanda toma como particularmente formativas da sociedade brasileira? Um dos traos mais decisivos o que Holanda chama de "cultura da personalidade" - a importncia atribuda "ao valor prprio da pessoa humana, autonomia de cada um dos homens em relao aos semelhantes no tempo e no espao" (p.04). devido a esta cultura que acordos coletivos durveis seriam difceis, produzindo uma frouxido ou falta de coeso social. Laos de solidariedade formar-se-iam apenas quando houvesse "vinculao de sentimentos mais do que relaes de interesse" (p.10). Outro aspecto marcante enfatizado por Holanda a presena de uma tica da aventura entre os portugueses, por meio da qual exploraram o pas com "desleixo e certo abandono" e no atravs de um "empreendimento metdico e racional" (p.12). O aventureiro, em oposio ao tipo trabalhador empreendedor caracterstico da colonizao norteamericana, teria as qualidades de audcia, imprevidncia, instabilidade, entre outras, e seu objetivo estaria na conquista de espaos ilimitados, de alcanar um fim sem se preocupar com os meios. Estas caractersticas permitiram que os portugueses se adaptassem com facilidade vida na colnia. Contribuiu para isso, conforme argumenta Holanda, a "ausncia completa, ou praticamente completa, de qualquer orgulho de raa" (p.22), trao significativo da plasticidade portuguesa que levaria mistura racial. Outra dimenso importante estava no "exguo sentimento de distncia" entre senhores e escravos, formando relaes de proteo e solidariedade entre eles, dissolvendo qualquer "idia de separao de castas ou raas" (p.24). A "simpatia transigente" e universalista da Igreja catlica teria colaborado com esta tendncia proximidade social
104
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
e fsica entre as classes e raas. Assim, em acordo com Freyre, Holanda v na mestiagem um elemento positivo por seu papel na fixao europia nos trpicos. Mas o culto da personalidade e a tica da aventura tiveram outra conseqncia, bastante problemtica segundo Holanda: a falta de uma capacidade de associarse de modo duradouro. As associaes aconteciam motivadas por certas emoes coletivas, como no caso de tarefas relacionadas ao culto religioso, ou por sentimentos pessoais de amizade ou vizinhana. A importncia destes vnculos pessoais e afetivos na cooperao entre os indivduos seria assim um trao compreensvel em uma sociedade personalista como a brasileira. Nas palavras de Holanda,
"o peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa poca, uma acentuao singularmente enrgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnao ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o contrrio do que parece convir a uma populao em vias de organizar-se politicamente" (p.31).
Nesta passagem, Holanda ressalta no apenas o fundo afetivo das aes entre os brasileiros - e antes deles entre os portugueses - mas o critica por "atrofiar" as qualidades racionais fundamentais para a organizao poltica do pas. na descrio do "homem cordial" que Holanda explicita como deve ser a relao entre o pblico e privado e como ela se d na sociedade brasileira. O Estado moderno seria caracterizado por sua descontinuidade com a esfera domstica, sobre a qual transcenderia e triunfaria com suas leis gerais. A burocracia estatal seria marcada pela especializao de funes, exercidas por funcionrios escolhidos pelo mrito e dedicados a interesses objetivos. De maneira correlata, teramos o sistema industrial moderno, com produo em larga escala e relaes impessoais entre empregador e empregados. , em suma, uma nova ordem fundada em princpios abstratos que substituiriam os laos de afeto de sangue (p.103), distinguindo claramente assim os domnios pblico e privado. Entretanto, Holanda ressalta que na sociedade brasileira no este o modelo de relaes observado.
105
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Antes, encontraramos a "supremacia incontestvel" da famlia, de modo que "as relaes que se criam na vida domstica sempre forneceram o modelo obrigatrio de qualquer composio social entre ns" (p.106). Assim, a escolha dos funcionrios pblicos dar-se-ia no por suas qualificaes mas sim pela confiana pessoal neles. Alm disso, veramos de um modo geral a dificuldade com as relaes impessoais e a tendncia a buscar sempre um contato mais prximo, mais "familiar". "A manifestao normal do respeito em outros povos tem aqui sua rplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade" (p.108). Tais expresses espontneas "de um fundo extremamente rico e transbordante" (p.107) seriam um reflexo da cordialidade que marcaria fundamentalmente o carter brasileiro. Ao contrrio da polidez, que se torna uma forma de defesa das emoes diante da sociedade, a cordialidade revelaria o oposto, um desejo de viver nos outros e o medo de viver consigo mesmo. Porm, Holanda est longe de ver no "homem cordial" um elemento positivo da sociedade brasileira, pois, para ele, "essa aptido para o social est longe de constituir um fator aprecivel de ordem coletiva" (p.113). O fundo emotivo que alimenta a cordialidade e, antes dela, a cultura da personalidade que movia os portugueses em funo de seus laos afetivos provocariam movimentos irregulares de associar-se aos outros, tornando-se difcil a cooperao coletiva estvel e bsica a uma ordem social. Sem a ao da racionalidade que disciplina as paixes, que gera motivaes pautadas em interesses e idias e no nas emoes, dificilmente teremos, na viso de Holanda, um Estado moderno, baseado em uma democracia liberal. Para tanto, seria preciso "liquidar" os "fundamentos personalistas" da sociedade brasileira. Temos ento em Razes do Brasil um estudo refinado da sociedade brasileira e de sua formao. Discutindo desde o incio da colonizao, com o estabelecimento de uma sociedade agrria, pautada na escravido e na monocultura, e de suas poucas cidades iniciais, at as mudanas posteriores com a vinda da famlia real portuguesa em 1808, Holanda associa aos aspectos da organizao social estudados o que seriam as motivaes e os valores coletivos, enfim, os traos da cultura portuguesa que vem a formar uma cultura brasileira. Mais uma vez, encontramos o destaque dado a
106
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
um forte componente afetivo como caracterstica cultural brasileira, o que Holanda considera ao mesmo tempo positivo e negativo. Em consonncia com Prado e Freyre, temos a positividade concedida mestiagem, decorrente deste fundo emotivo transbordante que elimina as distncias fsicas entre as raas. No plano negativo, vemos Holanda desenvolver de forma mais profunda um argumento que nos livros de Freyre e Prado aparece de uma forma menor: a negatividade acordada irregularidade das associaes coletivas e os problemas acarretados formao de um Estado moderno, conseqncias das paixes irrefreadas. este tom crtico de Holanda que se sobressai e terminamos o livro no apenas com uma anlise iluminada mas tambm com uma viso pessimista da sociedade brasileira.
O Brasil atravs do espelho
Uma das caractersticas recorrentes nas representaes europias sobre o mundo colonial era a emotividade dos "selvagens". Esta emotividade seria reflexo de uma condio mais primitiva, no sentido de uma evoluo fsica e psicolgica, como em uma criana ou mesmo em um animal - donde, o termo selvagem. Associada a ela estaria a irracionalidade, posto que seria somente pela falta do controle da razo que teramos seres to emotivos, seguindo a lgica do pensamento cartesiano que ope emoo razo, por sua vez associada ao contraste entre natureza e cultura. Assim, teramos que as emoes seriam realidades naturais, psicobiolgicas, enquanto que a razo espelharia a ao da cultura entendida no sentido de civilizao (Lutz, 1988). Estas idias estavam presentes no apenas nos relatos de missionrios, viajantes e administradores coloniais como tambm permearam a antropologia psevolucionista. Assim foi que Malinowski e Evans-Pritchard debateram-se com a questo sobre a irracionalidade dos povos "primitivos", argumentando sobre lgicas de raciocnio distintas das europias - vide o "problema" da no-participao masculina na concepo entre os trobriandeses e das crenas na bruxaria entre os azande sem colocar em xeque a prpria indagao sobre o que significa ser racional ou irracional. Esta viso sobre uma emotividade em excesso e a conseqente falta de racionalidade encontra-se presente nos relatos de
107
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
europeus que vieram ao Brasil ao longo do perodo colonial. So estes textos que fornecem muitas das referncias citadas ao longo de Retrato do Brasil, CasaGrande e Senzala e, em presena menor, Razes do Brasil, informando at certo ponto as interpretaes dos autores sobre os brasileiros. No entanto, o olhar europeu marca estas obras - e muitas outras - de um modo mais profundo do que apenas atravs de referncias. Como ressaltam os tericos dos chamados estudos ps-colonialistas (Chatterjee, 1993, Gandhi, 1998), os movimentos nacionalistas nos pases que foram colonizados lidam inevitavelmente com o passado colonial, em particular com a diferena entre colonizador e colonizado, premissa do prprio colonialismo. Segundo Fanon, referncia para estes estudos, a resistncia ao colonialismo envolve a superao da alienao do colonizado, que no se v como sujeito mas sim como coisa, atravs do olhar do colonizador; "dito de outra forma, o colonizado importa a sua conscincia, ele o reflexo do reflexo" (Ortiz, 1994, p.57-58). Assim, no exemplo dos indianos dado por Gandhi, "sua busca de plenitude europia, seu desejo de possuir o mundo do colonizador, exige simultaneamente a negao do mundo que foi colonizado (1998, p. 12)[8]. No caso brasileiro, h a particularidade de que os colonizados originais foram reduzidos a uma parcela muito pequena de forma que a prpria ocupao do pas se deu pelos descendentes do colonizador portugus, mestios ou no. Ocorre ento um fenmeno curioso descrito por Anderson (1991), um trao que, como ele sugere, seria extensivo a toda a Amrica Latina. Os funcionrios administrativos das colnias j nascidos nas Amricas pensavam-se como indistintos dos europeus por compartilharem com eles lngua, religio, ancestralidade e costumes. Entretanto, para os europeus, estes "criolos" ficavam marcados pela inferioridade por terem nascido em terras selvagens, imputao esta que demonstrava j no sculo XVI a preocupao com a contaminao biolgica que viria a se cristalizar com o racismo cientfico do sculo XIX (Anderson, 1991, p. 58). Assim, se encontramos nas trs obras analisadas o projeto de pensar na especificidade brasileira, durante e aps seu perodo colonial, que v na mestiagem sua caraterstica distintiva, percebemos tambm este olhar
108
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
identificado com uma viso europia que renega os nascidos nos trpicos. No toa que predomina entre os autores, em menor proporo em Casa-Grande & Senzala, o uso do verbo na terceira pessoa - e no na primeira pessoa do plural - para falar de um ponto de vista distanciado sobre o Brasil, como por exemplo: "a vida ntima do brasileiro nem bem coesa, nem bastante disciplinada, para envolver e dominar toda a sua personalidade, integrando-a, como pea consciente, no conjunto social" (Holanda, 1982, p.112). Se este estilo de escrita cria sempre o distanciamento do autor do texto elemento hoje criticado nas etnografias clssicas, nestas obras a impresso que se cria de um olhar estrangeiro vendo a sociedade brasileira. assim que os brasileiros so caracterizados acima de tudo por uma emotividade "transbordante", trao atribudo pelos europeus aos povos colonizados de um modo geral, ainda hoje diga-se de passagem[9]. uma viso que toma a emoo como fenmeno naturalizado, de base psicobiolgica, de tal forma que ser emotivo implica estar mais prximo "natureza" do que "cultura". Ou seja, do ponto de vista dos europeus colonizadores, a emotividade manifesta um sinal de inferioridade e por isso que Paulo Prado e Srgio Buarque de Holanda reiteram a necessidade de disciplina como elemento civilizador, entendido aqui no sentido evolucionista. Mas, como convm a uma viso ps-colonial, o olhar do colonizador no aceito to simplesmente e, portanto, a noo de um povo particularmente emotivo no criticada to facilmente. Encontramos assim uma ambivalncia nas obras analisadas aqui. Do ponto de vista negativo, a emotividade em excesso levaria a um individualismo anrquico, onde a unidade no seria tanto o indivduo mas o grupo familiar e de amigos, privilegiado sempre acima da coletividade de um modo mais amplo, comprometendo portanto as transformaes exigidas pela modernidade. Por outro lado, produziria tambm um movimento contnuo de aproximar as pessoas, o que seria visto como superador das distncias de classe e raa e, consequentemente, considerado positivo. Guardadas as devidas distines, encontramos reflexos desta ambivalncia nas vises contraditrias dos entrevistados citados no incio deste artigo. Nelas, a
109
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
emotividade seria "natural" aos brasileiros e refletida na forma como fazem amizades. Haveria igualmente aspectos positivos e negativos quanto a esta caracterizao. No plano positivo, encontramos as afirmaes de que os brasileiros fariam amizade com qualquer um, independente de suas caratersticas sociais, com facilidade, posto que seria uma extenso desta afetividade ampla. Neste sentido, a amizade tomada como um sentimento que parece tornar-se mais um adjetivo em relaes estabelecidas por outros motivos (como por exemplo no trabalho). Embora esta viso sentimental da amizade seja muito valorizada, ela colide em certos momentos com uma noo mais substantiva de que a amizade uma relao pautada no apenas em sentimentos mas sobretudo em confiana e "intimidade", e portanto so poucos os "verdadeiros" amigos. Neste contexto, a idia de que as amizades podem ser utilizadas como recursos sociais condenada por ser "interesseira" e "falsa" em relao ao que seria a "verdadeira" amizade confiana, troca de "intimidade", apoio mtuo e afeto. A noo do brasileiro emotivo portanto parte importante de uma identidade nacional brasileira, tanto em vozes contemporneas quanto passadas, em discursos acadmicos e de senso comum, recebendo em cada contexto elaboraes particulares. , assim, uma construo cultural que, mesmo difundida amplamente, sofre questionamentos e crticas, bem como variaes regionais, de classe, gnero, etc. Podemos tambm indagar se as transformaes nas ltimas dcadas, que valorizam a construo de uma cidadania efetiva pautada em uma esfera pblica mais distinta do domnio privado, acarretariam uma mudana no modo de pensar esta emotividade, como elemento que no traria necessariamente conseqncias negativas para a ordem poltica ou para o exerccio de um esprito coletivo. So, enfim, questes instigantes para um exerccio de anlise de uma identidade nacional que, longe de essencializada e fixa no tempo, est sempre em elaborao.
Bibliografia
ABU-LUGHOD, Lila. Writing women's worlds. Berkeley, University of California Press, 1993. ANDERSON, Benedict. Imagined communities. Edio revista. Londres, Verso, 1991.
110
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BHABHA, Homi. "Introduction". in Bhabha, Homi (org.), Nation and narration. Londres, Routledge, 1990. CALDEIRA, Teresa. "A presena do autor e a ps-modernidade na antropologia". Novos Estudos Cebrap, no.21, julho, 133-157, 1988. CHATTERJEE, Partha. The nation and its fragments: colonial and postcolonial histories. Princeton, Princeton University Press, 1993. CORREA, Mariza. "Sobre a inveno da mulata". Cadernos Pagu, n. 67, p.35-50, 1996. DaMATTA, Roberto. Conta de mentiroso. Rio de Janeiro, Rocco, 1993. DaMATTA, Roberto. A casa e a rua. 5a edio. Rio de Janeiro, Rocco, 1997. FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. 21a edio. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1981. GANDHI, Leela. Postcolonial theory: a critical introduction. New York, Columbia University Press, 1998. HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. So Paulo. DP&A, 1998. HOLANDA, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. 15a edio. Rio de Janeiro, Livraria Jos Olympio, 1982. LUTZ, Catherine. Unnatural emotions: everyday sentiments in a Micronesian atoll and their challenge to Western theory. Chicago, University of Chicago Press, 1988. LUTZ, Catherine & COLLINS, Jane. Reading National Geographic. Chicago, The University of Chicago Press, 1993. NORVELL, John M. "A brancura desconfortvel das camadas mdias brasileiras". in Y. Maggie e C. B. Rezende (orgs.), Raa como retrica: a construo da diferena. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 2002. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira & identidade nacional. 5a edio. So Paulo, Brasiliense, 1994. PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. So Paulo, Duprat-Mayena, 1929. REZENDE, Claudia Barcellos. Os significados da amizade: duas vises sobre pessoa e sociedade. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2002. RIBEIRO, Gustavo Lins. "O que faz o Brasil, Brazil: jogos identitrios em So Francisco". in R. R. Reis e T. Sales (orgs.). Cenas do Brasil migrante. So Paulo, Boitempo, 1999. SALES, Teresa. "Identidade tnica entre imigrantes brasileiros na regio de Boston". in R. R. Reis e T. Sales (orgs.). Cenas do Brasil migrante. So Paulo, Boitempo, 1999. SEYFERTH, Giralda. "As cincias sociais no Brasil e a questo racial". in Cativeiro e Liberdade. Rio de Janeiro, Seminrio do IFCH/UERJ, 1989.
111
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
SMITH,
Anthony.
Identidade
nacional.
Lisboa,
Gradiva,
1997.
VERDERY, Katherine. "Para onde vo a "nao" e o "nacionalismo"?" in G. Balakrishnan (org.), Um mapa da questo nacional. Rio de Janeiro, Contraponto, 2000. WOODWARD, Kathryn. "Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual". in T. T. da Silva (org.) Identidade e diferena: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrpolis, Vozes, 2000. ***
Abstract: This article attempts to understand the presence of the element of affection in the construction of Brazilian national identity. It analyses three classical studies of Brazilian social throught: Retrato do Brazil, by Paulo Prado, Casa-Grande & Senzala, by Gilberto Freyre, and Razes do Brasil, by Srgio Buarque de Holanda. In these texts, we find a recurrent idea that Brazilians tend to behave according to their emotions, a trait that would have positive and negative consequences. With reference to a pragmatic analysis of emotive discourses as well as to post colonial studies, this ambivalent view about Brazilians is examined in terms of power relations between colonizer and colonized. Keywords: Brazilian national identity, social thought, emotions.
***
Notas
Este material analisado em profundidade em Rezende (2002). Estes dados so resultados do projeto "A construo de identidades e alteridades atravs da amizade", que contou com bolsas de iniciao cientfica do programa PIBIC/UERJ e com a participao de Juliana Bastos Lohmann na realizao de entrevistas. [3] Na crtica antropolgica dos anos 80, um dos elementos da escrita etnogrfica mais rechaado foi justamente esta generalizao e tipificao que anulam a individualidade, a heterogeneidade e, consequentemente, a possibilidade de conflito e mudana (Abu-Lughod, 1993, Caldeira, 1988). [4] Ver DaMatta (1993) sobre as conotaes de passividade em torno do termo "descoberta", em contraste com a idia de "fundao" por exemplo. [5] Nas citaes dos textos analisados, apresento a grafia dos termos em sua forma atual. [6] Agradeo a Maria Claudia Coelho o comentrio sobre essa viso do catolicismo. [7] No texto de Freyre, como mostram Correa (1988) e Norvell (2002), a dimenso do gnero sempre presente - so homens portugueses que so seduzidos pelas mulheres ndgenas e negras. [8] Minha traduo do original: "their questing pursuit of European plenitude, their desire to own the coloniser's world, requires a simultaneous disowning of the world that has been colonised". [9] Lutz e Collins (1994) mostram as representaes que os norte-americanos tm sobre as pessoas dos pases do terceiro mundo atravs da anlise das fotografias publicadas na revista National Geographic.
[2] [1]
112
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
RAMREZ, Jos Palacios. Algunas disquisiciones "culturales" sobre la(s) globalidad(es): dilemas entre lo local y lo global. RBSE, v.2, n.4, pp.113-125, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
Algunas disquisiciones "culturales" sobre la(s) globalidad(es): dilemas entre lo local y lo global.
Jos Palacios Ramrez
Resumo: Tendo por contexto geral a chamada "globalizao", este texto busca trabalhar com a emergncia das redes como forma de ordenao dos fluxos comerciais, informais e de movimento dentro de um panorama cada vez mais transnacionalizado. Parte da hiptese de que este processo deve ter alguma influncia nos lugares perifricos, distantes dos grandes centros, mas que possuem um papel no interior da estrutura social local. Palavras-Chave: Local; Global; redes de ordenao
Situada a diferentes niveles y espacios dentro de diferentes articulaciones nodales y de diversas direccionales en los flujos, teniendo por contexto general, como no poda ser otro, la llamada "globalizacin", la emergencia de las redes como forma de extensin y ordenacin de los flujos comerciales, informales y de movimiento -y mucho ms- dentro de un panorama cada vez ms evidentemente transnacionalizado en muchos aspectos que, obviamente, ha de tener algn tipo de influencia en lugares "perifricos", muy alejados de los grandes centros, pero que tienen un papel. Esta nueva situacin de descentramiento de los limites entre los habituales niveles local y global, obligan, o parece que lo harn, a nuevas formas de etnografa, de un carcter mas creativo o positivista, dependiendo de posicionamientos epistmicos, pareciendo seguramente mucho mas atractiva la eleccin de la primera opcin en la cual, la etnografa y la teora, lo local y lo global se han de superponer continuamente, retroalimentndose, dibujando el hilo conductual del texto. Antes de continuar avanzando, tal vez seria positivo ofrecer una visin panormica, algo superficial eso s, de parte de los tems tericos que en los ltimos tiempos han ido apareciendo y conformando un panorama de preocupacin "ms cultural" por la llamada globalizacin. La idea sobre la funcionalidad de estas breves
113
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
disquisiciones, adems de intentar aclarar algunas concepciones que, en mi opinin, parecen llevar a engao si se aceptan como puntos de partida sin un mnimo de discusin previa a nivel terica y epistmico, sern el servir como aproximacin al dilema que tras todo ello se esconde, la capacidad de las ciencias sociales y en especial de la antropologa para resolver la ecuacin de los puentes entre lo local y lo global. As pues, la aceleracin de las interconexiones transnacionales y el aumento tanto a nivel real como de anlisis terico del desplazamiento, descentrando en cierto modo la conformacin centro-periferia en mltiples centros y periferias dependiendo de la situacin. Dentro de las distintas aproximaciones, marcadas como no por la disciplina desde la que se realizan, parecen haber dos niveles bsicos de anlisis y reflexin, uno interesado por el anlisis cultural a una escala muy general, de forma ms terica, intangible quiz, que se preocupara por la globalizacin en todos sus diversos aspectos, partiendo en algunos casos de situaciones empricas concretas. La otra tendencia opera ms bien al contrario, pues partiendo de la abstraccin terica, sobre todo de la homogeneizacin que se supone ha preimpuesto la globalidad, intenta llegar a "dispositivos" concretos de dicho cambio cultural que se encuentran insertos en la vida cotidiana a un nivel mucho ms micro. Y es que si bien es cierto que la divisin entre lo abstracto y lo concreto, en este caso entre lo global y lo local, es algo en buena medida impuesto por el observador, dichos categorizaciones tienen la funcionalidad de facilitar el anlisis, al igual que el hecho de plantear el anlisis de forma sincrnica o diacrnica, presentando los fenmenos globales como procesos de largo alcance o de realidades emergentes, "decisivamente innovadores". En este sentido, parece bastante interesante la idea de Hannerz (1998: 35-36) que plantea que la concepcin de la dualidad local/global es poco acertada en su acepcin dialctica, pareciendo mucho ms acertada una acepcin rizomtica. A su vez, otra cuestin a plantearse es la globalizacin como un fenmeno no nuevo, fijando la atencin en sus discontinuidades, vindolo como un fenmeno que avanza y retrocede, que se presenta de muchas formas, fragmentadas y notablemente desiguales, con lo que se habr de hablar, en todo caso, de globalizaciones. No obstante, como tambin advierte el propio Hannerz (1998: 52-53) habr
114
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
que tener cuidado con el prejuicio preimpuesto de considerar lo local como "muy profundo" y a lo global como algo "muy superficial". Pero, sin duda, una de las temticas que han centrado mi atencin dentro de lo que podemos calificar como anlisis metacultural son los flujos culturales, en parte ahora ms acelerados y en espiral, migratorios, las llamadas "disporas" o ejercicios de trasposicin cultural que, muy por encima de los sesgos y de las distintas capacidades para adaptarse a estas nuevas variantes, dejarn claro lo interesante de estas situaciones "novedosas" para las ciencias sociales y, sobre todo, para la antropologa, dado que, evidentemente, se estn dando nuevas negociaciones de los espacios que llamamos cultura, algo que como siempre se mover en espacios de la diversidad, es decir, entre lo mismo y lo otro, dejando lugar para los "sesgos" del observador. Tanto es as que, como manifiesta Clifford en su Itinerarios Transculturales, esta cuestin ser parte importante de las preocupaciones por la cultura:
"... la propensin de sta a afirmar el holismo y la forma esttica, su tendencia a privilegiar el valor, la jerarqua y la continuidad histrica en normas de la vida corriente frente a procesos impuros, ingobernables, de invencin y supervivencia colectivas" (Clifford, 1999: 12).
Otro trabajo inevitable en cualquier repaso general y que ha resultado bastante llamativo dentro de los espacios generadores de "alta teora" sobre la globalizacin es el de Garca Canclini (2000) y no cabe duda de que, como ocurre casi siempre, ste ofrece un tratamiento original dentro de lo que cabe del tema en cuestin, partiendo de la bsqueda de "dilogos entre fronteras y globalizacin" entre "mercado e interculturalidad" (2000: 10), algo que por otra parte no parece muy distinto de la propuesta del conocido Culturas hbridas (1989), pero con "la curiosidad" de que la terminologa cercana a la "entelequidad" de la globalizacin no haca an su aparicin. De entrada parece interesante el planteamiento de "bsqueda" de globalizaciones circulares y tangenciales, pero tambin la ya comentada respuesta "rizomtica" de Hannerz, no obstante, quiz puedan ofrecer "otras cosas", algunos planteamientos ms explcitos como del de Beck (1998) y no ya por los niveles de abstraccin, entre los que es ms que evidente ya que no tengo nada en contra, sino por la "ruptura" entre los planteamientos previos y el texto siguiente Obviamente, parte de la "problemtica" de este
115
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tipo de imposturas acadmicas que seguramente se hace ms visible en autores como Garca Canclini, es lo que Reynoso (2000: 26-27) califica como tendencia a la "complejizacin artificiosa", algo que obviando la "incomprensin" de dicho autor para con los posicionamientos relativistas, tiene algo de realidad, primeramente por los modos acadmicos, mientras que la parte real y tangible del problema es lo verdaderamente complejo de un anlisis de la globalidad a partir de hechos concretos y particulares. Siendo muchos de los peros posibles al trabajo de Canclini aplicables a muchos trabajos sobre globalizacin por cuestiones epistemolgicas en las ciencias sociales, principalmente a algo tan evidente como que parece que al hablar de culturas hbridas o de globalidad nos olvidemos de la gente que las vive, interpreta o recrea, seguramente porque no tiene excesivo sentido la mera teorizacin de la globalidad sin partir de realidades concretas, desde discursos, prcticas, estructuras, dimensiones y dispositivos, de forma que a partir de ah se pueda arrancar para "romper" las distancias entre las realidades concretas en las que se mueve la etnografa y otras muy lejanas, quizs mas cercanas a la reflexin no emprica, pero no tericas puesto que su papel es esencial, aunque no visible. Siendo estas realidades a su vez tan dinmicas que no permiten elaborar "agendas", si acaso intentar rastrear sus huellas muy de lejos, dotando de creatividad a las herramientas de anlisis existentes.
**
En absoluto tengo aqu la intencin de realizar ningn aporte novedoso al respecto de las distintas teorizaciones de la globalizacin, algo que sin duda sera una pretenciosa temeridad y que se aleja bastante de mis intereses. Tampoco se trata de ofrecer algn tipo de sntesis terica que muestre las distintas vas u opiniones tericas al lector, que podr comprobar con una simple ojeada la ausencia de algunas referencias seeras dentro del panorama actual, cuya ausencia no se debe en algunos casos al desconocimiento, sino ms bien a que mi pretensin en este espacio es muy distinta, pues consiste en elaborar algn tipo de reflexin sobre la posibilidad, a travs de la etnografa para construir mapas que podramos llamar "interactivos", dado que servirn para
116
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
poner en situacin al lector y tambin a los propios autores. Digo poner en situacin porque la intencin en estos niveles de complejidad no puede ser otra que deslindar, separar y distinguir entre los mltiples niveles y realidades que sirven de contexto general y en el que se insertarn las interacciones, flujos y situaciones en las que, a su manera, tambin deben participar los lugares de tradicional ocupacin por parte de los etngrafos, de forma compleja, interactiva, ciertamente asimtrica, pero real, aunque no perceptible si las etnografas se empean en "encajonar" estos lugares en la categora atemporal de "tradicionales", y/o como mucho oprimidos por la entelequia de la globalidad, sin mostrar las formas en que los procesos de mundializacin generan en estos lugares dinmicas adaptativas de creatividad cultural y adaptacin, que permanentemente transgreden los limites globales y locales. Por supuesto, como antes deca, "recientemente" se ha dado una aceleracin de las interrelaciones, intercambios e influencias a nivel mundial, algo en buena parte unido a las redes comerciales y a los flujos de informacin, pero que seguramente tena un buen trecho adelantado en lugares como Latinoamrica, por medio de los cultivos comerciales como el caf o el cacao y tambin por medio de la extraccin de otras materias primas valiosas dentro de los circuitos occidentales, como el oro, el cobre o el petrleo. An as, hay que aceptar como vlida la opcin o interpretacin de que los cambios en el mapa geopoltico mundial y me refiero no slo a un nivel internacional con el aumento de poder de los agentes transnacionales y los espacios que stos administran, sino tambin a un nivel ms local, con un drstico cambio de papel del estado-nacin que parece estar tramitando su papel hacia nuevas organizaciones socioeconmicas del espacio. Nuevas organizaciones del espacio que sern perceptibles no slo a un nivel ms general o global, con la emergencia de espacios transnacionales de supuesto "libre intercambio", Estas nuevas formas de organizacin de los espacios y de distribucin de los papeles regionales estarn en buena medida determinados por la formacin de espacios de flujos en constantes cambios y tambin de un asombroso inmovilismo, al menos en apariencia. Dicho reparto de papeles, pese a ser aparentemente intangible, no visible, afectar de forma muy concreta y a muy
117
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
diversas escalas al dinamismo o declive de los diversos mbitos territoriales, siendo, claro est, la principal metfora explicativa la organizacin en redes (vase Caravaca, 1998: 39-80) dentro de las cuales se darn los movimientos de flujos. De entrada, aunque positiva, la utilizacin del concepto de redes necesita a la vez de continua discusin y aclaracin, debido a su constante y ambiguo uso, ms si cabe dentro de una disciplina como es la Antropologa Social, que ha utilizado dicha conceptuacin dentro de niveles muy locales en contraposicin a un uso mucho ms amplio y territorial, como sera el que se desprende de las teorizaciones geogrficas, aunque personalmente considero que ambas visiones son perfectamente compatibles; no obstante, la utilizacin del concepto de red implica un nivel inmenso de relaciones, coyunturas y situaciones que pueden presentarse como ambivalentes, ambiguas e incluso contradictorias y que aqu intentar deshilvanar, al menos de forma somera, para aclarar la utilidad que puede tener en el contexto de un anlisis antropolgico en un lugar aparentemente perifrico como cualquier pueblo perdido, que en teora, sera ms apto por un anlisis "micro" de la comunidad, no siendo obviamente este el caso concreto. As como para ofrecer una breve idea de la perspectiva en que el concepto es utilizado aqu, para no ofrecer una excesiva confusin, aunque la cuestin no es que me vaya a decantar por una opcin concreta, sino ms bien que intentar componer una propia a partir de fragmentos o rasgos diversos, pero complementarios. Una de las primeras cuestiones que puede aparecer en una reflexin sobre la organizacin socio-espacial en red y que tal vez es la que ms fuertemente atae al tema que aqu se trata son las dinmicas socio-culturales que giran entorno a lo que podramos llamar "la otra cara" de los procesos de "modernizacin" y "racionalizacin" ligados anteriormente a la extensin del estado y ahora a la extensin de las nuevas formas de organizacin a las que antes me refera. Me refiero a la capacidad que estas redes tienen para definir los lugares, funcionalizarlos y organizarlos (Douglas, 1997: 66), aunque est claro que esta disposicin socio-espacial, en gran medida, impuesta desde arriba tambin ofrece oportunidades relativas de descentralizacin. As pues, a pesar de las nuevas variantes situacionales han generado una fuerte fragmentacin de los espacios y regiones socioeconmicos, tambin han dado lugar a una totalizacin
118
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
(vase Pradilla, 1997) que impone prcticamente dinmicas inmutables en ciertos niveles, lo que ocurre es que es tal la dispersin de redes a distintos niveles y tal la fragmentacin de la realidad cuando se profundiza que se crea una oferta que Ydice (1995: 63) ha calificado como la raison baroque, refirindose a la capacidad de la "cultura transmoderna" para integrar en una representacin visual coherente espacios visuales diferentes, como por ejemplo se pueden considerar los espacios microlocales donde cabe la horizontalidad, la negociacin y la articulacin de tcticas de resistencia y a su vez los espacios verticales propios de la accin trasnacional donde no cabe casi ningn tipo de toma de decisiones "desde abajo", pues son en apariencia espacios conectados pero lejanos, con lmites disolutos, borrosos. Evidentemente, por ms que pueda pesar a las dinmicas de "venta de la novedad" acadmica, los hechos, condiciones e interrelaciones que las ciencias sociales, sobre todo la Antropologa Social, han venido en llamar redes, no son en absoluto una novedad, pese a que los contextos y significaciones sociales hayan transmitido los lugares y los hechos del poder siempre fueron los mismos, por ms que autores como Castells (1996: 415) amparados en la metfora se empeen en confundir el hecho de que Internet funciona en red, con la generalizacin absurda de que sta haya condicionado la nueva morfologa geo-econmica del sistema mundial. De hecho, curiosamente los distintos analistas de la conformacin regional de los territorios en redes afirman que la clave de un anlisis realmente comprensivo de las nuevas condiciones pasa por un dilema que, en el caso de los antroplogos, podramos calificar como un "viejo conocido", esto es, que la clave se encuentra en la articulacin de los niveles de anlisis global y local (vase: Dolfus, 1997: 113; Santos, 1996). As como parece estar aceptado que las desigualdades se manifestarn, por consiguiente, por el grado de integracin/exclusin de las distintas zonas dentro de los distintos mbitos y dinmicas sobre territorialidades "dominantes". As pues, desde este mbito ms geogrfico, que empieza a coincidir en algunos intereses con lo que podramos calificar como una "antropologa de lo transnacional" se han aportado distintas metforas explicativas de diversa operatividad, como la de archipilago (Douglas, 1997: 2526; Pradilla, 1997: 46) la de placas tectnicas (Lacour, 1996: 28) que pretende abarcar, dentro de lo posible, el
119
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
descentramiento de esquemas tericos que parecen empezar a disolverse, como la divisin que relaciona el mbito rural con discursos de "atraso" y el industrial con otros de carcter desarrollista; as como el clsico esquema de centro y periferias, ligado a una visin del progreso lineal, cercana al paradigma de Rostow (1973). A su vez, dentro de cada "unidad nacional", lo que podramos llamar "arquitectura de redes" se reproduce de forma idntica, diferente, diversa, en bastantes regiones y centros locales, de forma que todo el "sistema" llega a estar interconectado (vase Dicken, 1997: 77-89). Todo esto encaja bastante bien con los anlisis de la mundializacin que afirman que sta conlleva una maleabilidad del espacio (Wackerman, 1997: 27-28) en la que la divisin entre espacios centro y periferias en sus distintos niveles deviene en una cuestin de posible accesibilidad. Por otra parte, quedarn al menos una diferenciacin que aadir, que tendra a su vez que ver con dos cuestiones, se tratara en primer lugar de lo paradigmtico de productos como el caf, que podramos llamar de "largo recorrido" y que se incluirn junto con otros como el petrleo, aunque los productos agrcolas suelen ser ms bien de "corto recorrido". Y digo paradigmtico por lo vlido de este tipo de productos como para mostrar todas las estructuras y dinmicas de dicha mundializacin, dado que en este caso se entrecruzan las dinmicas ms locales como en el caso de la produccin y las estrategias de comercializacin a pequea escala, con procesos de extensin de redes a nivel global, un ejemplo obvio son las oscilaciones del precio del caf y su influencia en lugares muy lejanos a los centros de acopio y comercializacion, dentro de lo que se llamar verticalidades que articulan por medio del sistema comercial globalizado, en forma de capitales intangibles, el mencionado nivel local de produccin con otro tambin local como son las redes de distribucin en pases casi siempre lejanos. Del mismo modo, la otra cuestin subyacente y que hace paradigmtico un producto transnacionalizado como el caf, es su capacidad para entrecruzar de nuevo distintos espacios de horizontabilidad, en los cuales s que se da la posibilidad, aunque asimtrica, de interaccin de los productores -en este caso- con los distintos agentes mediadores institucionales, que en este caso sern casi siempre de carcter estatal. Mostrndose a este nivel tambin otros sistemas superpuestos que influyen en las coyunturas y
120
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
condiciones "desde arriba", como seran los espacios transnacionales de libre comercio o las asociaciones y tratados entre pases productores.
***
Si hasta aqu lo planteado se presenta como complejo y complejizado, incluso como algo confuso, esto no responde a un "problema" a mis dispositivos retricos de escritura, sino ms bien al contrario, pues se podra considerar algo premeditado, pero en absoluto meritorio, ya que de hecho las realidades que intento presentar son, con toda seguridad, mucho ms complejas de lo que se puede llegar a recrear en cualquier construccin textual. Y es que la mera presentacin del funcionamiento de la llamada globalizacin como la extensin del funcionamiento social en redes sera bastante reduccionista, incluso lo podramos calificar de "bidimensional", ya que sera no prestar atencin a las profundidades y perspectivas transversales que cualquier hecho social conlleva. Me refiero, siguiendo de nuevo el ejemplo de un producto como el caf, a toda una serie de cuestiones que tambin habra que tener en cuenta, como que en el nivel de produccin y venta se da toda una serie hiper-compleja de tomas de decisiones que superponen, de forma coherente, discursos y prcticas en las que se entrecruzan lo tradicional y lo innovador, la pervivencia y el cambio; as como tanto en dicho nivel como a niveles de consumo de dicho producto en otros lugares, se ponen en juego toda una serie de momentos emergentes donde lo econmico-material se torna cultural-simblico, entrando en escena una serie de lgicas, significados y significaciones culturales yuxtapuestas, pero no necesariamente incoherentes, puesto que son una realidad, de manera que este tipo de cuestiones tendrn su momento ms tangible cuando se trata de cuestiones tocantes a lo que, en un sentido muy clsico, podramos llamar poltica, es decir, en el encuentro de lgicas culturales de vida de gente de un - en absoluto homogneas- con las disposiciones por una parte de un mercado o una economa transnacional, que preimpone sus lgicas y patrones no slo de produccin y consumo, sino tambin de vida y adems se da tambin el encuentro por otra parte con otros agentes sociales internacionales, en este caso, el estado con su proyecto
121
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
homogenizador, "filantrpicamente impositor", integrador y excluyente dentro de sus proyecciones de modernizacin y desarrollo de estas zonas. En este sentido y a esta visin responde el intento textual y conceptual que dirige este trabajo y que se presenta una como intencin cartogrfica, debido a que tanto en el estilo de escritura como en el deseo de significacin, el trabajo es un ensayo de proyeccin cartogrfica, que tiene que ver con una preconcepcin de la escritura que, como afirma Deleuze y Guattari (2000: 12) no tiene tanto que ver con significar, como con deslindar, cartografiar, bajo lo que ellos mismos denominan el principio de heterogeneidad y multiplicidad. De cualquier manera esto no tiene nada de original, pues la aceleracin de las dinmicas de interconexin global, que algn terico como Theborn (2000a: 149-150; 2000b: 151-179) ha presentado a un nivel epistemolgico dentro de las ciencia sociales como la trasmutacin de lo universal en global, bajo tres nuevas variantes de variabilidad, conectabilidad e interaccin y que de algn modo cumple el "proftico" anuncio de la mxima marxista del desvanecimiento areo de lo slido por parte de Berman (1988) ha obligado en general a lo que se podra considerar un cambio de paradigma dentro de las ciencias sociales. Quiero decir, mi presentacin o visin terica de superposicin y entrecruzamiento catico de distintas tipologas de redes, dentro de su pertenencia a distintos "niveles de realidad social" a la manera de un tipo de lo que en matemticas se ha denominado geometra fractal.
"Los objetos contienen toda una serie de dimensiones distintas, no hay "zonas de transicin" sino otras dimensiones ms o menos estructurales". (Mandelbroot, 1987: 22 y ss).
As como la pretensin de que para la percepcin de las distintas redes que se entrecruzan en lugares concretos -en este caso- y entorno a determinados productos, puede tener mucho ms valor las metforas explicativas de la mencionada geometra fractal, es decir, las teoras de la turbulencia o de la posicin de las estrellas, no es, como deca, nada original y responde como tambin mencionaba a algn tipo de cambio epistemolgico en las ciencias sociales, que se han visto obligadas a cambiar sus presupuestos basados en concepciones y teoras muy cercanas a lo esttico, por
122
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
diferentes acercamientos a algn tipo de intento de captar los aspectos dinmicos, fluidos, de valga la redundancia, la dinmica social (vase a este respecto: Balandier, 1994). Algo que puede tener mucho que ver con la vieja discusin de la fsica, sobre las dinmicas de estado y posicin y su distincin dentro de los anlisis y teoras y que, de hecho, ha de tener algo que ver con la reaparicin en escena de las viejas teoras de sistemas, en este caso sistemas abiertos y autoreferentes, influenciados por las aportaciones elaboradas por Niklas Luhmann bajo el precepto de reconocimiento de la complejidad (1997: 16 y ss) y que tiene mucha relacin con la general emergencia en distintos panoramas de anlisis, tambin antropolgicos de nociones como entropa o riesgo. Seguramente, lo que ocurre con los dilemas que plantean el romper con la dualidad local/global, a la vez que ensayar intentos de anlisis de pretensiones relativamente integrales de realidades "mundializadas", es que estos dilemas tiene un marco epistmico bastante mayor que la temtica, que tendra mas que ver con una crisis de representacion que viene de largo en las ciencias sociales y en la antropologa, y cuya solucion pasa casi inequvocamente por la exploracin de nuevas formas de escritura (puede verse Marcus; Fisher, 1986), algo que ya insinuaba anteriormente cuando me referia posicionamientos rizomaticos, pero que sin duda tambien tendra que ver con la bsqueda de otras formas esteticas de acercarse a la complejidad, como serian las teorias decostrucctivistas de Derrida (1978), o las epistemologas foucaultianas del poder (vase Foucault, 1993; 1999a; 1999b; 1999c) y las formas experimentales de escritura como las mencionadas de Deleuze y Guattari (2000). Una bsqueda de alternativas que del mismo modo se ha dado en otros campos diversos como pueda ser por ejemplo la arquitectura, y que ya peso en las propuestas experimentales de la antropologia posmoderna.
Bibliografa:
BALANDIER, George. (1991). El desorden. Elogio de la fecundidad del movimiento. Barcelona, Gedisa. BECK, Ulrick. (1998). La sociedad del riesgo. hacia una nueva modernidad. Barcelona, Paids. BERMAN, Marshall. (1988). Todo lo slido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Mxico, S. XXI.
123
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
CARAVACA BARROSO, Inmaculada. (1998). "Los nuevos espacios emergentes" en Estudios Regionales, num.50. pp. 39-80. CASTELLS, Manuel. (1998).La era de la informacin. Economa, sociedad y cultura. (3 vol.). Vol.1. La sociedad en red. Madrid, Alianza Editorial. CLIFFORD, Gedisa. James. (1999).Itinerarios transculturales. Barcelona,
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. (2000). Rizoma (introduccin). Valencia, Pre-textos. (orig. 1976). DERRID, Jacques. (1978). De la gramatologa. Mxico, S. XXI. (orig. 1967). DICKEN, Peter. (1997). "Transnational corporations and nation" en International Social Science Journal Geographic of the Art II-Societal process and geographic space. Vol.XLIX, num.151, pp. 77-89. DOLLFUS, Olivier. (1995). "Mondialisation, competitivites, territoires et marches mondiaux", en LEspace Geographique, 1995, num.3. pp. 270-280. DOLLFUS, Olivier. (1997). La mondialisation. Paris, Presses de Science politiques. FOUCAULT, Michel. (1984). Historia de la Sexualidad, Vol. 1. La Voluntad de Saber, Vol. II. El uso de los placeres, Vol. III. La inquietud de s. Madrid, Siglo XXI. (orig. 1976). FOUCAULT, Michel. (1996). Un dilogo sobre el poder. Madrid, Alianza. FOUCAULT, Michel. (1993).El pensamiento del afuera. Valencia, Pretextos. FOUCAULT, Michel. (1999a).El orden del discurso. Barcelona, Tusquets. (orig.1970). FOUCAULT, Michel. (1999b).Las palabras y las cosas: una arqueologa de las ciencias humanas. Madrid, S. XXI. (orig. 1966) FOUCAULT, Michel. (1999c). La arqueologa del saber. Mxico, S. XXI. (orig. 1969). GARCA CANCLINI, Nstor. (1989).Culturas hbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Mxico, Grijalbo. GARCA CANCLINI, Nstor. (2000).La globalizacin imaginada. Mxico, Paids. HANNERZ, Ulf. (1998). Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Valencia, Frnesis/Universitat de Valencia. LACOUR, Claude. (1996). "La tectonique des territoires: d une methaphore a une theorisation" en Pecqueur, B. (edit.). Dinamiques territoriales et mutations economiques. Paris, LHarmattan. pp. 25-48.
124
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUHMANN, Niklas. (1996). Sociedad y sistema: la ambicin de la teora. Barcelona, Paids. MANDELBROOT, Benoit. (1987). Los objetos fractales. Forma azar y dimensin. Barcelona, Tusquets. MARCUS, George E; FISCHER, Marcus. (1986). Anthropology as Cultural Critique. Chicago, University of Chicago Press. PRADILLA, Eduardo. (1997). "Regiones o territorios, totalidad y fragmentos: Reflexiones crticas sobre el estado de la teora regional y urbana" en Eure. Vol XXII, Num. 68. pp. 45-55. REYNOSO, Carlos. (2000). Apogeo y decadencia de los estudios culturales: una visin antropolgica. Barcelona, Gedisa. ROSTOW, Walth. W. (1973).Las etapas del crecimiento econmico: un manifiesto no comunista. Mxico, FCE. SANTOS, Milton. (1996). De la totalidad al lugar. Barcelona, Oiks-tau. THERBONN, Goran. (2000a). "Introduction, from the Vonversel to the globalization" en International sociology. Vol 15 (2). pp. 149-150. THERBONN, Goran. (2000b). "Globalizations". "Dimensions, historical waves, regional effects, normative, governance" en International sociology. Vol 15 (2). pp. 151-179. YDICE, George.(1995). "Posmodernismo y capitalismo trasnacional en Amrica Latina", en Canclini, Nstor Garca (comp.) Cultura y Pospoltica. El debate de la modernidad en Amrica Latina. Mxico D. F, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 63-94. WACKERMANN, Gabriel. (1997). "Transports, commerce, tourisme et sisteme economique mondial" en Revue International de Sciences Sociales. Geographie. etat des lieux II. Processes sociaux et espace geographique, num.151. pp. 27-43.
***
Abstract: In the context of the so called globalization, this essay works with the emmergency of the nets as a ordenation form of the commercial, informals and moving fluxes inside a frame even more transnationalized. The main hypothesis is that this process must have some influence on peripherical places, far from big centers, but that have a role inside local social structures. Keywords: global place globalization ordinance nets.
125
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. A Sociologia de Gabriel Tarde: Notas Introdutrias. RBSE, v.2, n.4, pp.126-133, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
DOCUMENTOS ISSN 1676-8965
A Sociologia de Gabriel Tarde: notas introdutrias.
Mauro Guilherme Pinheiro Koury
Vida e Obra
Gabriel Tarde batizado como Jean-Gabriel de Tarde, filsofo, socilogo e criminalista francs, nasceu em Sarlat, em uma famlia de origem nobre, em 12 maro de 1843 e faleceu em Paris em 12 de maio de 1904, aos 61 anos de idade. Faz seus estudos secundrios em Sarlat e obteve em 1860 um bacharelado em letras, seguido por um de cincias. Preparou-se para entrar na Escola Politcnica, mas, por causa de problemas de sade, abandonou a idia e matriculou-se no Curso de Direito em Toulouse, terminando em 1866 em Paris. Em 1867 iniciou o trabalho de secretrio assistente do judicirio e, depois, no cargo de juiz suplente, entre os anos de 1869 a 1875, e enfim, juiz de Instruo at 1894, todos na regio de Sarlat. Em 1877 desposa a filha de um conselheiro da corte de Bourdeaux, com quem tem trs filhos. Tarde comeou sua carreira de pesquisas na Criminologia, uma cincia nova desenvolvida pela escola italiana do final do sculo XIX, tambm chamada de Antropologia Criminal, atravs de suas experincias como juiz de Instruo. Publicou vrios artigos e se ops, em um grande debate publicado nas revistas especializadas, ao criminologista italiano Cesare Lombroso, professor de medicina legal, psiquiatria e antropologia criminal da Universidade de Turim. Publicou regularmente na Revue Philosophique a partir do ano de 1880, e nos Archives D'Anthropologie
126
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Criminelle, desde 1887. Alm dos trabalhos no campo da Criminologia, publicou tambm artigos nas reas da Sociologia, Filosofia, Psicologia Social e Economia. Em 1894 foi nomeado diretor do servio de estatstica judiciria do Ministrio da Justia em Paris, cargo que conservou at a sua morte. Em Paris, continuou com uma vida intensa ligada pesquisa nas Cincias Sociais e Humanas: colquios, congressos, artigos e polemicas fazem parte do seu cotidiano intelectual. Polmica nas Cincias Sociais, principalmente com mile Durkheim, ao qual se ope na definio e metodologia da Sociologia. Contrrio a este desenvolveu uma Sociologia a partir do comportamento e aes dos indivduos, abrindo caminho para a anlise social da subjetividade, bem como das relaes entre emoo e sociedade. A partir de 1896, foi conferencista na cole Libre de Sciences Politiques e no Collge Libre des Sciences Sociales, e em 1900 aceitou a regncia da ctedra de Filosofia Moderna no Collge de France onde permaneceu at a sua morte em 12 de maio de 1904. Os seus principais trabalhos, fora o conjunto de artigos publicados, so: La Criminalit Compare, (Flix Alcan, Paris, 1886), Les Lois de L'Imitation. Etude Sociologique, (Flix Alcan, Paris, 1890), La Philosophie Pnale, (Storck, Lyon et Masson, Paris, 1890), Les Transformations du Droit, Etude Sociologique, (Flix Alcan, Paris, 1893), La Logique Sociale, (Flix Alcan, Paris, 1895), Essais et Mlanges Sociologiques, (Ed. Maloine, 1895), L'Opposition Universelle, (Flix Alcan, Paris, 1897), Les Lois Sociales, (Flix Alcan, Paris, 1898), Etudes de Psychologie Sociale, (Giard et Brire, Paris, 1898), Les Transformations du Pouvoir, (Flix Alcan, Paris, 1899), L'Opinion et la Foule, (Flix Alcan, Paris, 1901), e Psychologie Economique, Flix Alcan, Paris, 1902. Teve uma reduzida influncia entre os cientistas sociais, na Frana, aps sua morte, se comparado, sobretudo a influncia exercida por Durkheim. No Brasil, foi lido apenas como um suporte para o estudo da sociologia forense sem, contudo, maiores influncias para os cientistas sociais locais. Nos Estados Unidos, entretanto, foi visto como um dos fundadores da sociologia francesa, no mesmo nvel de
127
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Durkheim, conforme a Introduction to the Science of Sociology, de Robert Park e Ernest Burgess, principal manual de sociologia desde pas, entre os anos de 1920 a 1940. Gabriel Tarde exerceu grande influncia nos interacionistas da Escola de Chicago, tendo a categoria de Imitao servido, segundo Antunes (2003, p. 10) para definir o conceito de atitude, nos estudos de Thomas e Znaniecki (1918) sobre a migrao e adaptao camponesa da Polnia para os Estados Unidos, e, segundo Mattelart (1996, p. 317) os trabalhos de Robert Park sobre os espaos de interao entre os mass media e a vida democrtica. Perdeu, contudo, importncia com o advento da anlise funcionalista de Talcott Parsons, a partir dos anos de 1940, Influenciou, tambm, vrios pensadores alemes, sobretudo, na contemporaneidade, Jrgen Habermas. Atualmente, sua obra vem sendo re-visitada internacionalmente e, desde a dcada de noventa do sculo passado, vem sendo reeditada, principalmente, pela nova tendncia dos estudos sociais em resgatarem a subjetividade e as emoes como elementos significativos para o entendimento da sociedade, bem como, atravs dos esforos de pesquisas atuais no sentido de compreenso do processo de formao do indivduo e da individualidade contempornea.
A Repetio, a Oposio e a Adaptao como categorias fundamentais anlise do social.
A Sociologia de Gabriel Tarde tem por alvo principal a compreenso da relao entre os indivduos e a sociedade atravs das relaes interpsquicas, isto , como espao de subjetividade que se realiza, na sua forma comunicacional, pela e atravs da troca intersubjetiva. D primazia aos indivduos na relao social, enquanto criao e formao de processos sociais sempre instveis, produtos que so das relaes entre subjetividades que ao interagirem fundam espaos de acomodao ou de resistncias. Ou seja, de processos sociais que vivem, a todo o momento, tensionados pelas foras da conservao e da inovao. Na tentativa de ampliar as bases compreensivas de seus estudos e pesquisas, enfatiza o jogo de trs categorias, por ele considerado como fundamentais e que administram todos os fenmenos sociais. Estas categorias so as da repetio, da oposio e da adaptao (TARDE, 1898).
128
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A categoria da oposio para Tarde equivale, exclusivamente, figura sob a qual uma diferena se distribui na repetio para limitar esta e abri-la a uma nova ordem ou a um novo infinito. Por exemplo, quando os homens se opem no processo interativo (TARDE, 1898, p. 136), parecem renunciar a um processo de crescimento ou a um processo de multiplicao indefinidos para formar totalidades limitadas, permitindo, assim, a constituio de infinitos de uma outra espcie, uma repetio de outro carter e formato que, se de um lado, adapta-se ou acomoda-se, logo se volta contra ela mesma, em novas oposies, e assim sucessivamente (TARDE, 1897 e 1898). A adaptao , pois, uma categoria sob a qual correntes de repetio se cruzam e se integram numa repetio superior. Os processos repetitivos no se desenrolam, por sua vez, sem uma resistncia individual e coletiva. Tarde chega a afirmar que so os inovadores em constante oposio adaptao que inventam e reinventam o social, a partir da resistncia dos que se recusam a imitar ou adaptar-se s formas pensadas como convencionais em um tempo e espao determinado. A repetio, que se estabelece ou acomoda-se atravs de um processo de imitao, no se faz, deste modo, sem a resistncia e sem a oposio (TARDE, 1897). Uma oposio sempre seguida, por sua vez, por uma adaptao da sociedade, dos grupos e dos indivduos (TARDE, 1898). esta adaptao que permite uma estabilidade provisria que, por sua vez, ser sempre desestabilizada no processo de surgimento de uma nova diferena ou inveno, realizada pela oposio e resistncias ao j institudo, e assim por diante. A inveno ou diferena para Tarde (1890), deste modo, aparece entre repeties, e cada repetio supe uma diferena de mesmo grau que ela. Isto , Tarde, segundo Delueze (1988, p. 137), v "a imitao como a repetio de uma inveno, a reproduo como repetio de uma variao, a irradiao como repetio de uma perturbao, a somao como repetio de um diferencial...". A sociedade, segundo Tarde, desta maneira, pode ser definida pelo processo de imitao. A inveno, para Tarde, contudo, no uma ao simplesmente individual. Afirma em um dos seus mais
129
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
importantes textos, (1890, p. 86), que a inveno "atravessa o indivduo", o que significa dizer que as novas aes individuais no so a demonstrao exclusiva de uma subjetividade especial, pois a influncia externa est tambm presente enquanto expresso imitativa. Segundo Antunes (2003, p. 7), ento, as leis lgicas da imitao atuam quando uma inovao considerada por uma subjetividade individual como mais proveitosa ou adequada do que as demais. A categoria de intersubjetividade pensada, deste modo, como uma conseqncia do estabelecimento da subjetividade. A intersubjetividade , para Tarde (1901, p. 47), uma conseqncia da natureza scio-comunicativa dos indivduos. Os indivduos, deste modo, so supra-sociais, antes de social (TARDE, 1890, p. 111). Marsden (2000, p. 54), por sua vez, afirma que Gabriel Tarde oscila entre a anlise de um individualismo subjetivo, propcia ao da categoria da inveno, e a comunicao intersubjetiva embora, acredite, que esta oscilao seja mais aparente do que real. Em Les Lois de l'imitation. Etude Sociologique, sua obra mais conhecida, Tarde (1890) vai defender de forma mais explcita uma sociologia do pluralismo das relaes dinmicas entre indivduos e grupos sociais na formao societria e condenar, ao mesmo tempo, as teorias organicistas e evolucionistas da sociedade. V nos processos de imitao e adaptao a caracterstica constante do fato social. A imitao est para ele, contudo, ligada ao processo de identificao, em suas mltiplas e possveis direes de propagao, que ocupam o vasto terreno que vai das categorias de dominao a de controle e influncia, por exemplo, mais tambm at as categorias de resistncia e de contrarepetio. A categoria da imitao , para Tarde, a fonte da oposio e da inovao. A inveno, ou a ao subjetiva individual ou relacional, deste modo, vista por ele em sua obra e, principalmente, nos estudos La Logique Sociale, (TARDE, 1895) e tudes de Psychologie Sociale, (TARDE, 1898a), como a adaptao social elementar. Elementar, por ser capaz de se espalhar e se fortificar em uma srie circular envolvendo as categorias
130
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
de repetio, oposio e adaptao. O que a faz sobrepujar a categoria de oposio, que eliminada ou apaziguada pela sua prpria expanso, levando-a a alargar-se e reencontrar um dos seus caminhos de imitao em uma nova inveno (TARDE, 1895). , desta forma, a repetio que existe para a diferena. Em LOpposition Universelle Tarde (1897, p. 445) afirma que nem a oposio e nem mesmo a adaptao traduzem a representao da diferena em si mesma: como aquela diferena que a nada se ope e que de nada serve, ou como a diferena que se estabelece como o fim das coisas. O processo de repetio, assim, ao aprofundar-se nesta concepo, se localiza entre duas diferenas e executa um movimento de passagem constante de uma ordem de diferena a outra. Ou seja, como Tarde (1895a) informa nos Essais et Mlanges Sociologique, da diferena externa diferena interna, da diferena elementar diferena transcendente, da diferena infinitesimal diferena pessoal e monadolgica. Portanto, a repetio ao ter por objetivo apenas ela mesma, pode ser definida como o processo pelo qual a diferena no aumenta nem diminui, mas vai se individualizando. Para Deleuze (1988, p. 269) inteiramente falso reduzir a Sociologia de Gabriel Tarde a um psicologismo ou mesmo a uma psicologia social. O que Tarde censura em Durkheim o seu pressuposto de tomar como dado o que preciso explicar, a similaridade entre os indivduos sociais. Combate, assim, a viso de uma realidade sui generis e exterior aos indivduos sociais, e coloca como alternativa a dimenso terica de que a sociedade constituda pelas interaes simples e pequenas invenes de homens comuns, que interferem entre correntes imitativas, adaptando-se, resistindo e reformulando a lgica social a cada novo com junto de movimentos interrelacionais (TARDE, 1897). A subjetividade e as emoes, deste modo, so regatadas como elementos presentes e significantes dos indivduos sociais e das suas interrelaes com outros sujeitos sociais. Tarde instaura, assim sendo, uma forma de olhar para o social, bastante significativa para a anlise das cincias sociais e, principalmente, para as anlises sociolgicas e antropolgicas: a anlise das micro
131
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
situaes e das micro relaes sociais. Micro relaes que no se estabelecem, necessariamente, apenas, entre dois indivduos, mas que j se encontram em processo de gestao criativa em um e cada indivduo social relacional de um tempo e espao singular. O que amplia o debate sobre o social para as relaes constitutivas das relaes entre emoo e formas de sociabilidade, emergidas em cada singularidade histrica especfica. Atravs do mtodo de micro anlise e da subjetividade, Tarde busca compreender como se elabora continuamente a construo e a constituio do social. Edificao realizada atravs das relaes entre sujeitos singulares e suas inter-relaes, movidos por um processo dialtico constante entre as categorias da diferena e da repetio. A elaborao terica e metodolgica de Gabriel Tarde, enfim, permite entender o como e o porque a repetio soma e integra pequenas variaes para resgatar, o que ele chama em La Logique Sociale (1895), de o diversamente diferente. A releitura da obra de Tarde, deste modo, fundamental para aqueles que enveredam pela sociologia e antropologia da emoo, e procuram desvendar os pressupostos lgicos das formas possveis de sociabilidade e, especificamente, da sociabilidade Ocidental.
Bibliografia
ANTUNES, Marco Antnio, Pblico, Subjetividade e Intersubjectividade em Gabriel Tarde. http://bocc.ubi.pt/pag/antunes-marco-gabriel-tarde.html. Texto retirado da internet em 15 de fevereiro de 2003. DELEUZE, Gilles, Diferena e Repetio, Rio de Janeiro, Graal, 1988. MARSDEN, Paul, "Forefathers of Memetics: Gabriel Tarde and the Laws of Imitation". In, Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission, n. 4, pp. 50 a 63, 2000. MATTELART, Armand, A Inveno da Comunicao. Lisboa, Insatituto Piaget, 1996. TARDE, Gabriel, Essais et Mlanges Sociologiques, Ed. Maloine, 1895a. TARDE, Gabriel, Etudes de Psychologie Sociale, Giard et Brire, Paris, 1898a. TARDE, Gabriel, La Logique Sociale, Flix Alcan, Paris, 1895.
132
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
TARDE, Gabriel, Les Lois de L'Imitation. Etude Sociologique, Paris, Alcan, 1890.
TARDE,
Gabriel,
Les
Lois
Sociales,
Flix
Alcan,
Paris,
1898.
TARDE, Gabriel, L'Opinion et la Foule, Flix Alcan, Paris, 1901. TARDE, Gabriel, L'Opposition Universelle, Flix Alcan, Paris, 1897. THOMAS, William e ZNANIECKI, Florian. The Polish Peasant in Europe and America. Boston, Badger, 1918.
133
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
TARDE, Gabriel. L'opposition et l'adaptation. RBSE, v.2, n.4, pp.134-150, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
DOCUMENTOS ISSN 1676-8965
L'opposition et l'adaptation [1]
Gabriel Tarde
Nous touchons au terme de cette longue tude. Cependant il nous reste encore mieux prciser que nous ne l'avons fait plus haut les rapports instructifs de l'Opposition avec l'Adaptation. La philosophie de l'volution - ou plutt de l'identit universelle - a souvent confondu ces deux termes en un seul, celui de corrlation ou de correspondance, et cr de la sorte une ambigut dcevante. Cette confusion est un des piges involontaires dont elle s'est servie pour dissimuler l'ide de finalit tout en l'utilisant et faire accepter les plus tonnantes assimilations. On dit galement bien, dans le langage usuel, que l'il correspond la lumire, le poumon l'air (adaptation) et que la droite du corps correspond la gauche, le plateau d'une balance l'autre plateau (opposition). L'esprit peut tre ainsi insensiblement amen considrer toute adaptation comme une opposition, et c'est en effet de la sorte que la relation de ces deux termes est d'abord comprise. Au fond de l'ide d'accord, de complment mutuel, il semble, premire vue, que nous ne trouvons rien de clair si ce n'est l'ide d'quilibre et de mutuelle neutralisation. Toute satisfaction d'un dsir parat nous mettre sur la voie de cet quilibre final que nous trouverons dans la mort, demain, mais que les lments dont nous sommes composs ne goteront qu' la fin des temps si, suivant le rve apocalyptique de Spencer, tous les mondes sont destins finalement se pelotonner en un seul bloc inerte pour l'ternit. ce point de vue, on doit regarder tous les buts que nous donnons pour dbouchs notre activit comme des formes passagres d'un seul et unique besoin permanent, le besoin d'quilibration. D'autre part, s'il est vrai que nous sommes en rapport avec tous les
134
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
autres tres, et si l'on croit que tout rapport consiste s'accorder ou s'opposer, il s'ensuit, puisque le premier de ces rapports est ramen au second, que l'oppose de notre tre est l'ensemble de tous les autres tres de l'Univers et que nous avons besoin, pour tre compltement quilibres, d'entrer en conflit avec cet immense antagoniste. Je n'ai pas insister pour carter, aprs tous les dveloppements prcdents, cette interprtation ultramilitaire de la vie universelle. J'ai plutt me demander ce qu'il y a de vrai dans un point de vue prcisment inverse qui verrait dans l'opposition une espce, et une espce infrieure, d'adaptation. Ce qui manque un tre, ce qui le complterait, ce qui lui est adapt, est-ce seulement et est-ce toujours le contraire de cet tre ? Ou plutt, quand, par hasard, une chose est complte par son contraire, ne devons-nous pas regarder cette exception comme un cas singulier de l'adaptation des moyens aux fins ? Ou bien, l'adaptation ne serait-elle qu'un terme moyen ? Deux choses semblables s'additionnent; deux choses diffrentes se co-adaptent; deux choses opposes se dtruisent. Est-ce que l'adaptation n'apparat pas ici comme un milieu entre l'addition et la destruction, une combinaison hybride des deux, sans rien d'original, en sorte que, t ce qu'elle a de rptiteur, et t ce qu'elle a de destructeur, elle serait vide de tout son contenu ? Ainsi, l'ide de diffrence, qui est lie celle d'adaptation, se rsoudrait en similitudes et en oppositions combines ensemble, et n'exprimerait rien de plus que cette trange association. Mais comment cette synthse serait-elle possible, comment la contradiction des deux lments runis dans la notion de diffrence et d'adaptation seraitelle vite (comme nous sentons bien qu'elle l'est, car autrement la fcondit de cette ide serait inconcevable), si, par un certain ct qui nous chappe, la nature de cette notion ne l'levait au-dessus de ses deux lments soi-disant exclusifs ? C'est l'addition qui s'explique par l'adaptation, dont elle n'est qu'une forme lmentaire; mais l'adaptation ne s'explique pas par l'addition. Est-ce que l'opposition, de mme, ne s'claircit pas bien mieux par l'adaptation que celle-ci n'est claire par celle-l ? Il est on ne peut plus ais de ramener toute opposition une adaptation, tandis qu'il est toujours difficile, et souvent impossible, de considrer comme opposs les
135
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
termes co-adapts. Non seulement il est loisible, mais il est mme avantageux de rsoudre l'opposition en adaptation. En se plaant ce point de vue, on comprend moins malaisment, ce me semble, certaines consquences de la loi de la raction gale et contraire l'action, qui ont paru mystrieuses, nous le savons, aux gomtres philosophes. Pourquoi, quand un morceau de fer est attir par un aimant, l'aimant est-il aussi attir en sens inverse par le fer, avec une force prcisment gale ? Ne voyons-nous pas cependant tous les jours des corps se mouvoir vers d'autres corps qui ne se meuvent ni ne tendent se mouvoir vers eux ? Il est vrai que, dans ce cas, le corps immobile et indiffrent n'est point la source du mouvement imprim au corps mobile; mais pour quelle raison le fait de provoquer un mouvement dans un certain sens implique-t-il la ncessit de se mouvoir soi-mme dans une direction inverse ? On n'en voit point la raison mcanique. Mais peut-tre y en a-t-il une raison logique ou tlologique. C'est, peut-on dire, qu'une action suppose un but; et communiquer son action ou son activit autrui, c'est lui transmettre son but, c'est collaborer avec lui. L'aimant et le fer collaborent, comme la plante et le soleil, et la contrarit de leurs tendances nat de leur collaboration qu'elle exprime. Le but commun de leurs mouvements et de leurs tendances contraires, c'est leur rapprochement et leur contact; et, comme ils tendent ce but au mme degr, leurs forces inverses sont gales. De mme, le but commun de deux molcules chauffes, c'est leur cartement. Si l'une d'elles restait immobile, l'cartement se produirait bien mais sans elle; elle ne collaborerait point ce rsultat [2]. Les deux ailes d'un oiseau, les deux jambes d'un homme, les deux bras d'une femme qui embrasse son enfant, collaborent au vol, la marche, l'treinte affectueuse. Les deux yeux, jusqu' un certain point, collaborent la vue. Toutes ces oppositions sont bel et bien des adaptations, toutes ces symtries des harmonies, et quelle que soit la raison finale de ces symtries des forces vivantes, qu'elles se justifient suffisamment par un besoin de supplance et de complment rciproques ou qu'elles rpondent une avidit, une ambition infinie, il n'en reste pas moins certain qu'elles sont adaptes une fin et, comme telles, harmonieuses. Mais l'inverse n'est pas vrai : toutes les harmonies ne se rsolvent pas en
136
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
symtries ni en oppositions quelconques. Les glandes salivaires, l'estomac, le foie, l'intestin grle, collaborent la digestion; en quoi sont-ils symtriques et opposs ? Les diverses parties d'un drame de Shakespeare ou d'un tableau de matre concourent un mme effet; elles ne sont point opposes pourtant l'instar des deux moitis d'un portail gothique ou d'un fronton grec. L'conomie politique fournit de nombreux exemples de la transformation graduelle du rapport de coadaptation en rapport d'opposition ou vice versa. La concurrence que se font deux ateliers, deux boutiques similaires, est une opposition mais en mme temps, parfois, une collaboration, - involontaire, indirecte et accidentelle, - au progrs de l'industrie ou du commerce dont il s'agit, ou la diminution des prix. Tout involontaire, indirecte et accidentelle qu'elle est, cette collaboration est ce qui donne la concurrence sa raison d'tre; et, quand la concurrence ne provoque plus ni abaissement des prix ni perfectionnement de la production, elle tend disparatre. Ces considrations s'appliquent la guerre qui, dans la mesure - trs exagre, nous l'avons montr - ou elle peut servir accidentellement la cause de la civilisation, est une collaboration meurtrire des armes rivales. La rivalit de deux ateliers, et aussi bien de deux armes, se prsente toujours comme un mlange doses infiniment varies de concurrence et de collaboration. On peut dire, en gnral, que, lorsqu'une nouvelle boutique vient de s'ouvrir et d'entrer en lutte avec une boutique qui exerait un monopole jusque-l, leur antagonisme est fcond, et la part de la collaboration l'emporte sur celle de la concurrence. Mais, par degrs, la premire diminue et la seconde grandit jusqu' ce que celle-ci opre seule et conduise la destruction de l'un des deux rivaux par l'autre, ce qui rtablit le monopole primitif. Est-ce que, mutatis mutandis, ceci ne s'applique pas aussi quelque peu la guerre ? S'ils veulent viter la fatale destruction de l'un d'eux il reste aux rivaux industriels ou militaires, un moyen, un seul: c'est de s'associer. Par l'association, par la fdration, les contraires deviennent complmentaires, les concurrents collaborateurs, les voici co-adapts une fin commune, comme les rouages d'une mme machine. Aussi est-il permis de considrer chaque progrs nouveau dans la voie de l'association, c'est--dire chaque union
137
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
nouvelle des travaux (ce qu'on appelle la division du travail, sa diffrenciation) comme l'quivalent d'une invention[3]. L'essentiel d'une invention est de faire s'utiliser rciproquement des moyens d'action qui auparavant paraissaient trangers ou opposs; elle est une association de forces substitue une opposition ou une strile juxtaposition de forces. D'autre part, toute invention, en crant un nouvel emploi des produits connus, tablit des liens nouveaux de solidarit, une socit consciente, ou inconsciente, entre les producteurs, souvent trs distants, de ces articles. L'invention en somme, c'est le nom social de l'adaptation. Socialement, les deux mots sont synonymes. Et, dans les inventions mcaniques par exemple, nous voyons clairement le vritable rle de l'opposition, essentiellement subordonn. En effet, en toute machine, comme Reulaux l'a montr fort bien, il y a deux pices corrlatives, et, en un sens, opposes l'une l'autre, qui, en se contrariant, se dirigent : la vis et l'crou, le point d'appui et le levier, etc.; mais nous savons que cette neutralisation rciproque de mouvements contraires n'est voulue qu'en vue d'un mouvement unique et commun auquel ils sont adapts. N'oublions pas cependant que la plus grande partie, la presque totalit des choses diffrentes ne sont ni complmentaires ni contraires, que la variation, autrement dit, excde immensment l'adaptation et l'opposition. Faut-il regarder ces diffrents inutiliss comme ayant pour seule raison d'tre la proprit cache d'tre utilisables peut-tre dans l'avenir, dans des conditions inconnues ? Ou, l'inverse, regarderons-nous les contraires et les complmentaires, l'opposition et l'adaptation, la guerre et l'invention, comme servant, avant tout, la production de cette exubrance luxueuse de la vie ? Ce problme revient se demander, au fond, ce qu'en termes prudhommesques on s'est demand si souvent : savoir si l'ordre est pour la libert ou la libert pour l'ordre. Or cet amour de la libert pour la libert ellemme, qui a t si sincre en tout temps, qui si rel et si profond chez les plus levs de nos contemporains, n'est pas sans affinit intime avec l'amour de la nature, passion non moins vive et non moins trange en apparence, qui a pouss au dsert, aux champs, aux bois, loin des villes bien polices, parmi des animaux errants et sans lien, parmi des plantes sauvages ensemences au hasard des vents, tant d'asctes, tant de penseurs, tant d'mes saintes et harmonieuses, les plus sociables peut-tre et
138
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
les mieux coordonnes intrieurement de toutes les mes humaines. Ce got de l'parpillement sauvage et dsordonn des lments et des tres, ce charme trouve au dsordre tranquille, la paisible anarchie, qu'on est convenu d'appeler " la nature ", serait le plus absurde des sentiments, et l'on ne s'expliquerait pas son dveloppement intense au cours de la civilisation par l'effet mme de la culture, si l'on admettait que la variation est pour l'adaptation et l'opposition, non celle-ci pour celle-l. On voit l'intrt pratique et majeur de pareilles questions, qui pourraient de prime abord sembler oiseuses.
**
Mais revenons aux rapports de l'opposition et de l'adaptation. Nous les aurions vues plus souvent se confondre si, au lieu de nous borner dans cet ouvrage l'tude des formes prcises et acheves de l'Opposition, nous avions abord celle de ses formes imparfaites. La symtrie par -peu-prs, et, en gnral, l'opposition approximative[4], qui jouent dans le monde un rle important, sont aussi bien des harmonies par -peu-prs. Or, de mme que le progrs chimique nous conduit des symtries cristallines presque parfaites aux pseudosymtries et aux dissymtries mme, le progrs artistique, sans parler des autres progrs sociaux, affecte la mme direction. La transition entre la symtrie initiale et la dissymtrie finale est ralise par ces temples antiques, mieux encore par ces cathdrales du Moyen ge, ou les statues qui se font vis--vis sont non pas tout fait semblables et contraires l'une l'autre mais inverses cependant dans leur dissemblance. Elles se correspondent ainsi, quoique l'une, par exemple, soit un homme et l'autre une femme. Mme quand ce sont deux Vnus, deux Mercures, deux Apollons, que l'artiste dcorateur a opposs de la sorte, il a vari leurs attitudes pour qu'elles se compltent pour ainsi dire. Dans l'Afrique romaine notamment, les statues accouples formaient ainsi des groupes harmoniques. " Tantt, nous dit-on[5], c'est le mme type qui est reproduit deux ou quatre fois avec de lgres variantes, tantt les types diffrent, mais les statues se correspondent : tel est le cas pour les statues de Jupiter avec l'aigle, de Neptune avec le dauphin, de Bacchus avec la panthre... "
139
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Sous le terme gnral d'affaires, on confond dans le langage usuel deux sortes d'occupations professionnelles qu'il convient cependant de distinguer. Il y a deux sortes de mtiers, ceux qui vivent de luttes entre des volonts opposes et ceux qui vivent d'accords entre des volonts co-adaptes. Les travailleurs de la premire catgorie sont non seulement les militaires, mais les avocats, les avous, tous les hommes d'affaires au sens troit du mot. Or les industriels font aussi des affaires, mais des affaires d'un tout autre genre, du moins en tant que leurs efforts tendent, non ruiner leurs rivaux par la concurrence, mais satisfaire des besoins de consommation par la propagation d'harmonieuses inventions. Les agriculteurs, surtout, en propageant non seulement des ides agricoles de gnie, mais des germes vivants, incarnations euxmmes d'harmonie vgtale ou animale, par la domestication des animaux et des plantes utiles l'homme, vivent d'adaptation et non d'opposition. En cela leur ressemblent les savants et les professeurs, qui crent et propagent des thories, des vrits systmatises, sortes de germes vivants aussi[6], principes suprieurs d'accord mental et social. La science et l'art sont des plantes domestiques dont les thoriciens et les artistes sont les agronomes. Or le progrs humain ne consiste-t-il pas faire prdominer de plus en plus la seconde classe de professions sur la premire ? On pourrait objecter, superficiellement, que, dans nos statistiques, le dveloppement des procs de commerce semble li dans une certaine mesure celui de l'activit commerciale. Mais il n'en est pas moins vrai que le nombre des litiges commerciaux progresse moins vite que celui des transactions. Ce paralllisme vague, du reste, n'est pas constant; et la statistique de la justice civile signale au contraire un rapport inverse entre le chiffre annuel des actes notaris et celui des procs civils. Considrons quelques exemples notables d'oppositions transformes en adaptations. Une table de famille mme faiblement unie, un dner d'amis mme mdiocrement sincres, nous donne le spectacle d'une concurrence primitive d'apptits transforme en une harmonie de dsirs. Quand le menu est insuffisant, - et il l'est souvent peu ou prou : il y a souvent un plat trop court parce qu'il est trop russi - les convives ont de lgers sacrifices se faire les uns en faveur des autres, et c'est pour eux une occasion, que les hros d'Homre ne
140
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
saisissaient gure, de se tmoigner leur mutuelle sympathie, le plaisir de cur qu'ils trouvent restreindre leur part d'une satisfaction matrielle pour accrotre celle de leurs commensaux. Dans la poursuite de ce plaisir suprieur, d'autant plus vif pour chacun qu'il est partag, ils collaborent ensemble la joie du dner commun, entretenu par l'change de gais propos, plat spirituel en perptuelle circulation et inpuisable comme le pain multipli du Christ. Aussi n'est-il pas de meilleure cole de politesse, de manifestation plus antique et plus universelle de sympathie et d'instinct social que le repas en commun. Depuis les Kjoedimmeddings prhistoriques jusqu'aux banquets homriques, depuis les festins de rconciliation qui sont la crmonie de rhabilitation propre aux peuplades barbares jusqu'aux agapes vangliques, depuis les repas publics de Sparte jusqu' nos dners de gala, partout et toujours la table a t l'apprentissage et l'exercice ininterrompu de la sociabilit. De tous les sacrements chrtiens, le plus incomprhensible en apparence et, en fait, le plus vivant, est l'Eucharistie. Avoir mang ensemble a t rput en tout pays et en tout temps le signe le plus manifeste qu'on fait partie du mme groupe social. La Cne est par excellence le mode de groupement fraternel. Voil pourquoi l'extension de la table a t un besoin vivement ressenti par la civilisation, mesure qu'elle s'est elle-mme tendue et a largi les groupes sociaux. Matriellement, il est vrai, la table s'est assez peu agrandie, quoique l'habitude de s'asseoir, succdant celle de se coucher durant les repas, ait permis de multiplier le nombre des convives dans les salles manger. Assurment le maximum numrique de commensaux qu'on peut runir de nos jours dans notre galerie des machines est trs suprieur celui qu'auraient pu atteindre les Romains de l'Empire et plus forte raison les barbares de la Germanie. Mais ce sont surtout des largissements indirects et pour ainsi dire spirituels que la table a reus des temps nouveaux, par les socits coopratives de consommation notamment, grce auxquelles les socitaires, s'ils ne dnent pas ensemble, consomment ensemble tout ce qui est servi sur leurs tables et sont galement intresss ce que leurs consommations communes cotent le moins possible, ce qui est l'un des buts principaux poursuivis et obtenus par la vie de famille. Les associations de serfs du Nivernais, vivant au mme chanteau, n'taient que l'embryon de ce progrs devenu gigantesque.
141
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ce que je dis de la table, on pourrait le dire d'autres parties du mobilier de la maison. Est-ce que, depuis la dcouverte de l'criture, le bureau de l'crivain ne s'est pas singulirement largi en quelque sorte, et ne s'largt pas tous les jours ? On pense ensemble de plus en plus, on crit ensemble, on fait change de style et d'ides, des distances toujours croissantes, avec des collaborateurs qui vont se multipliant. Gnralisons: de plus en plus, quel que soit le travail auquel on se livre, on travaille ensemble, et, en se divisant et se subdivisant entre des travailleurs toujours plus nombreux, en se diffrenciant, leur tche les associe en une uvre collective dont la plupart ne se doutent pas. Avant de se diviser et de se diffrencier, elle les mettait en hostilit les uns contre les autres, et les conflits qui clatent encore entre eux a et l ne sont qu'un vestige de leur premier tat de guerre. L'atelier primitif, donc, s'est prodigieusement agrandi. Et que dire de l'autel, de l'idole, de la chapelle domestique, o se resserrait jadis un groupe si troit, farouchement spar des autres groupes ! Foyer de la maison, d'abord, puis foyer de la cit enferm dans un petit temple, plus tard lieu de sacrifices rels ou symboliques sous de vastes votes du temple juif, de la mosque arabe ou de la cathdrale chrtienne, l'autel n'a cess de crotre et ne s'arrtera pas avant d'avoir rassembl autour de lui, dans la communion d'une mme pense, d'une mme aspiration unanime, travers mille divergences, toute l'humanit civilise[7]. Faire coexister et vivre ensemble un grand nombre de croyances et de dsirs infiniment divers et parmi lesquels il en est beaucoup de contraires; pallier cette opposition ou la lever, ou la convertir en collaboration suprieure : tel est bien le problme social. Et, de tout temps, en tout pays, sa solution a t inconsciemment poursuivie en ce sens. Mais il s'agit d'achever prsent avec pleine conscience l'uvre inconsciente du pass. Il faut donc, d'abord, rechercher, prciser, dlimiter les oppositions vraies de dsirs et de croyances, voir dans quelles conditions elles se produisent, quelles sont leurs diverses classes, et ensuite, leurs causes connues, agir sur celles-ci efficacement. Or, cette recherche, que, bien entendu, nous ne pouvons songer entreprendre ici, aboutira certainement apercevoir l'utilit, au moins transitoire, de certains objets imaginaires ou ultraterrestres du dsir et de la foi pour la conciliation des
142
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dsirs et des ides terrestres. Mais ne sont-il conciliables qu' ce prix. C'est l le grand problme religieux.
***
Il faut donc envisager en face et de sang-froid l'anxieux problme dont tout le monde souffre et que presque personne n'ose formuler : y a-t-il ou non des vrits scientifiques incompatibles avec la paix ou la prosprit sociale, et des erreurs religieuses ncessaires la paix ou la prosprit sociale ? Et, si cela est, que devons-nous faire : n'y a-t-il opter qu'entre la rsignation au trouble ou la ruine de la socit, et le mensonge plus ou moins volontaire ou complaisant en vue de fortifier l'erreur branle ? Par quoi remplacer la foi religieuse s'il est prouv que la morale qu'elle soutient s'croule avec elle et que cette morale soit le ciment social indispensable ? C'est en somme ces questions que Guyau s'est efforc de rpondre dans son trs beau livre sur l'Irrligion de 1'avenir, et, auparavant, Auguste Comte, dans toute son uvre philosophique. Mais ni la solution autoritaire de l'un, qui se pose en pape infaillible d'un no-catholocisme immuable, ni la solution ultralibrale de l'autre, qui la voit dans le libre jeu des esprits, des curs, des sensibilits absolument mancipes, et, d'aprs lui, d'autant plus aisment associables, ne sont propres nous donner pleine satisfaction. L'optimisme moral de Guyau, cet gard, encourt les reproches qu'a paru mriter l'optimisme tout pareil des conomistes classiques qui attendent du laissez-faire la ralisation du meilleur monde conomique possible, c'est--dire qui voient dans la suppression de toute rgle le meilleur rglement. " La libre association des penses individuelles permettra leur groupement toujours provisoire en des croyances varies et variables, qu'elles regarderont ellesmmes comme l'expression hypothtique et en tout cas inadquate de la vrit. " C'est l'idal de la libert mtaphysique; mais allez donc appuyer des maximes de sacrifice moral sur ce terrain mouvant! D'ailleurs, il est invitable qu'en se groupant les hypothses se feront croyances, puis convictions, et s'opposeront des groupements de convictions contradictoires. Or l'antagonisme des coles philosophiques, quand il n'est
143
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
plus contenu par la peur de quelque religion, leur ennemie commune, - leur mre commune le plus souvent, - n'est pas bien loin d'atteindre le degr d'intolrance o s'lve le fanatisme religieux. - Il en sera de l'association des libres volonts comme de l'association des libres intelligences, et, quand les buts collectifs se sentiront incompatibles les uns avec les autres, l'avenir pourra voir des guerres de syndicats comme le pass a vu des guerres de peuplades et de cits. Si la multiplication des contacts entre hommes, effet de la civilisation, dploie les germes de sympathie latente qu'ils reclent au fond de leur cur les uns l'gard des autres, elle fait clore aussi les germes d'antipathie cache. Je sais que, finalement, ceux-ci doivent tre touffs par ceux-l, ou du moins je l'espre; mais la condition que les priodes de paix aillent en se prolongeant et permettent aux changes sympathiques d'exemples de se rpandre. Il en serait autrement si les causes de guerre allaient se multipliant. Et la question est prcisment de savoir si la paix sociale peut tre longtemps maintenue autrement que par l'obissance gnrale certains prceptes moraux qui, jusqu'ici, ont toujours t d'origine ou de couleur religieuses[8]. Je voudrais croire avec Lange, avec Strauss, avec Guyau, qu'un jour viendra o le culte de l'art nous dispensera de tout autre. Mais je dois reconnatre que l'exprience historique n'est gure favorable cette manire de voir. D'aprs Lange, l'autorit des religions leur vient, non de la foi, non du degr de foi en leurs dogmes, mais de la posie de leur doctrine et de leurs rites. Il oublie que le progrs du polythisme au christianisme a consist remplacer une religion trs belle, trs admire et faiblement crue, par une religion infiniment plus austre et moins esthtique, objet, il est vrai, d'une nergique conviction. Si le christianisme tait remplac, ce serait, vraisemblablement, par une doctrine soutenue par une foi plus robuste encore. Lange se rfute lui-mme quand il ajoute: " Si notre culture actuelle vient s'crouler, sa succession ne sera dvolue aucune glise existante, au matrialisme moins encore, mais, d'un coin gnralement ignor, sortira quelque folie monstrueuse, telle que le livre des Mormons ou le spiritisme; les ides alors en cours se fondront avec cette folie, et ainsi s'tablira un nouveau centre de la pense universelle, peut-tre pour des milliers d'annes. " Il en sera ainsi, parce que, contrairement ce que Lange a dit
144
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
plus haut, la religion a pour appui l'apparente solidit des croyances plutt que leur posie et leur beaut. Aussi estce toujours autour d'un noyau de faits merveilleux, de gurisons miraculeuses, dmontres en apparence par des tmoignages humains, que s'opre la cristallisation mystique. L est le point vivant d'une religion naissante, ou le point sur-vivant d'une religion mourante[9]. Guyau nous dit que le culte des morts, le respect tmoigne au passage des morts dans la rue et leur retour priodique dans la mmoire, survivra aux religions, la foi en l'immortalit de l'me et en l'existence d'un Dieu. " La Fte-Dieu peut s'oublier; la fte des morts durera autant que l'humanit mme. " Cependant, s'il en est ainsi, ce ne sera, ce ne pourra tre qu'au prix d'un pieuse contradiction ; car il est contradictoire de croire que ce cadavre qui passe, inerte et dcompos, est le seul vestige d'un homme, et de tmoigner ce reste encombrant, insalubre souvent, prilleux pour la sant publique, un respect que cet homme n'inspirait point, et qui semble impliquer qu'on rpute cet homme encore existant mais sous une forme plus pure et plus haute. Or, si, sur ce point, on admet la ncessite de se contredire, et si l'on considre cette contradiction comme ncessaire au maintien de la dignit sociale, de l'homme social, pourquoi refuserait-on d'admettre sur d'autres points une ncessit analogue ? Ou bien dira-t-on que ce culte des morts est une superstition rejeter aussi aprs toutes les autres, que les animaux ont raison de s'carter du cadavre de leurs proches des qu'ils sont morts, qu'il faut les imiter en cela et nous hter de faire disparatre sans crmonie, le plus hyginiquement possible, les corps glacs de nos parents et de nos amis ? Cette supposition fait horreur. Pourquoi ? Parce que l'affirmation publique, ainsi faite, de la dsesprante vrit que la science semble nous imposer rpugne au cur invinciblement, au cur qui exige absolument ce ftichisme de la douleur, tout fait semblable, au fond, au ftichisme de nos premiers aeux. Or, si vous respectez ce ftichisme, c'en est assez pour que la religion tranche repousse par l. quoi, en somme, vais-je conclure ? ceci, qui est bien simple. L'autorit, la bont, la ncessit sociale d'une religion lui viennent de la presque unanimit qu'elle tablit sur des points de doctrine particulirement importants pour l'apaisement des plus grandes angoisses. Ce n'est pas de libert esthtique qu'il s'agit ici, mais de solidit
145
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
pratique. Par suite, il est essentiel que les " vrits " ainsi dogmatises ne soient pas formellement contredites par les donnes de l'exprience ou de l'observation. Donc, tous les dogmes religieux contredits par la science dmontre sont destins tomber tt ou tard. En resterat-il assez, et d'assez majeurs, pour constituer un corps de doctrine mritant le nom de religion, et pour alimenter le sentiment religieux ? Il n'est pas dfendu de l'esprer. Car, des deux dogmes capitaux, Dieu et la Vie future, le second n'est, ni ne pourra jamais tre dmontr faux et semble mme trouver, aux yeux d'un grand nombre d'hommes instruits, sa confirmation nouvelle et inattendue dans bien des phnomnes merveilleux o se prcipite la curiosit avive des psychologues contemporains. Quant au premier, il est telle dfinition de Dieu o la science la plus scrupuleuse n'aurait rien objecter. Ce qui est contradictoire dans cette notion, c'est l'ide d'un Dieu la fois infiniment bon et infiniment puissant. Ces deux attributs, raison de l'existence indniable du mal dans le monde, jurent entre eux; il est ncessaire ou d'opter entre les deux, ou de renoncer aux deux, et de n'admettre qu'un Dieu limit dans sa puissance et d'une bont finie comme son pouvoir. Ce n'est pas d'un Dieu infini et parfait, mais d'un Dieu trs caractris, saisissable et perfectible, que l'homme est altr, et la science travaille peut-tre lui en tracer les traits, laborer quelque originale conception divine qui droutera les thologies du pass[10]. Quelque conception... Pourquoi pas plutt quelques conceptions, multiples et diverses ? Je suis heureux sur ce point de faire bon accueil une pense de Guyau, qui, crite longtemps avant le fameux congrs des religions, aurait pu lui servir de devise. Suivant lui, la multiplicit du dveloppement humain, la fois moral, esthtique, intellectuel, exige la multiplicit des religions. Les unes sont surtout morales, le christianisme, le bouddhisme; d'autres, esthtiques, le polythisme antique; d'autres, encore natre, pourraient bien tre, avant tout, scientifiques, ou du moins philosophiques. Ainsi, elles s'accorderaient par leurs diffrences mmes, et, rsolue en harmonie suprieure, la lutte ancienne des religions serait, dans l'avenir, l'exemple le plus clatant de cette conversion graduelle des oppositions en adaptations dont nous avons parl plus haut. Acceptons-en l'augure !
146
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nous n'avons pas encore fini de prciser les rapports entre l'adaptation et l'opposition, et, vrai dire, nous ne saurions avoir la prtention d'puiser ce sujet. N'omettons pas cependant quelques considrations essentielles. En somme, tre complmentaires, c'est coproduire; tre contraires, c'est s'entredtruire. Exprims en ces termes, le complment et la contrarit, l'opposition et l'adaptation, sont presque opposs et contraires l'un l'autre. Pas tout fait cependant, car il faudrait pour cela que la co-adaptation des complmentaires consistt s'entre-produire. Et il est singulier, soit dit en passant, que notre esprit rpugne concevoir la mutuelle production des choses, tandis qu'il ne voit nulle difficult admettre leur mutuelle destruction. Rien ne lui parat plus intelligible que le mutuel arrt de deux mouvements en sens contraires qui se heurtent, tandis qu'il se refuse encore, deux sicles aprs Newton, regarder les mouvements de deux molcules qui s'attirent comme produits l'un par l'autre distance. On ne voit pourtant pas de raison a priori pour justifier cette diffrence d'attitude de notre esprit. - Quoi qu'il en soit, complment et contrarit peuvent tre conus comme contraires l'un l'autre, et aussi bien comme complments l'un de l'autre, ainsi que le montre l'exemple choisi . Et, ce dernier point de vue, il importe de remarquer que, par un important effet qui leur est commun, leurs rles s'accordent. Le rle de l'opposition est de neutraliser, le rle de l'adaptation est de saturer; mais l'une en neutralisant, l'autre en saturant, sont pareillement dlivrantes et diversifiantes. Car, satur ou arrt par elles, l'tre, molcule ou cellule, est momentanment affranchi de cet tat de dtermination troite et fixe qui constitue le besoin ou l'action; il est momentanment rendu cette virtualit infinie, indtermine, qui est le fond de sa nature, et d'o il ne tardera pas sortir de nouveau mais par un nouveau chemin. Son me est redevenue disponible et vraiment libre pour un instant jusqu' ce qu'elle se spcialise et se rejette dans la mle des forces qui se combattent ou s'accouplent. Aimer et guerroyer, autrement dit engendrer et tuer le plus possible, telle est la vie des hommes primitifs ; produire et consommer le plus possible, la vie des civiliss. Construire des thories et dtruire celles de ses prdcesseurs, tel est le rve du savant ; celui de l'artiste est d'clipser ses devanciers, d'ensevelir leurs oeuvres sous ses oeuvres. Au fond de tout cela se retrouve l'opposition et aussi bien l'adaptation
147
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
fondamentale : se nourrir pour agir, dfaire pour refaire. Avec les dbris d'une couche gologique former un nouveau terrain: voil la vie de la terre; monter de la mer au ciel, redescendre du ciel la mer: voil la vie de l'eau sur la terre. Monter du prihlie l'aphlie, redescendre de l'aphlie au prihlie, les plantes ne font pas autre chose dans l'ther. Mais, de ce conflit perptuel entre Brahma l'engendreur et le tueur Siva, de cette lutte d'actions contraires et des luttes avec les harmonies, se dgage incessamment quelque nouveaut qui ne s'oppose rien, qui ne sert rien, car elle n'est semblable ni assimilable rien, et qui semble tre la fin finale des choses! chaque instant, chacun de nous, tres phmres, parmi ses amours ou ses combats, traverse un tat singulier, unique, gote un plaisir qu'il n'a plus got ou ne gotera plus, ou souffre une souffrance inoue, inconnue tout autre et lui-mme. Cela est, n'a plus t, ne sera plus, et cela semble tre la raison d'tre de tout ce qui se rpte, s'adapte et s'oppose ! Et, travers cela, quelque chose d'inaccessible est poursuivi, une plnitude, une totalit, une perfection, platonique passion de toute me et de toute vie. La poursuite de l'impossible travers l'inutile: serait-ce donc l vraiment le dernier mot de l'existence ?
Notes
[1]
Une dition ralise du Chapitre VIII "L'opposition et l'adaptation " du livre, L'opposition universelle : Essai d'une thorie des contraires. Paris, Flix Alcan, 1897. Les thories chimiques encore rgnantes me semblent favoriser l'assimilation de l'opposition l'adaptation. D'abord, cette observation de Laurent que la somme des atomicits est toujours paire montre que, suivant lui aussi, - bien que dans un sens plus profond que celui de Berzelius, - la combinaison est une opposition. Le chlore (chlorure de chlore) renferme deux atomicits, puisque chaque atome est satur par un seul atome d'hydrogne; l'oxygne, dont chaque atome n'est satur que par deux atomes d'hydrogne, renferme quatre atomicits, etc. Il suit de l que, en se substituant l'un des deux atomes accoupls qui constituent ce qu'on appelle vulgairement l'atome d'oxygne, deux atomes d'hydrogne ne font que remplacer l'atome d'hydrogne limin. Or ce dernier jouait un rle prcisment inverse de celui de son partner; par suite, il y a lieu de penser que les deux atomes d'hydrogne s'opposent l'atome d'oxygne subsistant. Et de mme trois atomes d'hydrogne un atome d'azote, ou quatre atomes d'hydrogne un atome de carbone. Mais, d'autre part, on peut dire que cette opposition est une adaptation. " D'aprs cette nouvelle hypothse, dit M. Berthelot, le corps simple, serait construit l'avance suivant le type du compos qu'il doit engendrer". En biologie, le rapport du darwinisme au lamarckisme est un peu celui de l'opposition
[2]
148
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
l'adaptation, Lamarck expliquant par les efforts adaptateurs des tres les progrs que Darwin explique surtout par leurs conflits destructeurs. Mais le transformisme, en se dveloppant, a d combiner et tcher de concilier ces deux doctrines, qui, d'ailleurs, mme runies, ont rvl leur insuffisance.
[3]
Logique sociale, pp. 379 et suivantes. - Voir aussi le Trait d'conomie politique de M. Paul Leroy-Beaulieu, t. IV, p. 727. Comme le montrent certains exemples indiqus plus haut: le rseau des branches, dans le vgtal, oppos au rseau des racines; les forces centrifuges opposes aux forces centriptes, etc. Qu'on se rappelle aussi les considrations de Mallart et de M. Berthelot sur les pseudosymtries cristallines, considres par ce dernier comme des sortes de transactions molculaires. Journal des Savants, sept. 1896.
[4]
[5]
[6]
ce point de. vue, rien n'est plus semblable au travail du laboureur ou de l'leveur de bestiaux que le travail du savant ou de l'artiste, du philosophe ou du pote. Un darwinien dira-t-il, par hasard, que les progrs des plantes ou des animaux domestiques sont dus ce que l'agriculteur met en jeu la concurrence vitale ? Mais, au contraire, il place un germe vivant, grain de bl, pomme de terre, couve, dans des conditions telles qu'il soit prserv des coups de la lutte pour la vie : il exerce en sa faveur un vritable protectionnisme, dtruit le chiendent et les autres parasites, dfend l'agneau contre la dent du loup ou contre les microbes. Il permet ainsi au germe vivant de se dployer en vertu de sa force propre, harmonieuse et logique, sans obstacles ni contradictions d'aucune sorte. Et le savant, le philosophe, ne fait pas autre chose : il fuit les lieux de discussion strile, se recueille dans son laboratoire ou son cabinet, et l il nourrit son ide-mre lui, son germe lui, son hypothse juge viable, de toutes les connaissances qui lui sont appropries; il invite ainsi sa force propre et latente exhiber tout son contenu, et, si elle se montre en contradiction avec les faits, il la rejette, puis en essaie une autre, jusqu' ce qu'il ait mis la main sur une ide qui s'assimile facilement tous les faits connus et n'en contredise aucun. Le lit, heureusement, fait exception, au moins apparente, cet largissement: gnral du mobilier domestique. Et mme il semble, premire vue, qu' l'inverse de la table, il est devenu de plus en plus troit, repoussant de plus en plus certains partages familiers aux temps o le sauvage offrait sa femme l'hte comme un mets vivant. Cependant, y regarder de prs, l'alcve aussi a t s'largissant, mais sous deux formes bien diffrentes et dont la seconde seule est destine, je crois, se dvelopper chez les grands peuples. D'abord, et c'est fcheux, le progrs de la vie urbaine a produit cette mutuelle surexcitation des sens qui fait que, dans certaines villes, le monde de la galanterie, chaque jour plus nombreux et plus bruyant, nous ramne sous des formes plus ou moins lgantes la promiscuit - plus imaginaire que relle - des temps primitifs. La vie mondaine ellemme, parfois, est-elle autre chose qu'une sorte de socit cooprative d'amoureuse et voluptueuse consommation ? Mais, par bonheur, c'est sous forme symbolique que le commensalisme rotique reoit ses dveloppements les plus rapides, par la diffusion des uvres littraires et des uvres d'art. Le roman, spcialement, a pour effet d'associer des millions de lecteurs et de lectrices la fois aux douleurs et aux
[7]
149
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
joies de deux amants dont le sort les passionne. N'est-ce pas aimer ensemble que vivre ensemble, pour ainsi dire, le mme amour, potis et vulgaris ? Et la musique, quand un opra en vogue la rpand en inondation immense, amoureuse toujours, n'est-elle pas une communion des curs ?
[8]
Guyau semble croire que la religion doit tre ce qu'il y a de plus lev dans l'enseignement suprieur, et, s'il se place au point de vue de la religion en train de se faire au prix de longues luttes de doctrines, cela est certain. Mais de la religion faite, au contraire, il est vrai de dire qu'elle est ce qu'il y a de plus lmentaire dans l'enseignement primaire. Or, c'est une vrit d'exprience, - et en mme temps un corollaire des lois de l'imitation - que, toujours et partout, l'enseignement suprieur d'aujourd'hui est destin, en perdant ses contradictions, en se prsentant sous une forme simple et indiscute, devenir l'enseignement primaire de demain, comme le luxe d'aujourd'hui est destin devenir le ncessaire de demain, en se simplifiant et abaissant ses prix. En descendant de la sorte de l'lite la foule et des esprits adultes aux cerveaux d'enfants, une doctrine religieuse dpouille son caractre individuel de libre examen et acquiert la force d'une suggestion sociale exerce sur l'individu qui franchit le seuil de la socit; et c'est alors qu'elle est apte produire les fruits sociaux qu'on attend d'elle. " Quel peuple plus pote et moins religieux que les Grecs ? " demande Guyau, pour prouver que le gnie artistique est indpendant du gnie religieux et que le premier peut survivre au second, remplace mme le second... Mais l'exemple est, certes, mal choisi. Et l'on pourrait dire plutt: " Quel peuple plus pote et plus religieux que les Grecs ? " Non seulement toutes les origines de leurs arts, de leur posie dramatique ou pique, de leur architecture, de leur sculpture, de leur musique, sont religieuses comme celles de nos arts et de nos littratures modernes, mais encore l'apoge de leur dploiement artistique et potique, l'poque de Pricls et de Phidias, est marque par la plus sereine harmonie de la science naissante et de la religion panouie, harmonie comparable celle de notre sicle de Louis XIV, malgr les impits isoles de quelques penseurs, rpudis par un Socrate ou un Anaxagore, par un Platon et un Aristote; et, en dfinitive, quoi vient aboutir l'volution du gnie grec ? Au byzantisme, la cristallisation religieuse et mme dvote la plus minutieuse, la plus complte, que le monde ait vue. En ce qui me concerne, je dois avouer que je trouve des difficults concilier ces deux dogmes entre eux, au point de vue de l'hypothse no-monadologique que j'ai expose ailleurs. Si, en effet, l'esprance en la vie posthume (et la foi aux vies antrieures) peut s'appuyer sur la notion des monades, o la science nous conduit par tant de chemins, d'autre part les monades, parpillement ternel d'tres et de forces, ne sont-elles pas fa ngation de la substance et de la puissance uniques ? Toutefois l'objection n'est pas insoluble, et d'o viendrait aux nomades, telles que je les conois, leur sympathie attractive, leur possibilit de co-possession, de pntration rciproque, si on leur refuse une source commune ?
[9]
[10]
150
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
TARDE, Gabriel. A oposio e a adaptao. Traduo de Mauro Guilherme Pinheiro Koury. RBSE, v.2, n.4, pp.151-167, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
DOCUMENTOS ISSN 1676-8965
A oposio e a adaptao [1]
Gabriel Tarde
Alcanamos, enfim, o ncleo desta longa pesquisa. Contudo, nos resta precisar melhor a instrutiva relao entre as categorias Oposio e Adaptao. A filosofia da evoluo - ou da identidade universal - confundiu freqentemente estas duas noes em uma s, a da interrelao ou correspondncia, e criou uma frustrante ambigidade. Esta confuso uma das armadilhas involuntrias que tem servido para dissimular a idia de finalidade em uso e acolher as formas de assimilao mais surpreendentes. No idioma habitual diz-se que o olho corresponde luz, e o pulmo ao ar (adaptao) e, tambm, que direita do corpo corresponde esquerda, e o prato de uma balana corresponde ao outro prato (oposio). A mente pode ser assim imperceptivelmente conduzida a considerar toda a adaptao como uma oposio, e este , realmente, o modo como a relao entre estes dois termos primeiramente compreendida. No fundo da idia acordada, de complemento mtuo, parece, primeira vista, que no achamos nenhuma clareza nesta idia se ela no for uma idia de equilbrio e de neutralizao mtua. Toda a satisfao de um desejo parece nos remeter para o equilbrio final que encontraremos na morte, amanh, embora os elementos de que somos compostos sero desfrutados, apenas, ao trmino de tempos se, de acordo com o sonho apocalptico de Spencer, todos os mundos forem finalmente destinados a abrigar-se em s um bloco inerte pela eternidade. Neste ponto de vista, temos que olhar para o conjunto das metas implicadas para explicar nossa atividade a partir das formas temporrias de uma s e nica necessidade permanente, a necessidade de equilbrio. Por outro lado, se verdade que estamos em
151
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
relao com os demais seres e, se si acredita que toda relao consiste em acordar ou se opor, segue-se, desde que a primeira destas relaes traz atrs de si a segunda, que a ope de nosso ser sobre o conjunto de todos os outros seres do Universo e de quem temos necessidade, que, para ser completamente equilibrada, tem de entrar em conflito com este imenso antagonista. Eu no tenho que persistir em separar, aps todos os desenvolvimentos precedentes, esta interpretao ultramilitarizada da vida universal. Eu tenho que saber o que h de verdade sob um ponto de vista precisamente inverso que veria na oposio uma espcie, e uma espcie inferior, de adaptao. O que envolve um ser, o que o complementa, o que adaptado a ele, somente e, sobretudo, o contrrio desse ser? Ou antes, quando uma coisa completada pelo seu contrrio, no devemos olhar esta exceo como um caso singular de adaptao dos meios aos fins? Ou ser que a adaptao no mais do que um termo mdio? Duas coisas semelhantes se somam; duas coisas diferentes se co-ajustam; duas coisas opostas se destroem. A adaptao no aparece aqui como um meio entre a adio e a destruio, uma combinao hbrida dos dois, sem nada de original, de forma que, se retirado o que tem de repetio, e se retirado o que tem de destruio, seria esvaziada de todo seu contedo? Assim, a idia de diferena, que ligada categoria de adaptao, se determinaria em similitudes e em oposies combinadas, e no expressaria nada alm desta estranha associao. Mas como esta sntese seria possvel, como a contradio dos dois elementos unidos na noo de diferena e adaptao seria evitada (como sentimos bem que ela o porque, caso contrrio, a fertilidade desta idia seria inconcebvel), se, por um certo lado que nos escapa, a natureza desta noo a elevou acima de seus dois elementos denominados exclusivos? a adio que se explica pela adaptao, da qual s uma forma elementar; mas a adaptao no se explica pela adio. que a oposio, da mesma maneira, no se esclarece pela adaptao do mesmo modo que esta no clarificada por ela? No completamente confortvel remeter toda oposio adaptao, enquanto sempre difcil, e freqentemente impossvel, considerar como opostos os termos co-adaptados. No apenas permissvel, mas
152
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
at mesmo vantajoso definir a oposio atravs da adaptao. Enquanto se arquiteta este ponto de vista, se compreende menos dificilmente, parece-me, algumas conseqncias da lei da reao igual e contrria para a ao, que apareceu misteriosa, sabemos, entre os filsofos gemetras. Por que, quando um pedao de ferro atrado por um im, o im tambm atrado no sentido inverso pelo ferro, com uma fora precisamente igual? Ns no vemos diariamente, porm, corpos moverem-se para outros corpos que no se movem e no tendem a se movimentar para eles? verdade que, neste caso, o corpo imvel e indiferente no a fonte de movimento impresso no corpo mvel; mas, por que razo, o fato de provocar um movimento em um certo sentido implica necessidade de mover-se a si mesmo em uma direo inversa? No se v a razo mecnica disto, mas, talvez, uma razo lgica ou teleolgica. Isto , podemos dizer que uma ao supe uma meta; e ao comunicar a sua ao ou a sua atividade para outros, transmite sua meta e colabora com ele. O im e o ferro colaboram, como o planeta e o sol, e a contrariedade de suas tendncias nasce da colaborao expressa. A meta comum dos movimentos e das tendncias contrrias , deste modo, a reunio e o contato; e, como eles apontam para esta meta no mesmo grau, as foras inversas so iguais. Da mesma maneira, a meta comum de duas molculas aquecidas o seu espaamento. Se uma delas permanecesse imvel, o espaamento aconteceria da mesma forma, contudo, sem ela; ela no colaboraria para este resultado[2]. As duas asas de um pssaro, as duas pernas de um homem, os dois braos de uma mulher que beija sua criana, colaboram para o vo, para a marcha e para o abrao afetuoso. Os dois olhos, at certo ponto, colaboram para a viso. Todas estas oposies so belas e boas de adaptaes, todas elas formam simetrias harmnicas, e qualquer que seja a razo final destas simetrias de foras existentes, elas se justificam de maneira satisfatria por uma necessidade de substituio e de complemento recproco ou respondem a uma cobia, a uma ambio infinita, porm, sem dvida, adaptadas a um fim e, em si mesmas, harmoniosas. Mas o inverso no verdade: todas as harmonias no se resolvem em simetrias nem em oposio. As glndulas salivares, o
153
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
estmago, o fgado, o intestino delgado, colaboram com a digesto; em que so simtricos e opostos? As vrias partes de um drama de Shakespeare ou um quadro de um mestre da pintura contribuem para um mesmo efeito; eles no so opostos, contudo, como as duas partes de um portal gtico ou um fronto grego. A economia poltica prov muitos exemplos de transformao gradual da relao de co-adaptao em relao de oposio ou vice-versa. A concorrncia entre duas lojas, entre duas butiques semelhantes, uma oposio, mas, ao mesmo tempo, s vezes tambm, uma colaborao, - involuntria, indireta e acidental, - para o progresso da indstria ou do comrcio de que procede, ou para a reduo de preos. Esta colaborao, completamente involuntria, indireta e acidental, que d concorrncia sua razo de ser; e, quando a concorrncia no provoca mais nem a reduo de preos nem um melhor aperfeioamento da produo, tende a desaparecer. Estas consideraes se aplicam guerra que, na mesma medida - muito exagerada, a temos demonstrado - pode servir acidentalmente a causa da civilizao e consistir em uma colaborao assassina de exrcitos rivais. A rivalidade de duas lojas, bem como de dois exrcitos, se apresenta como uma mistura de doses infinitamente variadas de concorrncia e colaborao. Em geral, pode-se dizer que quando uma nova loja entra em disputa com uma loja que at ento exerceu um certo monoplio, o seu antagonismo fecundo, e a parte da colaborao impulsiona a concorrncia. Mas, na medida em que a primeira diminui e a segunda cresce, esta termina por operar s e conduz destruio da sua rival, restabelecendo o monoplio primitivo. O que, mutatis mutandis, tambm no se aplica um pouco guerra? Se si quer evitar a destruio fatal de uma delas resta ao rival industrial ou militar, um meio, um s: o de se associar. Pela associao, pela federao, os opostos ficam complementares, os concorrentes colaboradores, eles co-adaptam-se a um fim comum, como os dentes da engrenagem de uma mesma mquina. Alm disso, permitido considerar todo progresso novo no modo de associao, que toda unio nova de trabalho (que se chama de diviso de trabalho, sua diferenciao) como o equivalente de uma inveno[3]. O essencial de uma inveno fazer uso recproco de meios de ao que pareceram anteriormente estranhos ou opostos; uma
154
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
associao de foras suprida por uma oposio ou uma justaposio estril de foras. De outra parte, toda inveno, ao criar um novo uso para produtos conhecidos, estabelece os novos laos de solidariedade, uma sociedade consciente, ou inconsciente, entre produtores, freqentemente muito distantes, destas mercadorias. A inveno, em suma, o nome social da adaptao. Socialmente, as duas palavras so sinnimas. E, nas invenes mecnicas, por exemplo, vemos claramente o real papel da oposio, essencialmente subordinada. Em toda mquina, sem dvida, como Reulaux mostrou categoricamente, h duas peas correlatas, e, de certo modo, opostas, que, enquanto se antagonizam, se conduzem: o parafuso e a porca, o ponto de apoio e a alavanca, etc; mas, sabemos que esta neutralizao recproca de movimentos contrrios s esperada devido a um movimento sem igual e comum para o qual so adaptados. No esqueamos, contudo, que a maior parte, a quase totalidade das coisas diferentes no so complementares nem contrrias, e que a variao, ao avesso, excede imensamente a adaptao e a oposio. necessrio olhar esta diferena inutilizada como tendo por razo de ser apenas a propriedade escondida para ser utilizada, talvez, em condies desconhecidas, no futuro? Ou, ao inverso, o oposto e o complementar, a oposio e a adaptao, a guerra e a inveno, servem, acima de tudo, para a produo desta exuberncia luxuosa da vida? Este problema volta a demandar, no fundo, o que apenas em termos prudhomianos foi to freqentemente especulado: a saber, se a ordem est para a liberdade ou a liberdade para a ordem. Contudo, este amor da liberdade pela liberdade em si, to sincera em todos os tempos, to real e to profundamente arraigada em nossos contemporneos, se encontra sem afinidade com o amor natureza, paixo no menos viva e no menos estranha em manifestao, que empurrou para o deserto, para os campos, para os bosques, para longe das cidades bem civilizadas, entre os animais vagando e sem ligao, entre as plantas selvagens semeadas ao acaso dos ventos, tantos ascetas, tantos pensadores, tantas almas santas e harmoniosas, os mais sociveis talvez e as melhores constituies interiores de todas as almas humanas. Este gosto pela disperso selvagem e desorganizada de elementos e seres, esta atrao encontrada na desordem tranqila, em uma quieta
155
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
anarquia, do que se convencionou chamar "a natureza", seria o mais absurdo dos sentimentos, e no se explicaria o seu intenso desenvolvimento no curso da civilizao atravs do efeito mesmo da cultura, se si admitisse que nem a variao est para a adaptao e a oposio, nem esta por aquela. O interesse conveniente e principal de perguntas semelhantes, torna a primeira abordagem parecer trivial.
**
Mas voltando as relaes da oposio e a adaptao. As teramos visto mais freqentemente confundir-se, em lugar de nos limitarmos neste trabalho ao estudo das formas precisas e completas da Oposio, tivssemos abordado algumas de suas formas imperfeitas. A simetria estimativa e, em geral, a oposio aproximativa[4], que jogam um papel importante no mundo, so tambm harmonias por avizinhamento. Porm, to bem como o progresso qumico nos conduz desde as simetrias cristalinas perfeitas at as pseudosimetrias e s dessimetrias, o progresso artstico, sem falar de outros progressos sociais, segue a mesma direo. A transio entre a simetria inicial e a dessimetria final alcanada por estes templos antigos, melhor ainda, por estas catedrais da Idade Media, ou pelas estaturias que so, se postas vis a vis, no inteiramente semelhantes e contrrias umas s outras, mas inversas, entretanto, em sua dessemelhana. Elas se correspondem, portanto, se bem que uma, por exemplo, homem e a outra uma mulher. Mesmo quando so duas Vnus, dois Mercrios, dois Apolos que o decorador ops, variam as suas atitudes para que elas se completem, por assim dizer. Na frica romana, de maneira especial, as estaturias acopladas formam igualmente grupos harmnicos. "Agora, diz-nos[5], o mesmo tipo que reproduzido duas ou quatro vezes com ligeiras variantes, em seguida os tipos diferem, mas as estaturias se correspondem: tal o caso das estaturias de Jpiter com a guia, de Netuno com o golfinho, de Bacus com a pantera..." Sob o termo geral dos negcios confunde-se, na linguagem usual, duas sortes de ocupaes profissionais que convm distinguir. H dois tipos de ofcios, os que vivem em conflito entre as volies opostas e os que vivem de acordos entre as vontades co-adaptadas. Os
156
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
trabalhadores da primeira categoria so no apenas os militares, mas os advogados, os oficiais de justia e todos os homens de negcios, no sentido estreito da palavra. Os industriais, porm, tambm fazem negcios, mas fazem negcios de um outro tipo, ao menos que os seus esforos tendam no para arruinar os seus rivais pela concorrncia, mas para satisfazer as necessidades de consumo pela propagao de harmoniosos inventos. Os agricultores, sobretudo, ao propagarem no apenas idias agrcolas geniais, porm embries vivos, encarnaes prprias de harmonia vegetal ou animal, atravs da domesticao de animais e das plantas teis ao homem, vivem da adaptao e no da oposio. Nisto se assemelham os cientistas e professores que criam e propagam teorias, verdades sistematizadas, tipos de embries vivos[6], princpios superiores de ajuste mental e social. A cincia e a arte so as plantas domsticas de que os tericos e os artistas so os agrnomos. Ou o progresso humano no consiste em fazer preponderar, mais e mais, a segunda classe de profisses sobre a primeira? Poderia-se objetar, superficialmente, que, em nossas estatsticas, o desenvolvimento dos procedimentos do comrcio parecem ligados de uma certa maneira a uma atividade comercial. Contudo no menos verdade que o nmero de litgios comerciais progride menos depressa que o das transaes. O vago paralelismo, de resto, no uma constante; e a estatstica da justia civil assinala, ao contrrio, uma relao inversa entre a cifra anual dos atos feitos por um tabelio e os dos processos civis. Consideraremos alguns exemplos notveis de oposies transformadas em adaptaes. Uma mesa de uma famlia mesmo fracamente unida, um jantar de amigos mesmo mediocremente sinceros, nos d o espetculo de uma concorrncia primitiva de apetites transformados em uma harmonia de desejos. Quando o cardpio insuficiente, - e isto mais ou menos freqente: h comumente um prato pequeno de muito sucesso - os convidados tm de fazer pequenos sacrifcios em favor dos outros, e para eles um ensejo, que os heris de Homero quase nunca entenderam, de atestar sua mtua simpatia, o prazer que acham em restringir sua parte de uma satisfao material para aumentar a dos seus comensais. Na perseguio a este prazer superior,
157
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
expressivo para cada um que dele compartilha, colaborase para o sucesso do jantar comum, entretido pela troca de assuntos amveis, prato espiritual em circulao perptua e inesgotvel como o po multiplicado de Cristo. Assim, no h melhor escola de cortesia, a manifestao mais antiga e mais universal de simpatia e de instinto social, do que a comida em comum. Desde o Kjoedimmeddingses pr-histrico at o banquete homrico, desde os festins de reconciliao, que so as cerimnias de reabilitao prprias das populaes selvagens, at gape evanglica, desde a alimentao pblica de Esparta at os nossos jantares de gala, a mesa sempre foi o treinamento e o exerccio interrupto da sociabilidade. De todos os sacramentos cristos, o mais incompreensvel em aparncia e, de fato, o mais vivo, o da Eucaristia. Comer junto reputado em todos os pases e em todos os tempos como o sinal mais visvel de se fazer parte de um mesmo grupo social. A Ceia, por excelncia, faz parte do modo de ser de um grupamento fraterno. Eis porque a extenso da mesa foi uma forte necessidade sentida pela civilizao: medida que se estendia alargava os grupos sociais. Materialmente, verdade, a mesa cresceu bem pouco, embora o hbito de se sentar, sucedneo ao de se deitar durante as refeies, permitiu multiplicar o nmero de convidados nas salas de jantar. Definitivamente, o numero mximo de comensais que se pode reunir hoje em dia em nossas salas de refeies muito superior ao que poderia ter obtido os romanos do imprio e principalmente os brbaros da Alemanha. Mas foi, sobretudo, o enlarguecimento indireto e, por assim dizer, espiritual, que a mesa recebeu dos novos tempos, especialmente, atravs das sociedades cooperativas de consumo. Nelas, os acionistas, se no jantam mais juntos, consomem juntos tudo o que servido em suas mesas e esto igualmente interessados em que o consumo comum custe o menos possvel, o que no deixa de ser a meta principal perseguida e obtida pela vida em famlia. As associaes de servos do Nivernais, que viviam em um mesmo castelo, foram os embries deste progresso devers gigantesco. O que digo sobre a mesa poderia ser dito para os outros itens da moblia da casa. Isto , depois da descoberta da escrita, o escritrio no foi inexplicavelmente alargado, e no continua a aumentar ainda hoje em dia? Pensa-se em conjunto cada vez mais, se escreve em conjunto, so realizadas trocas de estilo e
158
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
idias, em distncias que ainda tendem a aumentar, e com colaboradores que se multiplicam. Generalizemos: cada vez mais, em qualquer trabalho, trabalha-se junto e, ao ser dividido e subdividido entre trabalhadores cada vez mais numerosos, ao se diferenciar, as tarefas a que se entregam os associam em uma obra coletiva de que a maioria deles nem sequer suspeita. Antes de se dividir e de se diferenciar, se colocam em hostilidade uns contra os outros, e os conflitos que explodem aqui e l no so mais do que um vestgio do primeiro estado de guerra. O atelier primitivo, ento, estupidamente aumentado. E o que dizer do altar, do dolo, da capela domstica, onde se condensou outrora um grupo unido, rispidamente separado dos outros grupos! Foco de uma casa, primeiro, pois cerne de uma cidade encerrada em um pequeno templo e, mais tarde, lugar de sacrifcios reais ou simblicos sob os vastos arcos do templo judeu, da mesquita rabe ou da catedral crist, o altar no cessou de crescer e no parou, antes de ter se concentrado em torno de si mesmo; na comunho de um mesmo pensamento, de uma mesma unnime aspirao, e atravs de mil divergncias, toda a humanidade se civilizou[7]. Fazer coexistir e conviver em conjunto um grande nmero de crenas e de desejos infinitamente diversificados e entre os quais muitos contrrios entre si; disfarar esta oposio a elevando ou a convertendo em uma colaborao superior: este o problema social. E, em todos os tempos, em todos pases, uma soluo neste sentido foi procurada inconscientemente, mas, est para ser terminada, na atualidade, com plena conscincia a obra inconsciente do passado. ento necessrio, em primeiro lugar, procurar, especificar e delimitar as oposies verdadeiras de aspiraes e de crenas, ver em que condies elas se produzem, quais so suas diversas classes e, ento, as suas razes conhecidas, e sobre elas agir eficazmente. Esta pesquisa, porm, que no empreenderemos aqui, conduzir para a percepo da utilidade, pelo menos transitria, de certos objetos imaginrios ou ultraterrestres do desejo e da f no sentido de uma conciliao com as aspiraes e as idias terrestres. Mas no conciliveis a qualquer preo. A est o grande problema religioso.
159
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
***
necessrio considerar, ento, de frente e de sangue frio, o preocupante problema que todo o mundo tolera e quase ningum ousa formular: h ou no verdades cientficas incompatveis com a paz ou com a prosperidade social, e ardis religiosos necessrios paz ou prosperidade social? E, se isto acontece, o que devemos fazer: optar entre a resignao desordem ou runa da sociedade, e a mentira mais ou menos voluntria ou complacente em vista fortalecer o erro abalado? Por que substituir a f religiosa se ela a prova de que a moral que sustenta se colide com ela e que esta moral pode ser o cimento social indispensvel? Soma-se a estas questes o que Guyau se esforou em responder no seu livro muito bonito sobre L'Irrligion de l'avenir (A falta de religio do futuro), e, antes dele, Auguste Comte, em toda a sua obra filosfica. Mas, nem a soluo autoritria de um lado, que se coloque como uma espcie de papa infalvel de um neocatolicismo inaltervel, nem a soluo ultraliberal de outro lado, que aposte no livre jogo de espritos, de coraes e de sensibilidades definitivamente emancipadas e, segundo eles, de uma muito mais confortvel associabilidade, nos do uma plena satisfao. O otimismo moral de Guyau, a esse respeito, incide em recriminaes que justificam o otimismo de todo economista clssico que analisaram o laissez-faire como a realizao do melhor mundo econmico possvel, isto , que viram na supresso de toda a regra a melhor lei. "A livre associao individual de pensamento permitir ao agrupamento ainda temporrio crenas variadas e variveis, de onde se poder olhar a si mesmo como uma expresso hipottica e em todo caso inadequada da verdade". o ideal da liberdade metafsica; que empurra mximas de sacrifcio moral em um terreno movedio! Alm do que inevitvel que, ao se agrupar as hipteses, se arquitetaro crenas, depois convices, que se oporo aos agrupamentos de convico contraditrios. Porm, o antagonismo das escolas filosficas, quando no se encontra contido pelo medo de uma religio qualquer, sua inimiga comum, - e, muitas vezes, tambm, a sua me comum, - no est distante de alcanar o grau de intolerncia de onde se eleva o fanatismo religioso. Como ser da associao de livres vontades bem como da associao de inteligncias livres, e, quando as metas coletivas sentirem-se
160
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
incompatveis umas com as outras, o futuro poder ver as guerras de sindicatos como o passado viu as guerras de povoaes e cidades. Se a multiplicao dos contatos entre os homens, efeito da civilizao, implicar no desdobramento dos agentes latentes de simpatia escondidos no fundo dos coraes, tambm provocar o desabrochar dos germes ocultos da antipatia. Sei que, finalmente, estes devem ser sufocados pelos outros, o que espero, pelo menos; mas, condio de que os perodos de paz se prolonguem e permitam expandir s trocas de exemplos agradveis. O que ser diferente, se os pretextos de guerra forem se multiplicando. E a questo justamente a de saber se a paz social pode ser mantida por muito tempo, de outra maneira que no a da obedincia geral a certos preceitos morais que, at aqui, sempre foram de origem ou de colorao religiosa[8]. Eu queria acreditar como Lange, como Strauss, como Guyau, que um dia vir onde o culto da arte nos dispensar de todos os outros. Mas eu tenho que reconhecer que a experincia histrica no muito favorvel a esta maneira ver. Para Lange, a autoridade das religies vem, no da f, no da propriedade da f em seus dogmas, mas, da poesia de sua doutrina e de seus ritos. Ele esquece que o progresso do politesmo para o cristianismo consistiu em substituir uma religio muito bonita, muito admirada e fragilmente crua, por uma religio infinitamente mais austera e menos esttica, objeto, verdade, de uma enrgica convico. Se Cristianismo fosse substitudo, seria, presumivelmente, por uma doutrina sustentada novamente por uma f mais pujante. Lange refuta a si prprio quando afirma: "Se nossa cultura atual desmoronar, sua sucesso no ser revelada por qualquer igreja existente, pelo materialismo menos ainda, mas, a partir de um canto geralmente desconhecido, se produzir uma loucura monstruosa, como o livro dos mrmons ou o espiritismo; as idias agora em curso se fundiro com esta loucura e, assim, estabelecer um novo centro do pensamento universal, talvez por milhares de anos". Ser deste modo, porque, ao contrrio do que Lange falou, a religio tem por apoio a aparente solidez das crenas do que sua poesia e sua beleza. Assim, ainda em torno de um conjunto de fatos maravilhosos, de recuperaes milagrosas, demonstradas por testemunhos humanos, que se opera a cristalizao mstica. H o desgnio animado de uma religio nascente, ou o mote sobrevivente de uma religio agonizante[9].
161
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Guyau nos fala que o culto dos mortos, o respeito observado na passagem dos mortos na rua e o seu retorno peridico na memria, sobreviver s religies, f na imortalidade da alma e existncia de um Deus. "O Corpo de Deus pode ser esquecido; a festa dos mortos durar tanto quanto a humanidade". Porm, se assim, ser apenas ao preo de uma contradio devota; porque contraditrio acreditar que o cadver que passa, inerte e decomposto, o nico vestgio de um homem, e atestar a este remanescente incmodo, anti-higinico, perigoso para a sade pblica, um respeito que ele no inspira, implica em considerar o homem existente, mas sob uma forma mais pura e mais elevada. Porm, se, neste ponto, admite-se a necessidade de se contradizer, e se si considera esta contradio como necessria manuteno da dignidade social, do homem social, porque razo recusar-se-ia a admitir em outros aspectos uma necessidade anloga? Ou se dir que o culto dos mortos uma superstio para se rejeitar tambm os demais, e que os animais talvez tenham razo em descartar-se dos cadveres de seus prximos, dos que morreram, e que necessrio os imitar e nos apressar em fazer desaparecer sem cerimnia, o mais higinicamente possvel, os corpos congelados de nossos pais e nossos amigos? Esta suposio nos horroriza. Por que? Porque a afirmao pblica da desesperante verdade que a cincia parece impor nos repugna a alma definitivamente, ao corao que demanda de forma absoluta este fetichismo da dor, como uma conseqncia constituda, de forma bastante semelhante, no fundo, ao fetichismo de nossos primeiros antepassados. Porm, o respeitar este fetichismo bastante para que a trincheira de religio resista. At onde chegarei? Isso bem simples. A autoridade, a bondade, a necessidade social de uma religio vem da quase unanimidade que ela estabelece sobre pontos doutrinrios particularmente importantes ao apaziguamento das grandes angstias. No uma liberdade esttica que se busca, mas uma solidez prtica. Neste sentido, essencial que as "verdades" assim dogmatizadas no sejam formalmente contraditas por dados da experincia ou da observao. Ento, todos os dogmas religiosos desmentidos pela demonstrao cientfica so destinados a irem por terra mais cedo ou mais tarde. Alguns permanecero, e os melhores, para constituir um corpo de doutrina que merea o nome de religio, e para nutrir o sentimento religioso? Isto no
162
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
esperado. Porque, dos dois dogmas capitais, Deus e a Vida futura, o segundo no , nem poder jamais ser demonstrado, falso e sempre o mesmo, aos olhos de um grande nmero de homens educados; sua confirmao sempre nova e inesperada, como um fenmeno maravilhoso onde se precipita a curiosidade afiada dos psiclogos contemporneos. Quanto ao primeiro, uma definio de Deus de onde a cincia mais escrupulosa no teria nada a objetar. O que contraditrio nesta noo a idia de um Deus infinitamente bom e infinitamente poderoso. Estes dois atributos se afianam no pretexto da existncia incontestvel do mal no mundo; sendo necessrio ou optar entre os dois, ou renunciar aos dois, e admitir um Deus limitado em sua fora e de uma bondade finita como seu poder. Este no um Deus infinito e perfeito, mas um Deus extremamente caracterizado, perceptvel e aperfeiovel, que o homem alterou, e a cincia cogita, talvez, em delinear as suas caractersticas, e elaborar uma original concepo divina que desorientar as teologias do passado[10]. Uma concepo... Por que no concepes, mltiplas e diversas? Trago aqui um pensamento de Guyan, que, escrito muito tempo antes do famoso congresso de religies, poderia lhe ter servido de legenda. De acordo com ele, a multiplicidade do desenvolvimento humano, ao mesmo tempo moral, esttico, e intelectual, exigiria igualmente a multiplicidade de religies. Algumas so, sobretudo, morais, como o Cristianismo e o Budismo; outras, estticas, como o politesmo antigo; outras ainda, a nascerem, poderiam ser, acima de tudo, cientficas, ou pelo menos filosficas. Assim, concordariam em suas diferenas, e, resolvida em harmonia superior, a velha luta de religies seria, no futuro, o exemplo mais vvido desta converso gradual de oposies em adaptaes que vimos falando. Aceitemos a profecia! No terminamos, contudo, de especificar as relaes entre a adaptao e a oposio, e, para dizer a verdade, no teramos a pretenso de esgotar este tpico. No omitamos consideraes essenciais, porm. Em suma, ser complementar co-produzir; ser contrrio se autodestruir. Expresso nestes termos, o complemento e a contrariedade, a oposio e a adaptao, so opostas e contrrias. No obstante, porm, seria necessrio para isto que a co-adaptao do complementar consistisse em se autoproduzir. E singular, de passagem, que nossa
163
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mente seja relutante em conceber a produo mtua das coisas, enquanto no v dificuldade em admitir a sua mtua destruio. Nada parece mais inteligvel que a parada mtua de dois movimentos em sentidos contrrios que se batem, enquanto ainda recusado dois sculos depois de Newton, o olhar para os movimentos de duas molculas que se atraem. No se v, contudo, a priori razo para justificar esta diferena de atitude de nossa mente. O complemento e a contrariedade podem ser percebidos como contrrios e tambm como complementares, como demonstrado atravs dos exemplos propostos. E, neste ltimo ponto de vista, importa notar que, por um importante efeito que lhes comum, os seus papis entram em acordo. O papel da oposio neutralizar, o papel da adaptao o de saturar; mas ao neutralizar e ao saturar so igualmente liberados e diversificados. Porque, saturado ou expedido por elas, os seres, molcula ou clula, se colocam momentaneamente libertos deste estado de determinao estreita e fixa que constitui a necessidade ou a ao; regressam momentaneamente rendidas por esta virtualidade infinita, indeterminada, que a essncia de sua natureza, e de onde no tardar a partir mais uma vez, mas por um caminho novo. Sua alma se coloca novamente disponvel e verdadeiramente livre por um instante at que se especializa e se rejeita na confuso das foras que lutam ou se acoplam. Amar e guerrear, ou, dito de outra forma, conceber e destruir o mximo possvel, a vida de homens primitivos; produzir e consumir o mximo possvel, e a vida dos civilizados. Construir teorias e destruir as dos seus predecessores, tal o sonho do sbio; o do artista eclipsar seus precursores, enterrar as obras dos outros sob as suas. No fundo de tudo se encontra a oposio e tambm a adaptao fundamental: se alimentar para agir, desfazer para fazer novamente. Com as sobras de uma capa geolgica formam uma nova terra: eis a vida da terra; expor o mar para o cu, derrubar novamente o cu no mar: eis a vida de gua sobre a terra. Expor sua rbita mais curta a mais longa, ressaltar novamente a rbita mais longa a mais curta, os planetas no fazem outra coisa no espao. Mas, deste conflito perptuo entre Brahma o engendrador e o assassino Siva, desta luta de aes contrrias e das lutas entre as harmonias, se clareia incessantemente qualquer novidade que no se ope a nada, que no serve para nada, porque no semelhante nem assimilou nada, e que parece ser a finalidade ltima
164
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
das coisas! A cada momento, cada um de ns, seres efmeros, entre nossos amores ou nossas brigas, atravessamos um estado singular, nico, e provamos um prazer que no se tinha provado ou que no se provar mais, ou suportamos um sofrimento extraordinrio, desconhecido a todos os demais e a ns mesmos. , no mais, no ser mais, parece consistir na razo de ser de tudo o que se repete, se adapta e se ope! E, por isto, algo de inacessvel sempre procurado: uma plenitude, uma totalidade, uma perfeio, paixo platnica de toda a alma e toda a vida. A perseguio do impossvel atravs do intil: seria esta, ento, realmente, a ltima palavra da existncia?
(Traduo de Mauro Guilherme Pinheiro Koury)
Notas
[1]
Este artigo uma reedio do Captulo VIII "L'opposition et l'adaptation " do livro, L'opposition universelle : Essai d'une thorie des contraires. Paris, Flix Alcan, 1897. As teorias qumicas reinantes parecem-me favorecer a assimilao da oposio adaptao. Primeiro, a observao de Laurent que a soma dos tomos demonstrada a partir dela mesma, - em um sentido mais profundo que o de Berzelius, - a combinao uma oposio. O cloro (cloreto de cloro) contm dois conjuntos de tomos, porque todo tomo saturado por um s tomo de hidrognio; o oxignio, do qual todo tomo saturado por dois tomos de hidrognio, contm quatro conjuntos de tomos, etc. segue-se que, em se substituindo um dos dois tomos acoplados que constitui o que se chama vulgarmente o tomo de oxignio, dois tomos de hidrognio no fazem mais do que substituir o tomo de hidrognio eliminado. Porm estes ltimos representam um papel precisamente inverso do seu parceiro; por conseguinte, h de se pensar que os dois tomos de hidrognio se opem ao tomo de oxignio subsistente. E, da mesma maneira, trs tomos de hidrognio para um tomo de nitrognio, ou quatro tomos de hidrognio para um tomo de carbono. Mas, por outro lado, pode-se dizer que esta oposio uma adaptao. "De acordo com esta nova hiptese, disse o Senhor Berthelot, o corpo simples, ser construdo de acordo com o avano subseqente do tipo de composio engendrada". Em biologia, a relao do darwinismo ao lamarckismo um pouco o da oposio para a adaptao. Lamarck explica o progresso dos seres atravs dos esforos de adaptao, e Darwin o explica, sobretudo, atravs dos seus conflitos destrutivos. No entanto, o transformismo, enquanto desenvolvimento de si, deveria ter combinado e deveria ter tentado reconciliar estas duas doutrinas que, alm de tudo, mesmo reunidas, tem revelado sua insuficincia. Logique sociale, pp. 379 e seguintes. - Ver tambm o Trait d'conomie politique de M. Paul Leroy-Beaulieu, t. IV p. 727.
[2]
[3]
165
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
[4]
Como demonstram certos exemplos indicados acima: a cadeia de ramos, na planta, oposta cadeia de razes; as foras centrfugas opostas s foras centrpetas, etc. Que lembra tambm as consideraes de Mallart e M. Berthelot sobre as pseudo-simetrias cristalinas, consideradas por este ltimo a partir dos modos de transao moleculares. Journal des Savants, set. 1896.
[5]
[6]
Para este ponto de vista, nada mais semelhante ao trabalho do lavrador ou do criador que o trabalho do cientista ou do artista, do filsofo ou do poeta. Um darwinista dir, por acaso, que o progresso das plantas ou dos animais domsticos deveu-se ao que o agricultor colocou no jogo da concorrncia vital? Mas, ao contrrio, ele colocou uma semente viva, gro de trigo, batata, couve, em condies tais que foram preservados dos golpes da luta pela vida: exercitou em seu favor um verdadeiro protecionismo, destruiu as ervas daninhas e outras parasitas, defendeu o cordeiro contra o dente do lobo ou contra os micrbios. Permitiu, tambm, ao germe vivo se desenvolver em virtude de sua prpria fora, fora harmoniosa e lgica, sem obstculos nem contradies quaisquer. E o cientista, o filsofo, no fazem outra coisa: evadem-se de discusses estreis, se recolhem em laboratrios ou gabinetes, e de l nutrem uma idia-me, germes para eles, hipteses julgadas viveis de todo o conhecimento apropriado; convidam, deste modo, a sua prpria fora latente a exibir seu contedo, e, se si mostram em contradio com fatos, o rejeitam, e ensaiam outros, at que ponham mo em uma idia que assimile facilmente os fatos conhecidos e que no os contradigam. A cama, afortunadamente, faz exceo, ao menos aparente, a este desenvolvimento geral do mobilirio domstico. E parece, a primeira vista, que, ao inverso da mesa, ela se tornou mais estreita, repelido mais e mais das partilhas familiares do tempo em que o selvagem oferecia sua esposa para o anfitrio como um prato vivo. Porm, visto de perto, a alcova tambm se ampliou, porm sob duas formas bem diferentes e de onde a segunda s destinada, eu acredito, a se desenvolver entre os grandes povos. Primeiro, e este problemtico, o progresso da vida urbana produziu uma sobre-excitao mtua dos sentidos que fez com que, em certas cidades, o mundo da cortesia, diariamente mais numerosa e mais tumultuada, nos trs outra vez sob a forma mais ou menos elegante a promiscuidade - mais imaginria que real - dos tempos primitivos. A vida mundana, s vezes, em si, algo mais do que um tipo de sociedade cooperativa de amantes e de consumo lascivo? Mas, por felicidade, sob uma forma simblica, pela difuso das obras literrias e das obras de arte, que o consumo ertico aufere o seu desenvolvimento mais rpido. O romance, especialmente, teve o efeito de associar milhes de leitores e leitoras a cada vez para as dores e as alegrias de dois amantes cujo destino os fascina. No o gostar como viver, por assim dizer, o mesmo amor, poetizado e vulgarizado? E msica, quando uma pera da moda alastra-se como uma inundao imensa, apaixonada, isto no uma comunho ntima? Guyau parece acreditar que a religio deve ser a que mais o elevou no ensino superior, e, certo, se coloca sob o ponto de vista da religio que se pratica ao preo de longas lutas doutrinrias. Mas a religio praticada, pelo contrrio, o que h de mais elementar no ensino primrio. Porm, uma experincia verdadeira e, ao mesmo
[7]
[8]
166
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tempo, um corolrio das leis da imitao que ainda e, sobretudo, o ensino superior de hoje destinado. Como contradies de suas perdas, apresenta-se sob uma forma simples e indiscutida, para se tornar o ensino primrio de amanh, como o luxo de hoje destinado a se tornar o necessrio de amanh, simplificando e diminuindo seus preos. Ao descender da elite multido e dos espritos adultos aos crebros das crianas, uma doutrina religiosa despoja o seu carter individual do livre exame e adquire a fora de uma sugesto social exercida sob o indivduo que atravessa o limiar da sociedade; sendo considerado apto de produzir os frutos sociais que se espera dele.
[9]
"Qual o povo mais potico e menos religioso que os gregos?" pergunta Guyau, para provar que o gnio artstico independente do gnio religioso e que o primeiro pode sobreviver ao segundo, substituindo mesmo o segundo... Mas o exemplo , certamente, mal selecionado. E pode-se perguntar do mesmo modo: "qual o povo mais poeta e mais religioso que os gregos?" No apenas a genealogia de sua arte, de sua poesia dramtica ou pica, de sua arquitetura, de sua escultura, de sua msica, religiosa como o a de nossa arte e de nossa literatura modernas, mas, ainda, o apogeu do desenvolvimento artstico e potico poca de Pricles e de Fidias, foi marcado pela harmonia mais serena da cincia nascente e da religio desabrochada, harmonia comparvel quela de nosso sculo de Louis XIV, apesar da impiedade isolada de alguns pensadores, repudiados por um Scrates ou um Anaxagore, por um Plato e um Aristteles; e, finalmente, o que deriva da evoluo do gnio grego? Para o bizantinismo, para a cristalizao religiosa e at mesmo a devoo mais meticulosa e mais completa que o mundo j viu. No que me concerne, tenho que confessar que tive dificuldade em conciliar estes dois dogmas, no ponto de vista da hiptese da nomonadologia que j expus em outro lugar. Se, em efeito, a esperana na vida pstuma (e a f em vidas anteriores) pode se apoiar na noo de mnadas, onde a cincia nos conduz atravs de tantos caminhos, por outro lado as mnadas, semeadoras eternas de seres e foras, no so em si a negao da substncia e da fora sem iguais? A objeo no , contudo, insolvel, e de onde vieram os nmades, tais como os concebo, em sua simpatia atraente, em sua possibilidade de copossesso e de penetrao recproca, se si recusa para eles uma fonte comum?
[10]
167
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
SOUZA, Vancarder Brito. Sociologia da emoo: resenha. RBSE, v.2, n.4, pp.168-171, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Sociologia da Emoo: o Brasil urbano sobre a tica do luto. Petrpolis, Vozes, 2003, 216p. *
Por Vancarder Brito Souza
Nas transformaes rpidas porque passa o Brasil contemporneo, marcadamente o urbano, sentidas e vividas com muita intensidade pelos indivduos no mbito do espao pblico, as esferas associadas s relaes sociais definidas pelo mercado parecem apontar para o recolhimento cada vez maior dos sujeitos sociais em si mesmos. Um estado de enfastiamento, como referido por Simmel na definio de seu homem blas, no qual as trocas afetivas se mostrariam enfraquecidas frente ao aumento da impessoalidade das relaes marcadas pela crescente racionalizao, tendo como produto final, um ser freqentemente angustiado diante da difcil operao de localizao de si frente ao mundo social. Este novo ambiente produtor e produzido pela intensificao das trocas sociais nas grandes metrpoles. Trocas estas tambm novas nas maneiras de sentir, ver e expressar o mundo, articuladas sob o signo do desassossego da perda ou do esmaecimento de muitas das antigas balizas do sujeito no mundo em sintonia com o devir social. A morte, o morrer, o luto e as emoes a eles relacionados podem ser apontados como marcos ou indcios de mudanas significativas nos ritos de passagem e re-fundao do social. Mauro Guilherme Pinheiro Koury, em Sociologia da Emoo: o Brasil urbano sob a tica do luto, discute os sentidos da morte e do morrer no processo de transformaes na contemporaneidade, levantando pistas sobre a constituio do luto no Brasil a partir das experincias dos indivduos comuns da classe mdia urbana. Tarefa espinhosa, no s pela dimenso geogrfica levada a termo no estudo[1] mas, sobretudo,
168
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
pela imerso em universos ntimos revirados pela dor e pelo sofrimento da perda de algum querido. O livro empenha-se, assim, na funo de tecer uma delicada cartografia, ao mesmo tempo espacial e emotiva, do luto no Brasil. Este cruzamento aponta para trilhas atravs das quais outros interessados possam se interrogar sobre a vivncia das emoes e seus desdobramentos na definio das relaes sociais em um ambiente de modernidade. A interrogao dos sentidos sociais da morte e do morrer no Brasil atual, sob a perspectiva da Sociologia das Emoes, como apresentada por Koury, sugere uma alterao da relao estabelecida entre as pessoas e o momento trgico do findar de uma existncia. Desta forma, aponta o autor, haveria na atualidade do nosso pas um distanciamento das bases de uma sociedade relacional, como trabalhado por Roberto DaMatta. Este curso de modificaes, sob a tica do luto, configura-se em uma das hipteses da pesquisa, e seria marcado, segundo Koury, pelo "distanciamento em relao ao morto e aos que o perdem" (p.7) , projetando uma nova forma de sensibilidade, na qual a manifestao pblica da dor pela perda de um ente querido torna-se cada vez mais estranha ao cotidiano. Neste cotidiano, marcado pela crescente impessoalidade da modernidade, novos cdigos de conduta surgem a cada momento como demarcadores dos limites de ao das pessoas. Em estudo sobre o processo de estabelecimento dos costumes e gostos na padronizao da vida social europia, Norbert Elias j apontava para a necessria introjeo de sentimentos que adequassem a postura de cada indivduo ao convvio social. Na proposta de Koury, este processo de adequao se mostra sob a forma de outra hiptese, na qual interroga sobre o quo solitrio se torna o indivduo a partir da vivncia do luto nas capitais brasileiras. Em um tempo de aceleraes, o ser que vive a dor da perda parece se ver frente a sentimentos ambguos de reconhecimento e recusa de suas prprias emoes. Sob o signo do mercado e do sucesso, a vida social no parece permitir que seus membros parem para chorar seus mortos como outrora. Koury investiga, ento, a constituio da vergonha por se permitir viver a dor da
169
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
perda, vergonha por uma possvel fraqueza moral identificada pelos outros e relacionada quele que expressa sua dor. Interroga sobre os processos sociais de articulao dessa economia dos sentimentos relacionados ao luto e como gradualmente se estabeleceram as bases de experimentao de um novo tipo de enlutamento, no Brasil. Luto fundamentalmente centrado na dimenso ntima e individual, com o enfraquecimento da articulao social de apoio e participao ritual de um tempo passado. O que faz emergir um conflito entre aquele que sente e o seu meio social ou ambiente moral, onde as necessidades de vivncia da saudade, melancolia e tristeza esbarra numa "espessa malha que o contorna" (p. 7), impedindo a expresso social do luto, mantendo-a dentro da pessoa. Obviamente, esta operao se d sob a marca da vergonha, enraizada numa sociedade que procura se definir antes pela performance e competncia de seus membros, que por suas dores ou fraquezas. Na trilha desta nova forma de sociabilidade relativa experimentao do luto atual, o autor nos conduz com delicadeza atravs dos diversos sentidos que seus informantes articulam sobre o sofrimento vivido. Deste dilogo contnuo entre o indivduo e o seu meio surgem narrativas emocionadas que, ao longo dos cinco captulos, dificilmente deixaro o leitor indiferente. As diversas nuances da dor ampliadas, sobretudo, pelo isolamento socialmente imposto ao sentimento de um ser em luto, elaboram um quadro no qual, o "ser discreto" e cada vez mais solitrio, vendo negada a possibilidade do abrigo efetivo, seja da famlia ou da religio, recorre a sua prpria subjetividade como ltimo recurso, muitas vezes, pouco eficaz. O indivduo que sofre dispe, cada vez menos, do espao de apoio e acompanhamento de sua dor. Em outras palavras, do espao pblico no qual tradicionalmente a dor da perda de algum era reparada. Ao contrrio, cada vez mais, se v diante do solitrio exerccio de recolher-se ao domnio do privado. S, isolado, portanto, se percebe envergonhado por sentir, tendo que retornar o mais rpido possvel aos seus afazeres e obrigaes.
170
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Para Koury, "no coordenar o trabalho de luto a realizar-se como unicamente desiluso do mundo, ou como uma conotao solitria de um sujeito em descompasso, em seu sofrimento, do social, intercesso entre o desespero e o tdio, a dor da perda subjetivada e sem expresso social, reproduz-se como ausncia de projeto" (p. 198). Nesta perspectiva, a da falta de projeto, quando mais seria necessrio, o sujeito encontra-se frente ao acirramento do dilema da modernidade: o desencantamento do mundo como proposto por Weber, face s exigncias do desenvolvimento. Cada vez mais angustiado e s, o homem comum, frente ao impondervel da existncia, coagido a diminuir a expresso social das suas emoes, parecendo dobrarse, ainda mais, diante de um mundo sem iluses. Desse modo o livro Sociologia da Emoo torna-se um importante instrumento para se pensar o comportamento social em transformao acelerada no Brasil urbano atual. Indispensvel em qualquer estante de cincias sociais.
*
[1]
Doutorando em Sociologia do PPGS/UFPB. A pesquisa abrangeu as 27 capitais brasileiras durantes os anos de 1997 e 2000, contando com 1.304 informantes e 259 entrevistas abertas, das quais foi definida uma amostra de 130 respondentes para aprofundamentos.
171
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BARRETO, Maria Cristina Rocha. Os significados da amizade: resenha. RBSE, v.2, n.4, pp. 172-176, Joo Pessoa, GREM, Abril de 2003.
ARTIGOS ISSN 1676-8965
REZENDE, Claudia Barcellos. Os significados da amizade. Duas vises de pessoa e sociedade. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2002. 168p.
Por Maria Cristina Rocha Barreto
[*]
Os significados da amizade um estudo comparativo sobre a amizade em dois contextos culturais bastante diversos que so as cidades do Rio de Janeiro e de Londres. Tarefa, devo dizer, que a autora realiza utilizando uma linguagem descontrada e sensvel sem descuidar do rigor cientfico-metodolgico. Realizando uma incurso em um campo terico ainda bastante difuso e por explorar, como o da antropologia da emoo, ela produz um relato informativo no s sobre os significados e prticas scio-culturais da amizade e suas relaes de classe e gnero, trazendo, no caso do Brasil, tambm elementos raciais em seu bojo, mas, ao mesmo tempo procura "compreender como a linguagem da amizade poderia lanar luz sobre o modo de construir e reforar hierarquias sociais" (REZENDE, 2002, p. 17). Esta, parece ser a tarefa que uma antropologia ou uma sociologia da emoo se propem: investigar os fatores psico-sociais que encontram expresso em sentimentos e emoes particulares e tornar claro como estes sentimentos e emoes esto relacionados com o desenvolvimento de repertrios culturais distintivos nas diferentes sociedades (LINDNER, 1999). Rezende procura desconstruir algumas noes naturalizadas sobre o "carter" dos ingleses - frios e fechados - e dos brasileiros - extrovertidos, festivos e sensuais -, aprofundando os tipos de sociabilidades que caracterizam as noes de amizade existentes em cada uma dessas culturas, que mesmo inscritas no que
172
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
comumente denominamos "mundo ocidental", apresentam elementos bastante diversos. A naturalizao da amizade como uma preferncia individual e, portanto, de cunho pessoal , como demonstra a autora, pensamento corrente no pensamento ocidental. Por isso as relaes de amizade no foram consideradas to centrais para a sociedade quanto as relaes de parentesco e familiares, mas so fundamentais nos processos de socializao. Por esta razo, a amizade, e podemos estender essa concluso para os sentimentos e emoes de uma forma geral, foi tratada de forma perifrica nos trabalhos clssicos da antropologia. Este um dos pontos que a antropologia e a sociologia da emoo procuram rever, ou seja, sentimentos de amizade (REZENDE, 2002), humilhao (LINDNER, 1999 e 2001), dor (GUERCI, 1999), luto (KOURY, 1999 e 2003), vergonha e embarao (SCHEFF, 1997; RETZINGER, 1998), medo (DELUMEAU, 2001), sofrimento social (BARRETO, 2002; DAS, 1997; FARMER, 1997) etc, no so apenas uma questo de emoo (psicolgica e individual), mas fazem parte de um processo social e devem ser vistos dentro de contextos mais amplos e como aspectos importantes das interaes entre os seres humanos e seu ambiente social e natural (LINDNER, 1999; BARRETO, 2001). Rezende delimita dois tipos de estudos antropolgicos e sociolgicos referentes amizade. Aqueles em que esta apresentada como uma relao pessoal, privada e voluntria (atributo que a diferencia das relaes comerciais ou de parentesco) e negam qualquer trao instrumental na relao. Logo, predomina este carter voluntarista que constri a amizade em termos de igualdade entre os envolvidos - pessoas de mesmo estrato social convivendo no mesmo meio. Esta abordagem no relativiza, de acordo com Rezende, a noo de pessoa envolvida na anlise como tendo um carter histrico e cultural. Este aspecto analisado no segundo tipo de estudos sobre a amizade, embora seja "uma viso romntica de indivduo, cuja interioridade definiria fundamentalmente a identidade, devendo ser expressa nas relaes" (REZENDE, 2002, p.22). A igualdade no condio sine qua non para o
173
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
estabelecimento da amizade, mas os autores vinculados a esta posio demonstram que uma preocupao com o instrumentalismo nas relaes caracterstica da distino entre as esferas pblica e privada que predominou a partir do sculo das luzes. Essa idia uma das angstias para o homem moderno, fruto do individualismo, ou seja, que busca uma forma de aliar as diferenas sociais entre pessoas e grupos ao mesmo tempo em que se tem a noo de que todos so iguais por natureza. Questes como as de igualdade e desigualdade entre os indivduos tambm esto envolvidas em emoes despertadas nos processos de submisso ocorridos nas sociedades altamente hierarquizadas, como mostra Lindner (1999), com a diferena que, neste caso, submeter um indivduo a outro necessrio manuteno dos sistemas hierrquicos. Por outro lado, essas atitudes de humildade esto mescladas a ressentimentos latentes entre os subordinados, que podem exigir retaliao ou vingana na primeira oportunidade. Podemos depreender da que as noes de igualdade e desigualdade permeiam muitos sentimentos, emoes e relaes sociais que se mostram fundamentais na construo do auto-respeito, auto-estima com conseqncias diretas na construo da imagem e identidade social do sujeito, e em casos extremos, em sua prpria humanidade. Essa noo de que a amizade seria a associao amizade, intimidade, necessidade de igualdade entre os amigos, contrastando a informalidade das suas relaes com aquelas que marcam o mundo do trabalho, deve ser confrontada com as diversas camadas sociais. Rezende demonstra que o que se denomina amizade um complexo que envolve um sem nmero de emoes e sentimentos em relao a um outro e que o peso dado a cada uma delas varia de acordo no s com a cultura que est envolvida, mas tambm com o gnero e a classe social dos indivduos. A confiana, por exemplo, uma referncia de conduta para todos, no entanto, pessoas dos estratos sociais superiores valorizam troca mais intimista e afetiva, enquanto que os operrios valorizavam mais o apoio e a segurana entre os amigos (REZENDE, 2002, p.24). E no meio social que os indivduos aprendem os significados e repertrios das emoes ao longo de todo o seu processo de socializao. Aprendem o significado das
174
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
emoes, como Koury demonstra com a dor, antes mesmo de as vivenciarem, "como uma categoria implcita e inconsciente construda socialmente em um tempo e em um espao especfico" (KOURY, 1999, p.78). A vivncia individual das emoes acrescentaria significados novos ao significado coletivo j expresso atualizando os conceitos culturais das diversas emoes. Este estudo sobre a amizade realizado por Rezende pode ser considerado uma tima contribuio para a antropologia das emoes no Brasil, mostrando sua afinidade com autores como Simmel, Weber, Elias e Foucault, que procuram explicitar a emergncia de uma subjetividade singular vinculada s mudanas histricas e culturais no mundo ocidental, sem deixar de perceber que, mesmo que o sujeito seja parte de um processo civilizador mais global, mantm alguns princpios e ethos particulares da cultura em que est imerso.
Bibliografia
BARRETO, Maria Cristina R. (2002). "Folha de Pernambuco: o sofrimento humano em um jornal popular". In RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoo, v.1, n.1, pp.61-76. (Disponvel em http://www.rbse.rg3.net). ISSN: 1676-8965. BARRETO, Maria Cristina R. (2001). "Individualismo e conflito como fonte de sofrimento social", in Revista Poltica e Trabalho, n. 17, pp. 16-32. Acessado em 02/05/03: http://www.geocities.com/ptreview/17-barreto.html DAS, Veena. (1997). "Language and body: transactions in the construction of pain" in KLEINMAN, A., DAS, V. & LOCK, M., (orgs.). Social Suffering. Berkeley, University of California Press, pp. 67 a 92. DELUMEAU, Jean. (2001). Histria do medo no ocidente: 1300-1800. So Paulo, Companhia das Letras. FARMER, Paul. (1997). "On suffering and structural violence: a view from bellow" in KLEINMAN, A., DAS, V. & LOCK, M., (orgs.). Social Suffering. Berkeley, University of California Press, pp. 261 a 283. GUERCI, Antonio e CONSIGLIERI, Stefania. (1999), "Por uma antropologia da dor. Nota preliminar". Ilha, Revista de Antropologia, n 0, pp. 55 a 72. KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (1999). "A dor como objeto de pesquisa social". Ilha, Revista de Antropologia, n 0, pp. 74 a 84. KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. (2003). Sociologia da Emoo. O Brasil Urbano sob a tica do Luto, Petrpolis, Vozes. LINDNER, Evelin (1999). Humiliation and the human condition:
175
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mapping
minefield,
Oslo,
University
of
Oslo.
LINDNER, Evelyn. (2002). "Mulheres e terrorismo: lies de humilhao". In RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoo, v.1, n.1, pp.77-94. (Disponvel em http://www.rbse.rg3.net). ISSN: 1676-8965. RETZINGER, Suzanne M. and SCHEFF, Thomas J. (1998), Shame as the Master Emotion. Acessado em 02/05/03: http://sscf.ucsb.edu/~scheff/3.html REZENDE, Claudia Barcellos. (2002). Os significados da amizade. Duas vises de pessoa e sociedade. Rio de Janeiro, Editora FGV. SCHEFF, Thomas J. (2001), "Trs Pioneiros na Sociologia das Emoes". Poltica & Trabalho, n. 17, pp.115-127. Acessado em 02/05/03: http://www.geocities.com/ptreview/17-scheff.html SCHEFF, Thomas (1997), Honor and Shame: Local Peace-Making Through Community Conferences. This paper is a modification of Scheff T, Crime, Shame, and Community: Mediation against Violence. Wellness Lecture Series. 1996, Volume VI. UC-Wellness Foundation Distinguished Lecture Series. Berkeley, CA. Acessado em 02/05/03 http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/6.html.
[*]
Doutoranda DCS/UERN.
em
Sociologia
do
PPGS/UFPB
Professora
do
176
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Colaboraram neste nmero:
Adriano de Len. Doutor em Sociologia pela UFPE e professor do Programa de Ps-Graduao em Sociologia da UFPB. Alain Caill. Doutor em Economia pela Universidade de Paris e professor de economia e sociologia da Universidade de Paris 10, (Nanterre). Fundador de La Revue du Mauss - Movimento Anti-Utilitarista em Cincias Sociais - que dirige desde 1981. Claudia Barcellos Rezende. Doutora em Antropologia e professora adjunta de antropologia no Departamento de Cincias Sociais da UERJ. Cornelia Eckert. Doutora em Antropologia e professora do Programa de Ps-Graduao em Antropologia social da UFRGS. Jos Palacios Ramrez. Doutorando em Antropologia e Bem Estar Social da Universidade de Granada, Espanha e pesquisador associado da Universidade de Jan, Espanha. Mauro Guilherme Pinheiro Koury. Antroplogo, Professor do Departamento de Cincias Sociais da Universidade Federal da Paraba, Coordenador do GREM Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoes e do GREI Grupo Interdisciplinar de Estudos em Imagem.
177
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Edies do GREM, 2003.
Copyright 2002 GREM Todos os direitos reservados. Os textos aqui publicados podem ser divulgados, desde que conste a devida referncia bibliogrfica. O contedo dos artigos e resenhas aqui publicados de inteira responsabilidade de seus autores.
178
You might also like
- Guia completo para iniciantes no mundo dos investimentosDocument131 pagesGuia completo para iniciantes no mundo dos investimentosHenrique DaftNo ratings yet
- Design e Planejamento (FINAL) - BxResDocument280 pagesDesign e Planejamento (FINAL) - BxResRoberta Barban FranceschiNo ratings yet
- Feira Rio AntigoDocument8 pagesFeira Rio AntigoRafael RochaNo ratings yet
- A Teoria Marxista Hoje - Atilio Boron - Organizador PDFDocument528 pagesA Teoria Marxista Hoje - Atilio Boron - Organizador PDFAntonio P. OliveiraNo ratings yet
- Spink 9788579820571 PDFDocument104 pagesSpink 9788579820571 PDFRafael RochaNo ratings yet
- Para Uma Teoria Das Relações de GêneroDocument15 pagesPara Uma Teoria Das Relações de GêneroRafael RochaNo ratings yet
- A Estrutura Temporal Da ConsciênciaDocument11 pagesA Estrutura Temporal Da ConsciênciaRafael RochaNo ratings yet
- Livro Design Livre v1 1Document161 pagesLivro Design Livre v1 1Thiago FelippeNo ratings yet
- A Arte de Se Ligar Às Coisas Da Cultura: Escola e Lei de Retorno Do Capital Simbólico PDFDocument15 pagesA Arte de Se Ligar Às Coisas Da Cultura: Escola e Lei de Retorno Do Capital Simbólico PDFantroposologogmailcoNo ratings yet
- A Estrutura Temporal Da ConsciênciaDocument11 pagesA Estrutura Temporal Da ConsciênciaRafael RochaNo ratings yet
- Politicasparaasartes Completo Web-2Document217 pagesPoliticasparaasartes Completo Web-2Marcos Antônio Bessa-OliveiraNo ratings yet
- Livro RomaDocument114 pagesLivro Romaedsonmgneto100% (1)
- RBSE v1 n1 Abril 2002 em PDFDocument115 pagesRBSE v1 n1 Abril 2002 em PDFMaria José BarrosNo ratings yet
- Revista Brasileira de Sociologia Da Emoção v1 n2 Ago2002Document144 pagesRevista Brasileira de Sociologia Da Emoção v1 n2 Ago2002Rafael RochaNo ratings yet
- Poulantzas, SSBragaDocument30 pagesPoulantzas, SSBragaluciano cavini martoranoNo ratings yet
- Topologias Do PoderDocument40 pagesTopologias Do PoderEwerton M. LunaNo ratings yet
- A Palavra em MovimentoDocument15 pagesA Palavra em MovimentoDaniel MartinsNo ratings yet
- Revista Brasileira de Sociologia Da Eemoçãop v1, n3, Dez2002Document160 pagesRevista Brasileira de Sociologia Da Eemoçãop v1, n3, Dez2002Rafael RochaNo ratings yet
- O Diálogo Na Linguística Soviética Dos Anos 1920-1930Document29 pagesO Diálogo Na Linguística Soviética Dos Anos 1920-1930Rafael RochaNo ratings yet
- O Campo Político - Pierre BordieuDocument24 pagesO Campo Político - Pierre BordieuDanielle FaccinNo ratings yet
- Tavares, Francisco. em Busca Da Deliberação - Mecanismos de Inserção Das Vozes Subalternas No Espaço PúblicoDocument32 pagesTavares, Francisco. em Busca Da Deliberação - Mecanismos de Inserção Das Vozes Subalternas No Espaço PúblicoVanessa MacedoNo ratings yet
- Mídia, Poder e Democracia - Teoria e Práxis Dos Meios de ComunicaçãoDocument29 pagesMídia, Poder e Democracia - Teoria e Práxis Dos Meios de ComunicaçãoRafael RochaNo ratings yet
- HERB K o Poder em Maquiavel, Hobbes, Arendt e FoucaultDocument18 pagesHERB K o Poder em Maquiavel, Hobbes, Arendt e FoucaultGarcia VítuNo ratings yet
- Força e Consenso Como Fundamentos Do EstadoDocument20 pagesForça e Consenso Como Fundamentos Do EstadoDhiego RecobaNo ratings yet
- Dominação e Contrapoder - o Candomblé No Fogo Cruzado Entre Construções e Desconstruções de Diferença e SignificadoDocument44 pagesDominação e Contrapoder - o Candomblé No Fogo Cruzado Entre Construções e Desconstruções de Diferença e SignificadoRafael RochaNo ratings yet
- Voz, Sentido e Diálogo em BakhtinDocument13 pagesVoz, Sentido e Diálogo em BakhtinRafael RochaNo ratings yet
- Exploração Normal, Resistência NormalDocument28 pagesExploração Normal, Resistência NormalRafael RochaNo ratings yet
- Democracia e Economia Solidária - Limitações e PotencialidadesDocument22 pagesDemocracia e Economia Solidária - Limitações e PotencialidadesRafael RochaNo ratings yet
- Recorrência e Evolução No Capitalismo Mundial - Os Ciclos de Acumulação de Giovanni ArrighiDocument28 pagesRecorrência e Evolução No Capitalismo Mundial - Os Ciclos de Acumulação de Giovanni ArrighiRafael RochaNo ratings yet
- Celular Na Mão Não É Jornalismo - 04 - 02 - 2024 - Lygia Maria - FolhaDocument1 pageCelular Na Mão Não É Jornalismo - 04 - 02 - 2024 - Lygia Maria - FolhaIgorr VittorinoNo ratings yet
- CTE - 63 - LacarDocument1 pageCTE - 63 - LacarHiago Junio Carvalho AlvesNo ratings yet
- DenúnciaDocument6 pagesDenúnciaFernandoNo ratings yet
- O que é o machismo e suas causasDocument3 pagesO que é o machismo e suas causasAna LuisaNo ratings yet
- Divorcio? Nunca Mais!Document55 pagesDivorcio? Nunca Mais!setcristianNo ratings yet
- Tese. Cosmopolítica Ameríndia. Versão FinalDocument199 pagesTese. Cosmopolítica Ameríndia. Versão FinalGustavo FontesNo ratings yet
- O Fazer Pedagógico em Diferentes Perspectivas PDFDocument60 pagesO Fazer Pedagógico em Diferentes Perspectivas PDFgiovanascavassaNo ratings yet
- Calculo Financeiro IDocument59 pagesCalculo Financeiro IJoão Carlos PintoNo ratings yet
- Estado intervenção economia portugalDocument7 pagesEstado intervenção economia portugalAndré RodriguesNo ratings yet
- Versao Corrigida Dissertacao Deborah Ewelyn de Araujo Da SilvaDocument90 pagesVersao Corrigida Dissertacao Deborah Ewelyn de Araujo Da SilvaGabriel DaherNo ratings yet
- gomes_escravidao_v3Document4 pagesgomes_escravidao_v3Adalberto MeeNo ratings yet
- 106885-Texto Do Artigo-188889-1-10-20151030Document15 pages106885-Texto Do Artigo-188889-1-10-20151030Lu HegreNo ratings yet
- Instrução Suplementar - IsDocument8 pagesInstrução Suplementar - IsWOLF TARIKNo ratings yet
- Aula 01 - Governança CorporativaDocument14 pagesAula 01 - Governança CorporativapamelaNo ratings yet
- #1 Come Back For MeDocument459 pages#1 Come Back For MeAuany SiqueiraNo ratings yet
- Águas, trabalho e produção do espaço urbano em Feira de SantanaDocument25 pagesÁguas, trabalho e produção do espaço urbano em Feira de SantanaPedro Alberto Cruz de Souza GomesNo ratings yet
- Jornalismo no filme Leões e CordeirosDocument1 pageJornalismo no filme Leões e CordeirosBárbara AleixoNo ratings yet
- Caso Alyne Pimentel: Violência de Gênero e InterseccionalidadesDocument12 pagesCaso Alyne Pimentel: Violência de Gênero e Interseccionalidadesjosetadeumendes1772No ratings yet
- A Ciência Para Viver na PlenitudeDocument61 pagesA Ciência Para Viver na PlenitudeTadeu Morales NavarroNo ratings yet
- Enegrecendo As Referências Carmo, Cornélio, Rodrigues e Freitas 2021 RDocument15 pagesEnegrecendo As Referências Carmo, Cornélio, Rodrigues e Freitas 2021 RMatheus FreitasNo ratings yet
- Abstração Real, Dinheiro e Valor em Sohn-Rethel PDFDocument38 pagesAbstração Real, Dinheiro e Valor em Sohn-Rethel PDFPaulo MasseyNo ratings yet
- Novo RAE Port 1555 CExDocument36 pagesNovo RAE Port 1555 CExdaniel ferreiraNo ratings yet
- Princípios do processo administrativo federal segundo a Lei 9.784/1999Document240 pagesPrincípios do processo administrativo federal segundo a Lei 9.784/1999Elenildes Feitosa SousaNo ratings yet
- Atividade GlobalizaçãoDocument21 pagesAtividade GlobalizaçãoSiliane NunesNo ratings yet
- IpvaDocument1 pageIpvaDeivin FrazãoNo ratings yet
- 2 - Carta Proposta - TP 002.2022 - Quadra - PMMDocument2 pages2 - Carta Proposta - TP 002.2022 - Quadra - PMMRafael LimaNo ratings yet
- A Importância Da Cadeia de Custódia Na Computação Forense. 2020Document5 pagesA Importância Da Cadeia de Custódia Na Computação Forense. 2020Mayy cristinaNo ratings yet
- UCMO Licenciatura em Administração Pública 2o ano: Teoria do Estado e Relações InternacionaisDocument3 pagesUCMO Licenciatura em Administração Pública 2o ano: Teoria do Estado e Relações InternacionaisNelson DiClaudio AraújoNo ratings yet
- Resumo sobre a Sociedade do Antigo Regime e o surgimento do parlamentarismo na InglaterraDocument12 pagesResumo sobre a Sociedade do Antigo Regime e o surgimento do parlamentarismo na InglaterraBeatriz LopesNo ratings yet
- Ofício Ministério Da Justiça 2023Document2 pagesOfício Ministério Da Justiça 2023Erik AndersonNo ratings yet