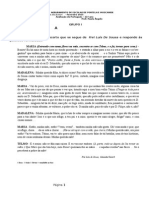Professional Documents
Culture Documents
Luiz Edmundo - No Tempo Dos Vice-Reis
Uploaded by
Leonardo NogueiraOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Luiz Edmundo - No Tempo Dos Vice-Reis
Uploaded by
Leonardo NogueiraCopyright:
Available Formats
O RIO DE JANEIRO NO TEMPO DOS VICE-REIS 1763 1808 Coleo Brasil 500 Anos Lus Edmundo
Braslia 2000 BRASIL 500 ANOS O Conselho Editorial do Senado Federal, criado pela Mesa Diretora em 31 de janei ro de 1997, buscar editar, sempre, obras de valor histrico e cultural e de importnc ia relevante para a compreenso da histria poltica, econmica e social do Brasil e ref lexo sobre os destinos do Pas. COLEO BRASIL 500 ANOS De Profecia e Inquisio (esgotado) Padre Antnio Vieira O Brasil no Pensamento Brasileiro (Volume I) Djacir Meneses (organizador) O Brasil no Pensamento Brasileiro (Volume II) Walter Costa Porto e Carlos Henriq ue Cardim (organizadores), em preparo Manual Bibliogrfico de Estudos Brasileiros Rubens Borba de Morais e William Ber rien Catlogo da Exposio de Histria do Brasil Ramiz Galvo (organizador) Textos Polticos da Histria do Brasil (9 volumes) Paulo Bonavides e Roberto Amar al (organizadores) Galeria dos Brasileiros Ilustres (Volumes I e II) S. A. Sisson Comunidade e Soc iedade no Brasil Florestan Fernandes Biblioteca Histrica Brasileira Rubem Borba de Morais Rio Branco e as Fronteiras do Brasil A. G. de Arajo Jorge Ensaios Amaznicos Euclides da Cunha Formao Histrica do Acre (Volumes I e II) Leandro Tocantins Efemrides Brasileiras Baro do Rio Branco Amap: a Terra onde o Brasil comea, 2a edio Jos Sarney e Pedro Costa Na Plancie Amaznica Raimundo Morais Projeto grfico: Achilles Milan Neto Senado Federal, 2000 Congresso Nacional Praa dos Trs Poderes s/no CEP 70168-970 Braslia-DF CEDIT@senado.gov.br. http://www. senado.gov.br/web/conselho/conselho.htm Edmundo, Lus. O Rio de Janeiro no tempo dos Vice-Reis 1763-1808 / Lus Edmundo. Braslia : Senado Federal, Conselho Editorial, 2000. p. (Coleo Brasil 500 Anos) 1. Rio de Janeiro (RJ), descrio. 2. Rio de Janeiro (RJ), histria. 3. Usos e costume s, Rio de Janeiro (RJ). I. Ttulo. II. Srie.
Os Transportes p. 113 Festas Populares p. 123 Alegorias p. 133 Cavalhadas p. 143 Touradas p. 155 Congadas p. 165 Serrao da Velha p. 175 O Imperador do Divino p. 185 Moda Masculina I (p. 195), II (p. 205) Cabeleiras p. 213 Moda Feminina p. 225 Cortesias e obrigaes I (p. 237), II (p. 247), III (p. 257) Assemblias I (p. 265), II (p. 273) Namoro e Casamento I (p. 283), II (p. 293), III (p. 305), IV (p. 315) Cozinha e Mesa I (p. 325), II (p. 333), III (p. 341), IV (p. 349), V (p. 359) Teatro I (p. 369), II (p. 379), III (p. 389) Medicina I (p. 401), II (p.411), III (p. 421) Justia I (p. 433), II (p. 445) Pelourinho p. 457 Forca p. 467
Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis (1763 a 1808), eis o ttulo do precioso estu do do Sr. Lus Edmundo, com que se engalana o presente volume da nossa Revista. Este trabalho do distinto patrcio, fruto sem dvida de rduas pesquisas, e enriquec ido de uma copiosa documentao iconogrfica, haurida nas melhores fontes, um verda deiro tesouro para a Histria do passado da nossa Capital, como foram as Antiqualh as do saudoso Vieira Fazenda. H nele testemunhos do atraso em que vivia ento a nossa bela cidade, a formosssima G uanabara, cujos encantos naturais no houve, alis, visitante estrangeiro que deix asse de exaltar com grande entusiasmo; h nele por outro lado, porm, descries curiosss imas de uma sociedade que se organizava. No nos pejemos diante desses quadros comuns a tantas outras nobres cidades do mun do em via de formao, sem excluir a prpria metrpole portuguesa, donde vieram os nossos vice-reis. Semelhantes quadros servem, por sua vez, para demonstrar quanto o Rio de Janeir o progrediu em pouco mais de um sculo, desde 1808 com a emigrao da Famlia Real Portu guesa, e depois com a Independncia poltica, que nos abriu de par em par as portas do futuro. A obra, a muitos respeitos notvel, do distinto Sr. Lus Edmundo constituir pois um valioso documento histrico brasileiro, que entra com muita galhardia no quadr o dos trabalhos do nosso Instituto, e ser decerto lido com o maior interesse por todos os que amam essa gloriosa terra. Da Direo da Revista. O Rio de Janeiro no panorama deslumbrante da Guanabara A cidade vista do mar Seu contraste no quadro da natureza maravilhosa Fealdade. Sujidade. Insalubridade S urtos epidmicos e maneiras pitorescas de evit-los Lisboa e a capital brasileira du rante o sculo XVIII A obra do homem e a obra de Deus.
ILUSTRAES NO TEXTO A cidade vista do mar, Washt Rodrigues esembarque na Praia do Carmo, Washt Rodrigues A Rua IX, Carlos Chambelland Negro escravo vestindo capa Chafariz do Lagarto, Carlos Chambelland. FORA DO TEXTO Retrato do Conde da Cunha (Coleo do Aspectos da cidade e das ruas I
Ponte de madeira servindo de d do Ouvidor no comeo do sculo X de palha, Carlos Chambelland Instituto Histrico Brasileiro).
Como hoje, j era de enlevo e de deslumbramento a impresso que assaltava o estrange iro ao transpor a barra estreita da Guanabara. O panorama da natureza original e farta, sob a labareda do sol, lambeando o cu, doirando a terra, polindo o mar, e mpolgava-o, confundia-o, assombrava-o. Mesmo o reinol, afeito aos cenrios tocados de luz, na Pennsula, vencido, quedava em xtase ante o esplendor da plaga american a. Ainda hoje, no h nada mais lindo sobre a Terra: Nem a soberba Gnova, como escrevia Arago, com todos os seus palcios de mrmore e jardins suspensos; Npoles risonha, de guas transparentes, com o seu Vesvio e as suas vilas frescas; Veneza; at o Bsfor o encantado, entre os seus minaretes e quiosques oferecendo aos olhos a paisag em tranqila e luminosa... A baa azul reflete o cu turquesa. Esto as montanhas em crculo, enroupadas de verde,
inslitas no relevo e na frescura. Vem-se outras dilatando a perspectiva, fugindo, ascendendo, marcando por tonalidades suavssimas os longes esfumados da paisagem. O cenrio teatral. Encanta. Enleva. Ofusca. Nesse painel de sonho, olha-se em fren te o mar, que mal se enruga ao vento e v-se a gua olivcea e lmpida, toda ela como um a lentejoula fulgindo ao sol. Quando a gua acaba, surge ento a linha branca e estr eita da praia, e depois, na terra escura, a ndoa espessa do casario esparramado e triste. a capital da colnia.
No quadro maravilhoso da natureza, a cidade um contraste. E uma mancha brutal na paisagem radiosa. A casa feia. A rua suja. O conjunto exaspera. Tudo conspira c ontra o povoado infeliz: o clima, um clima abrasador e ardente, as montanhas, qu e o cercam e o encantonam e o sufocam, o cho mido e verde, o azul onde ele se asse nta, o desasseio gerado pelo prprio homem, que sorri das lies do brbaro tamoio... Em 1808, com a corte doirada de D. Maria I, a IntendnciaGeral da Polcia mandando v arrer praas e ruas, derrubar casas, na nsia justa de transformar a urbs num domicli o real, Luccok acha-a a mais imunda associao humana vivendo sob a curva dos cus... Fica-se, depois disso, a pensar no que seria, ento, o Rio de Janeiro de anos atrs; mesmo o do governo do ltimo Vice-Rei, o Sr. Conde dos Arcos, sem corte e fidalgo s de espavento, virgem da casaca bem cortada do Sr. Dr. Rodrigo de Sousa Coutinh o, das maneiras excntricas do Conde de Anadia, e, sobretudo, da resolutssima vass oura do Sr. Paulo Fernandes Viana, Intendente da Polcia! Depoimentos de estrangeiros que nos visitaram, em pocas anteriores, so, na verdade , dolorosamente edificantes. Sempre ser bom ficarmos, entretanto, na documentao oficial dos prprios portugueses, pondo um pouco de parte opinies que possam ser tidas por exageradas ou suspeitas. Em 1763, chega e vai morar no casaro que serve de palcio, construdo no tempo de Bob adela, o Sr. Conde da Cunha, D. Antnio lvares da Cunha, senhor de Tvoa, Cunha e Ogu ela, Comendador e Alcaide-Mor de Idanha, Tenente-General dos Reais Exrcitos, 1 Vic e-Rei do Brasil no Rio de Janeiro. No pode morar, porm; S. Ex no suporta as emanaes ptridas e o mefitismo que o sitiam, v ndos de toda parte. No tem nariz nem estmago para tanto. E s pergunta, muito espant ado, como o Sr. de Bobadela pde governar vivendo, como vivia, dentro de tal chiqu eiro e tal cidade. Trepa, galga a montanha do Castelo, e, entre rvores amigas, escolhe stio amvel, alt o, fresco, batido da virao que vem da barra. A quer ficar, olhando a cidade, bem lo nge, o beque melindroso posto a salvo. E est S. Ex a tratar da mudana, quando, do r eino, lhe chega cousa melhor que isso a nova de que deve mudar, no de casa, mas d e cidade e pas. Rejubila. O seu sucessor, o Sr. Conde de Azambuja, com uma pituitria mais condescendente, prefere a esterqueira da baixa ao incmodo da subida. Fica no casaro, mas quase mo rre. Vem substitu-lo o sobrinho, D. Lus d'Almeida Portugal, Marqus de Lavradio. Moo co rajoso e robusto, premido pelas circunstncias, mantm-se no palcio. Na correspondncia particular para o Reino, porm, queixa-se muito de mazelas e as atribui terra em que se instala. E com razo. Sofre. Pede, depois, que o arranquem daqui. S sai, porm , quase no fim de nove anos. Com Lus de Vasconcelos e Sousa que comeam algumas pro vidncias para tornar o lugar coisa mais suportvel. Faz-se, no entanto, pouco, muit o pouco. Aterra-se a Lagoa do Boqueiro, traa-se Passeio Pblico. At o Sr. Conde de Re sende e D. Fernando Portugal, que lhe sucedem, nada ou quase nada mais se faz. M elhorar o pas? Para qu? O Sr. Conde dos Arcos tem um governo rpido. Fugindo aos sol dados de Napoleo, chega, depois disso, a Corte portuguesa, de Lisboa. Ano de 1808 . A cidade no mudou. a mesma. O tifo, a varola e outras doenas malignas tinham, ent retanto, aqui definitivamente plantado tenda. Morre-se como no h memria de se morre r tanto, no Brasil. Os relatrios que vo para a Metrpole, porm, falam bem pouco de ta is assuntos. Epidemias! Para sust-las praxe, no Brasil, atirar s ruas espessas manadas de bois, varas de p orcos, rebanhos de carneiros, esperando-se que a Divindade os fulmine, transferi ndo para eles a clera que tanto aos homens prejudica. Fazem-se preces pblicas; as igrejas vivem sempre abertas, os altares dia e noite iluminados. Prometem-se Div indade custdias de ouro, toneladas de cera, somas em dinheiro, novenas, te-deuns, capelas...
Ningum trata de mandar varrer as ruas, distribuir melhor a gua, ter mais asseio co m o prprio corpo. A linfa da carioca, portadora das mais tremendas infeces, corre a descoberto. Os animais mortos enchem, entulham a famosa Vala que liga Santo Antn io Prainha. Cada rua uma artria mida e podre, secando ao sol. A medicina, cujas relaes so ainda as mais cerimoniosas como a higiene, perseguida , vexada pela ignorncia dos homens, entra no Brasil, timidamente, com um olho no bispo, outro no vice-rei. Sobre os males que nos afligem, h teorias edificantes. A do morgado de Mateus de S.Paulo, por exemplo, explicando as causas de certa p este: Eu atribuo esta intemperana aos contnuos relmpagos que continuamente se vem c intilar por todos os meses em que c costuma ser o inverno, durando estes mete oros at chegarem a forma sobre o hemisfrio deste lugar uma terrvel trevoada. O Senado da Cmara, em 1798, ainda pe em dvida se as imundcies que se conservam dent ro da cidade, so ou no causas de doenas, tanto que desse assunto faz uma srie de q uesitos que manda a uma comisso de sumidades mdicas. Essas sumidades, ao responde r, pintam-nos, sem o menor rebuo, a misria que isto era, por aqui, por to tristes e to distanciados tempos. Manuel Joaquim Marreiros fala-nos do desasseio das praia s provenientes dos despejos cujos eflvios voltam para a cidade envoltos com os ventos e a fazem pestfera, e o que se passa pelas igrejas recheadas de cadveres, uma indiscreta devoo. Cita vrias ameaas sade. No esquece a Vala, o Cano, a cadeia... utras causas, porm, graves ainda existem. Os Drs. Bernardino Antnio Gomes, Antnio d e Medeiros, bem como o Dr. Manuel Vieira da Silva, conhecedores a fundo dos mean dros insalubres do Rio, fazem-nos delas uma lista enorme. No vale a pena insistir . Contudo as providncias so mnimas. A cidade, na alvorada dos sculo XIX, o que era h 20 0 anos atrs: uma estrumeira. Os prprios ndios aqui no se sentem bem. Bom ser, entretanto, no aceitarmos, para explicar as razes de to grande desconforto e de smazelo, a afirmao brutal de Frei Vicente, quando diz que os que viviam na terra a usavam no como senhores mas como usufruturios, s para a desfrutarem e a deixar des truda. No era bem assim. Portugal, por essa poca, sofria o mesmo mal que ns soframos, com a poltica desvairada dos seus reis ignorantes e ambiciosos. Esta que a verda de. Sofria tanto quanto ns, e com menos razes, que, afinal, no era uma colnia. Sabese, por acaso, o que foi a Lisboa do sculo XVIII e comeo do XIX? Que respondam Cos tigan, Beckfor, Murphy, Twis, Kinsey, o Duque de Chatelet, o autor do Sketch es of Portuguese Life manners and costumes, isso para no citar outros viajantes estrangeiros, que de perto a sentiram. Lisboa, na verdade, era qualquer coisa mu ito pouco melhor que o Rio. Muito pouco. E era a capital de um reino glorioso! Pobre, beato e sujo Rio de Janeiro do tempo dos vice-reis! De que te servia o qu adro da natureza amiga e portentosa, a cor do cu, a luz do sol, a beleza do monte e da folhagem, se a obra do homem ofendia a obra linda de Deus? Ofendia e humilhava... O salo de visitas da cidade colonial Palcio do Governo As casas do Teles Negros de todas as castas Pela hora da tamina A vida e a alegria da praa Tipos populares. Filipe da Bodega e Bota-bicas Movimento de carruagens Animadas assemblias ao ar l ivre s primeiras sombras da noite.
ILUSTRAES NO TEXTO Negro portador d'gua, Washt Rodrigues Arco do Teles, Washt Rodrigues Botabicas, Washt Rodrigues Chafariz da Praa do Carmo, Carlos Chambelland Soldado do 1 regimento de infantaria do Rio de Janeiro, Washt Rodrigues. FORA DO TEXTO Retrato do Conde de Azambuja (Coleo do Instituto Arqueolgico e Geogrfico de Alagoas). Aspectos da cidade e das ruas
II Uma terra de luz intensa e natureza farta, o salo de visitas da cidade uma praa de spida de rvores e de sombra, vasta, rasa, suja, castigada pela labareda inclement e do sol. E que sol! Um lumaru ardente que falha, espadanando lavas e diante do qual as coisas ganham violentos e ntidos ressaltos, relevos singulares, mostrando por sobre as superfcie s destacadas como que uma crosta luminosa, que assalta e fere o olhar. Chamou-se ao logradouro extenso e plano Vrzea de Nossa Senhora do , Lugar do Ferreiro da Pol, antes de ser Praa do Carmo. esquerda de quem vem do lado do mar, fica a residncia vice-real, sombrio casaro do s tempos de Bobadela, branco, feio, retangular e baixo, riscadinho de portas e j anelas. E, no entanto, a mais suntuosa morada da colnia, embora como residncia de um governador, a maior autoridade do pas, deixe bastante a desejar. Os portuguese s foram sempre gente modesta e simples. At na capital da metrpole o palcio onde res ide o monarca, coisa singela, sem grandes brilhos. A Corte de Lisboa sem a menor magnificncia. O palcio real um edifcio mesquinho e de um s andar, informa-nos o Duque de Chatelet, que esteve em Lisboa pelo fim do sculo XVIII. Por c as coisas so, por certo, um poucochinho mais mesquinhas. Interiormente, o pardieiro ermo e sombrio, cheira a mofo e quase despido de mobi lirio. Parny, em 1772, pelo menos, no-lo descreve com os seus sales vastos e desertos on de se viam, apenas, algumas cadeiras e umas tantas mesas, todas elas cobertas de panos at o assoalho, tapando-lhes, certamente, por decoro e pudor, as injrias da idade e a fraqueza do estilo. Ao fundo da praa est a linha melanclica do Carmo, convento e igreja, massa inexpres siva e velha, de ar desmoronante, com um torreozinho recortando a placa anilada d os cus. direita, na linha do casario que avana para a praia, as casas do Teles, al tas, aprumadas, com os seus balces verdoengos e os seus telhados ngremes e pardos. Na linha do rs-do-cho, v-se a porta que d entrada bodega do francs Philippe, uma da s mais populares figuras da cidade e que a profisso de bodegueiro liga de intrpret e, agente de cmbio e mais negcios. A sua tasca uma das mais populares, stio onde vo parar os viajantes vindos de Minas e de S.Paulo e onde, por vezes, dormem. Que os que esto em trnsito no porto podem descer, mas no podem domir em terra. O Arco d o Teles abre adiante a face escancarada e suja. uma passagem curta, onde se amon toam e desaparecem mendigos, rascoas, vadios e soldados. Para a linha que vai ao mar, depois, est o mercado de peixe, com as suas cabanas de lona ou palha, armadas ao sol, sujas, molambentas, caindo aos pedaos. Vem, ento , a praia branca, manchada de calhaus e detritos, que foge para as bandas do Ars enal e onde encalham faluas de vermitico pintadas de vivas cores. H no centro da praa um chafariz, obra singela e tosca, posto depois, rente linha d o mar, bastante melhorado. De Lisboa vieram o modelo e a pedra. A linfa, porm, no pde vir. nossa. Vasa o manan cial desde cedo, por largas bicas de bronze, sobre barris e potes, a gua que o ne gro escravo apanha e leva. Em torno h sempre um srdido formigueiro humano, inquiet o, rumoroso, que serpenteia e palpita. Aproximemo-nos. So os negros escravos chap inhando nas sobras da gua, berrando ameaas, gingando capoeiragens, discutindo, ges ticulando; tipos fortes e espadados, reluzentes e nus, tendo apenas pendente da c intura, guisa de velrio, em pregaria escassa, uma tanga. H-os de todas as raas afri canas: gente de Moambique e da Guin, da Angola e da Costa da Mina, cafres, quiloas , benguelas, cabindas, monjolos e vatuas. Todos com a mesma pele ebnica e retinta . As almas so, entanto, diferentes.
Na gleba natal, eles, os negros, formaram outrora naes desavindas que lutaram, que sofreram. Por isso aqui no se unem, antes se detestam e se odeiam. Separam-se po r castas, orgulhosas, soberbos, e, como os animais, olham-se de esguelhas, rilh ando os dentes. O alarido que se ouve, a bulha que ensurdece, junto ao chafariz, diz dio, preveno; diz raiva e diz rancor. o referver de velhas frias e averses, contidas apenas pela chibata do capataz, que zune e estala no ar. Portugal, sem o pensar, salvou-se, indo buscar o negro, um pouco em toda a parte . O negro, graas s fundas dissenes na terra de origem, entre ns, maioria e fraco. N repondera. Maquiavel no d lies ao destino. Quando o alarido cresce e o conflito arrebenta, para calmar a turba estrepitosa e insubmissa, o capataz ergue o relho e o estraleja. um sinal... Submisso, o esc ravo abafa a ira ou sopita o furor. E ele que se abespinhe ou recalcitre! O relh o, logo riscando o ar, desce, tinge-lhe de sangue as carnes de azeviche. Pousados a cabea sobre rodilhas de pano, os recipientes cheios a transbordar, os portadores de gua dividem-se e espalham-se para a direita, caminho de S. Bento, p ara a esquerda, caminho da Cadeia. No diminui, no entanto, o formigueiro humano n a adusto da soalheira que referve. Chegam uns, saem outros... nesse quadriltero poeirento que ao crespsculo luminoso da tarde vm os homens da te rra juntar-se. a gente mais escolhida da cidade, do melhor ambiente e da melhor situao, que surge bufando de calor, com os seus tricrnios sob o brao, as cabeleiras naturais despen teadas pelo vento que comea a soprar, desafogando-se das trabalheiras do dia rduo; uns, j tratando novas trabalheiras, outros, zelosos, evitando-as; gente que cheg a para espairecer, para alegrar-se, para refrescar, falando, rindo, discutindo, animosamente, alacremente, gostosamente. Por vezes, trs, quatro ou cinco condues: liteiras, serpentinas, cadeirinhas ou mesm o seges, comprometendo o trnsito, formam um crculo apertado, de modo que cada viaj eiro possa de sua almofada, comodamente, conversar, como em famlia. Em certos pon tos, graas a essa prtica, dificilmente se caminha. Que no se espere ver, porm, nessas estrdias assemblias ao ar livre, senhoras, pois q ue s muito para o fim do sculo que elas comeam a aparecer nos logradouros pblicos, e , isso mesmo, no casulo das suas condies. Passam ambulantes vendendo o alu, a pamonha, a canjica e o gergelim; cruzam drages da guarda do vice-rei com os seus capacetes em forma de unha e viseira de arreb ito; mendigos deformados pela elefantase, leprosos, negras fregonas, mochilas, ge nte da ral, flor da rua. Passa o Bota-bicas, tipo popular, bufo da plebe, inocente sorriso da cidade, benquisto de todos, que lhe atiram saudares e moedas, reclam ando chufas, dichotes e chalaas. No se faz de rogado Bota-bicas. Bota-Bicas est preso, Deves mand-lo soltar, Porque preso Bota-Bicas No pode bicas b otar. Raro S. Ex o Sr. Vice-rei honra com a sua presena a praa. Pela hora em que o cu ganh a um tom cinza e o vento sopra mais forte, vindo da barra, para melhor gozar do quadro e da paisagem, Phillippe, o da bodega, arrasta para a frente da porta um banco de jacarand, desa botoa a vstia de ramagens, bufando, acalorado, e mete o cachimbo de loua na boca q ue tagarela em uma poro de lnguas. Phillipe diverte-se, Philippe sente-se bem nesse ambiente patriarcal e amvel, Phillippe, que vem de Frana, mas que no se sabe se te ria visto e apreciado as elegncias mundanas da risonha Versalhes, com os seus can teiros Le Notre e os seus personagens Watteau. Antes, porm, das badaladas das Ave-Marias, toda essa multido se aparta e se desman cha. Que a cidade no conta com outra luz, quando anoitece, que no seja a dos nicho s iluminados das esquinas. Os portadores de serpentinas e cadeiras metem ao ombr o a vara das condues; nas seges, os sotas estalam, apressando os animais, compridss imos chicotes; os taboas tomam atitudes elegantes no degrau traseiro das carruag ens. Pela boca do Arco do Teles, pelas bandas da praia, pelo caminho da Rua Dire ita, para os stios da Cadeia e da Misericrdia, a multido aos poucos se derrama, e e scapa desaparece. andar depressa, antes que a noite role do alto e desa apressada e escura para for rar a cidade de sombra de tristeza e de mistrio.
Aspectos da rua colonial A passagem dos negros vindo da Costa d'frica pelos logrado uros pblicos Cenas degradantes A Rua Direita. Outras ruas Providncias da natureza A profilaxia das chuvas, dos ventos e do sol Frades e padres Graves acusaes feitas a esses sacerdotes O que estaria reservado ao pobre Cristo se ele por c aparecesse.
ILUSTRAES NO TEXTO Rua colonial, Washt Rodrigues Trecho do Rio antigo, Washt Rodrigues Fra de, Carlos Chambelland Negro crioulo (Rio de Janeiro), indito de Rugendas , Coleo W asht Rodrigues. FORA DO TEXTO Retrato do Marqus do Lavradio (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas III
A Rua Colonial, que de maneira to inslita soube ofender o olfato de Mathison que a viu, cheirou e descreveu, de terra batida, sem nvel, toda em sulcos e crateras, onde as guas adormecem formando poas, viveiros de rs e de mosquitos. O desvelo do Senado da Cmara no pode estender-se a todas as ruas da cidade. Fica e ntre trs ou quatro das mais centrais, das mais concorridas, das mais passeadas pe lo vice-rei. Triste e abandonada rua! Por vezes, em lugares onde no intenso o trns ito, v-se um verdoengo tapete de gramneas desafiando o paladar dos animais, que n ela vivem ou passeiam inteiramente solta: cabritos, carneiros, porcos, cavalos, galinhas e perus. Ao mesmo tempo rua e pasto. E monturo, tambm; lugar onde se jun tam, quase sempre, no mesmo sonho de decomposio, detritos de toda natureza, animai s mortos, a espurccia das cozinhas, de envolta com as guas ptridas e at dejees humanas . No h nisto o menor exagero. Quem duvidar que leia no relatrio do Marqus de Lavradi o, vice-rei, o mesmo que pensou em criar para os escravos chegados da Costa da fr ica depsitos especiais no Valongo, a descrio das ruas mais centrais comprometidas c om a passagem daqueles infelizes, coitados, que desembarcavam completamente nus, cobertos de verminas e molstias, dando expanso, o que era pior, s mais prementes n ecessidades fisiolgicas. As famlias reclamavam, porque, alm do ftido horrvel, que permanecia no ambiente, co mo rastro de tais levas compostas, por vezes, de centenas de africanos, ningum po dia descerrar uma gelosia, entreabrir uma porta, ou pr, sequer, o olho pela frinc ha da grade de pau ou da urupema, sem ver um negro de ccoras. Um escndalo. E um no jo. Com ou sem negro vindo da Costa da frica, porm, a rua, qualquer que ela seja em to da a cidade colonial, cheira mal. Em certos lugares, ento, como o beco dos Cachor ros, o do Guindaste, Msica ou Joo Homem, s um nariz de todo insensvel ao esterquilnio da centria ser capaz de entrar, heroicamente, sem uma contrao, sem um s arrepio. Ao centro da rua suja corre um rego ou valeta, mais ou menos profundo, no raro se m o necessrio declive, aberto a olho na terra fria. Serve ao escoamento das guas. Continuam, apesar disso, em torno, as poas e nelas as imundcies flutuantes. O que vale que as chuvas, sobretudo as do estio, profilticas e violentas, em cheias mai s ou menos notveis, inundando tudo, acabam por conduzir todas essas abjees caminho do mar. Natureza me! Natureza amiga! O homem suja, o vento varre, a gua lava e o sol, depois, enxuga! Para ir a So Bento enfiemo-nos pela mais vasta, mais bela e mais palpitante artria
da cidade, a Rua Direita, irregular e torta apesar do nome, com a linha frontal do casario que ora ondula, ora avana, ora foge, a princpio muito larga, para morr er, depois, em funil, l para as bandas do Arsenal de Marinha. No h trnsito maior, nem bulha mais intensa em toda a urbs esparramada e feia. A red e de vielas estreitas e imundas, vindas da Carioca e Vala, est sempre cuspindo ne la a massa colorida da populao. So funcionrios do governo, nas suas capas de saragoa, vistosas, os feltros chamorros derrubados no pescoo; so soldados da milcia da terr a, de calo e vstia cor de canrio, com debruns brancos nas casacas cor de anil; so fra des em roupetas cor de castanha, amplas, risonhos, corados e gorduchos; so padres seguidos pela escolta das beatas que lhes beijam as mos, as vestes e at as fivela s dos sapatos; mazombos, dos que tm privilgio de infanes, podendo vestir de seda, us ar espadas, eleger os muncipes do Senado da Cmara, com o nome em livros de irmanda des na rubrica dos irmos nobres, negros escravos conduzindo fardos, sacos ou caix as, mamelucos, cabras, aribocos, mulatos de capote, pees, oficiais mecnicos, operr ios e outros trabalhadores, o proletariado do tempo que se arregimenta sob a ba ndeira dos ofcios, com altar, filarmnica, bandeira e santo padroeiro nos templos d as parquias; os infames da raa: o judeu, o mouro, o cristo-novo, o cigano, o mariol a, a rameira, o mendigo, o degredado... uma mescla de gente mais ou menos escura, uma vez que, sob a ao violenta e caustic ante do sol, o branco vira mulato, o mulato, preto, sendo que o preto retinta. U m verdadeiro povoado africano. Sofala, Benguela, Moambique. Diga-se de passagem p ara cada branco, dez pretos, trs mulatos e trs caboclos. O portugus, como em todo o Brasil, mandando, dirigindo, colonizando, impondo a lngua, a religio, os costumes , porm, sempre, em grande, em escandalosa minoria. Se Portugal um pas pequeno e se m gente, com um milho de habitantes na poca do descobrimento, quando no Brasil j ha via para mais de dois milhes de ndios, s na costa! Cada homem que passa traz enfiados ao pescoo ou sobre o estmago, bem mostra, escap ulrios, bentinhos, cruzes, imagens de santos, por vezes enormes, em medalhas, em quadros com molduras, em vidros, em resplendores de metal: So Bento, So Jos, Santo Antnio, So Cosme, So Joo, So Joaquim, Santo Onofre... De ver os que cruzam lentamente, ramalhando rosrios, os lbios batendo em preces, o lhos ternos e piedosssimos no cu. Mostra de fidalguia, essa de se inculcar beato, provas de boa educao; e de sobra de tempo. poca de grande superstio e quase nenhuma religio. No Brasil, como em Portugal, a Igr eja, que vem das fogueiras do Santo Ofcio, degradada pelo fanatismo, corrompida p elo esprito aventureiro de um clero que no feito de vocaes, mantm-se s porque repousa sobre a falta de instruo do povo, aquela mesma massa que, na frase de Tirawley, qu ando fala de Portugal, metade vive espera do Messias, outra espera d'el-Rei D. Seb astio... A Igreja no mais o manto protetor que abriga o humilde e o consola, a sua ve palavra de Jesus. aliada dos ricos e poderosos, ela que entesoura as maiores riquezas da Terra e farta-se de poder. Quantos escravos possuem os frades de So B ento? Mais de mil. H devotos que legam, quando morrem, peas da ndia, flegos vivos, e scravos para que, tornados em dinheiro, sirvam depois para custear as obras de t emplos ou para magnificncias na hora do culto. Vende-se o negro. Apura-se o ouro. negcio. Espera-se por outro testamento. Nas exploraes do comrcio, nas especulaes das indstrias, em qualquer coisa, enfim, onde haja promessa de ganho ou renda, h sempre metido um padre ou um frade. O bispo A larco faz negcios com barras de ouro. S num dia embarca 16.000 para a Angola. Morre podre de rico. Quem obtm o monoplio dos aougues em Minas? Um padre. Padres e frades cevam-se de comadres. Vo deixando filhos por onde passam; uns dis cretamente, outros escandalosamente. Certo Frei Jos, frade jesuta, numa solenidade do Carmo, aps o sermo, pede ao povo uma Ave-Maria para a mulher do bispo que est em trabalho de parto... (Devassa feita pelo padre Cepeda sobre os jesutas do Bras il, documento existente nos arquivos do Instituto Histrico Brasileiro). Padres, como o jesuta Vtor Antnio, tomam da cabeleira do Senhor dos Passos e vo com ela, disfarados, para a pndega. Onde se encontra o famoso vigrio que no quer embarca r para a Trindade? Num prostbulo, onde o sustentam mulheres de vida airada. O padre Bento da Silva Cepeda, no seu relatrio edificante sobre os componentes da Companhia de Jesus, falando do Colgio de Jesutas desta cidade, declara: Insignes ladres h neste colgio. O padre Miguel Carlos entra furtivamente no cubculo do Reito
r e furta-lhe quinhentos mil-ris, o padre Alves rouba, em uma noite, ao pref eito da igreja, etc... Os burles sobram. Lus de Albuquerque, padre procurador dos jesutas, nunca perdeu, e m 24 anos, uma s causa! Sempre que a mesma est mal parada rouba os autos. A congre gao paga-lhe propinas especialssimas! E j que se fala em espertezas: no tempo de Bobadela manda-se cercar o Convento do Carmo para prender uns frades. Um deles tem uma idia: toma do Santssimo Sacrament o e coloca-o na janela, na grade que d para a rua. A guarda, de acordo com o regi mento militar da poca, obrigada a fazer uma continncia ao smbolo sagrado e a execut ar a marcha batida. O comandante ordena: Honras ao Santssimo! Enquanto isso est se passando, as roupetas criminosas esto em fuga sem que um sold ado as possa deter... Nas folgas do negcio esses sacerdotes batizam, casam, absolvem almas cndidas, do e xtrema-uno, encaminhando para o seio de Deus criaturas, realmente, piedosssimas e b oas... Se fores para o Cu, bem irs; Se fores para o Inferno, L ficars. Pelo sim ou pelo no A pataca e a vela C pra mo. A minoria, essa, pura, diga-se a bem da verdade; minoria impotente, entretanto, para sustentar a impetuosa avalanche dos maus. Os estrangeiros que aqui chegam, diante da corrupo dos padres e dos frades, pasmam escandalizados, ofendidos. Todos . O abade de La Caille, insuspeito, diz no tempo de Bobadela, que os sacerdotes so os primeiros a dar mau exemplo da sem-vergonhice. Corruptos, desavergonhados, ignorantes, nem latim sabendo, o que pouco mais ou m enos l a gente nos livros do tempo, onde h impresses da cidade. E o que nos conta a correspondncia dos bispos para as autoridades eclesisticas da Metrpole? Leia-se essa correspondncia... E os relatrios dos vice-reis? Leiam-se es ses relatrios... Pense-se um pouco, depois disso, no que pode ser a alma triste de um povo trabalhado por essa gente. Rocha Pombo atribui o indiferentismo religioso do brasileiro, a esses frades e a ess es padres. Reza-se muito, l isso verdade, como nunca mais se rezar no Brasil; jeju a-se, vai-se missa todos os dias, uma, duas, trs, quatro vezes, bem como ao conf essionrio, ao Te-Deum, ao lausperene, ao ms de Maria; anda-se com o livro de oraes t odinho enfiado na memria, o rosrio sempre a palpitar entre os dedos, de rastros, p elas ruas, cantando litanias na cauda das procisses; mas, se o Cristo surgir de r epente, de uma dessas vielas, pregando de novo aquelas santas palavras de paz e de amor que j pregou entre os homens, este mesmo povo, beato e piedosssimo; esses mesmos fiis, esses mesmos sacerdotes no tenham dvida vaiam-no, malham-no, carregamno para a cadeia do Aljube, indo, depois disso, dizer ao Sr. bispo que prenderam um impostor! As lojas da cidade Toldos e tabuletas Caixeiros e patres Curiosas maneiras de com erciar Palavras do Marqus do Lavradio a propsito dos senhores do comrcio Mais tipos de rua O vitico Descrio do cortejo pelas ruas da cidade A casa do moribundo O capoeira, sua vida, suas aventuras e sua religio. ILUSTRAES NO TEXTO Loja colonial, Washt Rodrigues O vitico, Washt Rodrigues Capoeira, Washt Rodrigues Companhia do vitico, Salvador Ferraz Tipo de Negro de Benguela, Carlos Chambelland. FORA DO TEXTO Retrato de Lus de Vasconcelos e Sousa (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas IV
A rua movimentada e alegre, coalhada de negros, de padres e de mendigos, esto as lojas dos mercadores da cidade. So casas de vender panos, de vender breu e de ven der estopa, estanques onde se merca o tabaco; oficinas de bate-folhas, pilagrane iros, sirgueiros; barbearias, chapelarias, tabernas, farmcias, armazns de surrador es de couro... Ao sol forte que esplende e que caustica, cada uma dessas lojas mostra o seu tol dozinho escasso de pano pobre, de riscas descoradas, sob as tabuletas de pau ou de ferro, que publicam o gnero de mercadorias postas venda. Como lojas so minsculos lugares, s vezes verdadeiros oratrios; lembram as lojetas do Cairo, de Fez ou de Tetuan. Em muitas o luxo dos soalhos no existe. Algumas h, porm, que mostram o cho coberto de esteirinhas ou de tapetes, como os h, ainda, sem a menor cobertura sobre a terra fria. porta, quase sempre esto os caix eiros, vontade, de calo sem meias, alpercatas ou tamancas. Trazem as camisas encar didas, arrepanhadas pelas mangas, em rodilhas, e na cabea, prendendo o cabelo que se despenha em cachos, barretinas de vrias cores. Ao fundo, os patres obesos e tr anqilos, de sobrancelhas ramalhudas e a barba por fazer, embarricados atrs dos bal ces, sonolentos e felizes, como que a digerir pacatamente os lucros. So todos eles reinis. Vm dos campos do Minho ou vm das Ilhas, mas no querem saber dos filhos dest a terra. No querem e os enxotam do comrcio, que guardam s para eles. Quem tal afirm a o Marqus do Lavradio no seu relatrio oficial a D. Lus de Vasconcelos e Sousa quan do da passagem da vice-real governana do pas e da cidade: Em lugar de tirar do pas utilidades possveis, o portugus, com a pressa de enriquecer, no cuida em nenhuma outra cousa que no seja em fazer-se senhor do comrcio que aqui h, no admitindo nenh um filho da terra nem de caixeiro receoso de que um dia deixem eles de ser neg ociantes. A loja passa, portanto, como legado, de pai a filho ou resvala para a mo de outro reinol, nunca para a mo do de c. No governo do Conde de Resende so notveis do comrcio que floresce, entre outros, Brs Carneiro Leo, Manuel da Costa Cardoso e Jos Caetano Alves. a aristocracia analfab eta do atacado e do varejo. Cada um deles vale o que pesa, quinhentos vezes, mil vezes em ouro. Quando no pesa mais. Comrcio do Brasil negcio da China. Rendimento espantoso, certo; cento por cento, duzentos por cento, quando calha, trezentos! Entretanto, esse comrcio extraordinrio maior servio prestaria Metrpole, se os seus comerciantes tivessem vistas maiores e se to atrasados no se mostrassem em noes de seu ofcio. Esse comentrio ainda do Viceei Marqus do Lacradio. A nica casa que para ele se mantm dentro das regras naturais do comrcio a de Francisco de Arajo Pereira. Os outros negociadores so meros comissr ios, tmidos e medrosos de qualquer empreendimento fora da rotina, e to ignorantes, acrescenta o Marqus, que no mandam mercadorias novas para o Reino por que de l no so elas reclamadas! Felizes e prsperos mercadores do Rio de Janeiro de antanho, pedra, cal e barro co m que se ergueu o mui honrado comrcio desta praa, que de vosso prestgio falem as at as do Senado da Cmara, a correspondncia dos governadores, as gavetas dos luminares da Justia e at os prprios destinos da colnia... Passam negros agora portadores de um enorme e pesadssimo tonel amarrado em tramas de corda e pau. Cantam. frente vai o capataz erguendo, na mo direita, o ruidoso marac animando os homens do esforo, marcando, com solenidade e importncia, o ritmo sincopado da marcha e da toada cheia de melancolia e de tristeza: Maria, rabula, au Calunga au. Vo passando. Vago, longe, cortando o cristal da manh iluminada e azul, de repente, outro canta r que se escuta, qui ainda mais triste e mais montono, como que vindo das bandas do cu. H quem pare escutando. H quem se persigne e espere. H quem abale em direo litani misteriosa, com a molecagem das ruas a gritar: Nosso Pai! Nosso Pai! Nosso Pai! Acompanhando a multido bulhenta, desencabrestada e feliz, dobramos a Rua de S. Pe dro para esperar, no canto da Candelria, o Santo Vitico que marcha. Acompanha-o um a multido enorme e respeitosa em massa de muitos metros. frente do bando est o and ador da irmandade, de opa, e tocha na mo esquerda, noutra a campainha colossal er
guida no ar tranqilo em toques ritmados. Blem... Blem... Blem... A seguir vem o cruciferrio alando a cruz na fieira, seguido de quatro laterneiros com as suas varas de prata, formados a dois de fundo e, logo, o irmo do turbulo e os irmos do Santssimo: um, com a sua toalha branca de linho e renda presa s costas , outro conduzindo a mbula sagrada com os santos leos e a hstia. Vem ento o plio, e, sob o seu panejamento de seda e ouro faiscando ao sol, um sacerdote de sobrepeli z e estola branca. E logo os aclitos e erguendo, um, a caldeirinha de gua benta, o utro o vaso da extrema-uno; e as msicas e os soldados das milcias da terra, por fim, fechando o prstito. Cantam os que vo marchando, bem como todos que esto pela rua piedosamente de joelh os e mos postas, orando por aquela alma que sofre e que vai desencarnar. Dobra Nosso Pai a Rua da Candelria e vai dobrar, depois, a dos Pescadores. A casa do moribundo fica prxima praia. Est em festas. uma morada de sobrado e de l arga porta de rs-do-cho, aberta de par em par. V-se o solo festivo juncado de folha s de mangueira e canela e, no alto, surgindo do rompimento da gelosias de grades de pau, lanternas de cores, balouando virao que sopra. Diante da porta do moribundo, ainda mais alto, numa bulha ensurdecedora, os cntic os ressoam, as msicas clangoram e a campainha toca, aos saltos, no ar. Pelo interior da residncia, j a famlia, de preto, recebe o sacerdote no vestbulo. Es to os parentes, esto os amigos do que agoniza, todos com as suas mais solenes roup as, de ar, porm, nada severo ou espectral. A hora de suprema felicidade, hora em que o sacerdote de Deus vai garantir pobre alma, a desprender-se, um lugarzinho no Cu. A no serem os que tombam de repente, fulminados pela mo divina, no h cristo que morra sem a palavra piedosa do padre e sem hstia que lhe serve de passaporte par a a viagem, que vai fazer ao outro mundo. Os mdicos que no alarmam as famlias, avisando a gravidade do estado dos seus doente s, a fim de que elas tratem logo de correr s sacristias das igrejas, providencian do para que ao enfermo seja proporcionado to impressionante espetculo, so punidos. Os sensveis, os nervosos, muitas vezes, ante o aparato de to angustiosas e lgubres cerimnias, morrem logo, mesmo sem tempo de ouvir o confessor. Mas no perdem a viag em os sacerdotes, nem os piedosos irmos da confraria: unge-se o corpo do defunto, roga-se a Deus pela sua alma, consola-se a famlia, e recebem-se as patacas do se rvio. De volta, pelo caminho que vai Vala, penetremos a Rua dos Ourives, das de maior concorrncia da cidade. porta do estanco de tabaco est um homem diante de um frade ndio e rubicundo. Mostr a um capote vasto de mil dobras, onde a sua figura escanifrada mergulha e desapa rece, deixando ver apenas, de fora, alm de dois canelos finos de ave pernalta, um a vasta, uma hirsuta cabeleira, onde naufraga em ondas tumultuosas alto feltro e spanhol. Fala forte. Gargalha. Cheira a aguardente e discute. o capoeira. Sem ter do negro a compleio atltica ou sequer o ar rijo e sadio do reinol, , no enta nto, um ser que toda gente teme e o prprio quadrilheiro da justia, por cautela, re speita. Encarna o esprito da aventura, da malandragem e da fraude; sereno e arrojado, e n a hora da refrega ou da contenda, antes de pensar na choupa ou na navalha, sempr e ao manto cosida, vale-se de sua esplndida destreza, com ela confundindo e venc endo os mais armados e fortes contendores. Nessa hora o homem franzino e leve transfigura-se. Atira longe o seu feltro cham orro, seu manto de saragoa e aos saltos, como um smio, como um gato, corre, recua, avana e rodopia, gil, astuto, cauto e decidido. Nesse manejo inopinado e clere, a criatura um ser que no se toca, ou no se pega, um fluido, o impondervel. Pensamento . Relmpago. Surge e desaparece. Mostra-se de novo e logo se tresmalha. Toda a sua fora reside nessa destreza elstica que assombra, e diante da qual o tardo europeu vacila e, atnito, o africano se trastroca. Embora na hora da luta traga ele, entre a dentua podre, o ferro da hora extrema, da cabea, brao, mo, perna ou p que se vale para abater o mulo minaz. Com a cabea em meio aos pulos em que anda, atira a cabeada sobre o ventre daquele com quem luta e o derruba. Com a perna lana a trave, o calo. A mo joga a tapona, e
com o p a rasteira, o pio e ainda o rabo-de-arraia. Tudo isso numa coreografia de gestos que confunde. Luta com dois, com trs, e, at c om quatro ou cinco. E os vence a todos. Quando os quadrilheiros chegam com as su as lanas e os seus gritos de justia, sobre o campo da luta nem trao mais se v do cap oeira feroz que se fez nuvem, fumaa e desapareceu. Na hora da paz ama a msica, a docua sensual do brejeiro lundu, dana a fofa, a choca ina, e o sarambeque pelos lugares onde haja vinho, jogo, fumo e mulatas. Freqenta os ptios das tabernas, os antros da maruja para os lados do Arsenal. Usa e abusa da moral da ral, moral oblqua, reclamando pelourinho, degredo, e, s vezes, forca. Tem sempre por amigo do peito um falsrio, por companheiro de enxerga um matador p rofissioal e por comparsa, na hora da taberna, um ladro. No fundo, ele mau porque vive onde h o comrcio do vcio e do crime. Socialmente, um cisto, como poderia ser uma flor. No lhe faltam, ao par dos instintos maus, gestos amveis e enternecedores . cavalheiresco para com as mulheres. Defende aos fracos. Tem alma de D. Quixote. E com muita religio. Muitssima. Pode f altar-lhe ao sair de casa o ao vingador, a ferramenta de matar, at a prpria coragem , mas no se esquece do escapulrio sobre o peito e traz na boca, sempre, o nome de Maria ou de Jesus. Por vezes, quando a sombra da madrugada ainda um grande capuz sobre a cidade, es t ele de joelhos compassivo e piedoso, batendo no peito, beijando humildemente o cho, em prece, diante de um nicho iluminado, numa esquina qualquer. Est rezando pe la alma do que sumiu do mundo, do que matou. de crer que, como sentimento, o capoeira , realmente, um tipo encantador. A morada colonial sob o ponto de vista esttico e higinico Ausncia de bons arquiteto s em Portugal As mais belas residncias do Rio, no tempo dos Vice-Reis Razes da dem olio do casario colonial mandada fazer por D. Joo VI Como se construa uma casa A mentalidade do homem do risco Descrio da fachada de uma morada colonial, por Manuel de Macedo Ausncia de numerao nos prdios. Endereos curiosos.
ILUSTRAES NO TEXTO Janelo colonial, Washt Rodrigues Casa da cidade, Washt Rodrigues Rs-docho e sobrado, Carlos Chambelland. Tipo de casa de arrabalde, Carlos Chambelland . FORA DO TEXTO Retrato do Conde de Resende (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas V A casa, com raras excees, sempre a mesma: no tem expresso nem pitoresco. Sem simetri a e sem gosto, como a classifica Langeastead. Faltou acrescentar: e sem higiene. Em linhas gerais, repete a casa portuguesa da poca. O plano mau, mas, como os operrios da terra so piores, a casa f ica pssima. Nela mora-se, porm, que o pas sobre ser de aguaceiros de sol forte... La plus part des soit disant architectes dans ce pays ne sont que des appareill eurs, diz Balbi, falando, logo no comeo do sculo XIX, da arquitetura, o reino de Portugal. L e c. O inexorvel homem do risco! Graas a ele, com efeito, no h em toda a u rbs colonial uma s morada digna. As conhecidas como as mais belas e mais pomposas , a residncia do vice-rei, na Praa do Carmo, por exemplo, e a casa de chcara de Eli as Lopes, na Quinta da Boavista, do-nos uma idia segura do que seriam as outras. N o Museu Histrico existe um oval que nos mostra, por mido, a primeira; a segunda, c om o seu ar esboroante e decrpito, pode ser vista numa estampa da History of Braz il, de Henderson publicada em 1821. Quando a corte de D. Maria I chega ao Brasil, fugindo s hostes belicosas de Junot , a casa brasileira causa mau efeito ao fidalgo recm-vindo. E ler-lhe a correspon dncia enviada daqui para a metrpole. E o fidalgo, seja dito de passagem, no l pessoa
de grandes exigncias. o fidalgo da Corte de D. Joo, um prncipe de linha um tanto p recria e que, em matria de bom gosto, antes de pensar, pergunta sempre pela opinio do guardaroupas Lobato. Na Capital do Brasil portugus salva-se, apenas, a natureza ainda no estragada pela mo do homem que, por isso, merece louvores especialssimos. O resto envergonha-a e deslustra-a como sede que vai ser de uma corte europia. O intendente Paulo Fernandes Viana, em 9 de julho de 1808, manda, por isso, baix ar o famoso edital, que condena a cubata carioca petrificada pela imaginao do home m do risco. Comea-se a derrubada dos casebres afrontosos civilizao. Ruem paredes, abatem-se te lhados, despedaam-se rtulas de pau e de urupema. A obra dignificadora, porm, em dad o momento, suspende-se. No se pode demolir, assim, uma cidade inteira. Os prprios fidalgos protestam. E co m razo. Onde alojar, na verdade, toda a populao, acrescida, com cerca de 15.000 hom ens, que tantos so os fujes de Lisboa? Suspende-se o trabalho. Apela-se com resignao para o futuro. Pe-se de lado o edital civilizador... E como , afinal, essa casa de morada? Ei-la. Temo-la justamente, diante de ns, tri stonha e feia, surgindo de terra nua, sem um lajedo a mais traando-lhe um passeio em frente, que s pelo fim da centria foi que se comeou, por aqui, a pensar em empe dramentos de logradouros e caladas. A casa que temos diante dos olhos, de um s andar, repetindo no enfezado feitio, p ouco mais ou menos, as que se espalham at pelos distantes caminhos, que vo alm da V ala ou bandas da Lapa e do Valongo. baixa, cumba e mal-aprumada; tem o telhado r ugoso e grosseiro, abatendo-se sobre os panos lisos da construo como que achatando -a, acaapando-a. , alm disso, mal edificada, nova de construo, e j de aspecto desmoron ante, farrapona, como uma mendiga pedindo esmolas ao bom gosto. O p direito, em g eral, quase sempre exguo. No andar trreo, trs metros. Trs? Quando calha. Por vezes, nem isso. No andar de cima ainda menos. Em vez de largas e rasgadas janelas na p arte trrea, alm do largo porto sempre fechado, apenas umas aberturas estreitas, vos de entrada de luz e de ar, miserveis fendas mouriscas, culos com cruzeta de ferro. .. A porta que d entrada para o saguo, ou a porta de rtula que comunica com o corredor ou com a sala, abre as abas sempre, para fora, para a rua. Por isso, manda a pr udncia que se caminhe um tanto distanciado da linha das fachadas, fazendo guarda ao nariz. Constroem-se muitas vezes casas com paredes duplas. Muito bem. Num clima escalda nte, como o nosso, nada mais indicado. A ignorncia do construtor, entretanto, man da encher o oco com terra, de tal sorte provocando o bolor e a umidade. As pared es da morada cobrem-se de limo; os objetos que nela se guardam, de mofo; os o ssos dos moradores, de reumatismo. a mentalidade do arquiteto colonial. O estrangeiro, que por aqui passa e v tal obra, espanta-se. Ou sorri. As citaes, po r vezes, fatigam...
A fachada quase sempre desaparece por uns tapumes de madeiras em grade, que avul ta a mascarar-lhe a fisionomia acaliada e reles. Surpreende por estapafrdia. Pela ausncia de imaginao. So armaes pesadas, severas, lgubres, espessas. Poucas se mostra numa feio discreta ou leve, evocando os mucharabiehs rabes ou os balces romnticos de Florena. A massa que avana, mostrando travejamentos agressivos, em geral, qua se sempre informe, esparramada, sem sombra sequer de graa e do menor pitoresco. E tudo muito bem fechadinho, muito bem tapadinho. Melhor citar quem viu no comeo d a passada centria a monstruosidade e no-la descreve fielmente. Diz Manuel de Mace do: Tinham os sobrados engradamentos de madeira de maior ou menor altura, e com gelosias abrindo para a rua: nos mais severos, porm, ou de mais pureza de costum es, as grades de madeira eram completas, estendendo-se alm das frentes pelos doi s extremos laterais e pela parte superior onde atingiam a altura dos prprios sob rados, que assim tomavam feio de cadeias. Nessas grandes rtulas, ou engradamentos, tambm se observavam as gelosias, e, rentes com o assoalho, pequenos postigos, p
elos quais as senhoras e as escravas, debruando-se, podiam ver, sem que fossem facilmente vistas, o que se passava nas ruas. As rtulas e as gelosias no eram c adeias confessas, positivas, mas eram, pelo aspecto, e pelo seu destino grandes gaiolas. Isso por fora. E por dentro? Pelo saguo, que ao mesmo tempo vestbulo e cocheira, ou pela porta de rtula que cai sobre um corredor ou sala, entra-se. H o salo de visitas da morada. A planta do do miclio colonial vria. Como na do portugus, no existe uma disposio definida. Continua, entretanto, o conflito natural entre o conforto e a higiene. Aposentos sempre co m a exga cubagem de ar, luz deficiente e quase sempre indireta. Alcovas midas, tre sandando a mofo e exticos bafios, ambiente desagradvel e malso. Pelo estio evocam a s chamas do purgatrio; no inverno, as geleiras do plo. Por toda a habitao vigas expostas nos tetos e sempre de madeira desgeometrizada, t osca. As tbuas do assoalho muito largas, muito grossas, mal-unidas e presas por p avorosas cabeas de prego. Paredes brancas de cal. Um ou outro ricao que se lembra de forr-las de chito ou de damasco. O sangue de boi a cor clssica dessas forraes em p ainis, que levam cercaduras de madeira pintada, forraes que servem ainda de trinche ira e pouso praga de certos insetos que, segundo opinies respeitveis, no cheiram l m uito bem quando amassados... Se a residncia mostra uma sala-de-jantar, esta sala pequena. Nas plantas de Debre t ainda se observa a exigidade do aposento, que s ganhou aprecivel amplitude pelos fins da Regncia. Vasto, realmente, na casa colonial, s o salo de receber, embora s empre vazio de visitas e de mobilirio. No centro da construo h uma rea, pulmo da morad a, em coisa alguma, entretanto, lembrando o ptio andaluz que, mesmo para Portugal , poucas vezes saltou as fronteiras naturais do Guadiana, aqueles formosos trios andaluzes todos forrados de azulejos e to indicados para um clima ardente como o nosso. A pobre rea colonial, na casa da cidade, de terra batida e fria, em muito s lugares servindo de depsito onde se encafuam inutilidades ou coisas de pouco prs timo, lugar triste e sombrio, onde as vegetaes criptogmicas so o nico ornamento que as ressalta. Se h azulejo na casa, quando aparece, no vestbulo. Quando aparece, um a vez que o custo da frgil mercadoria, acrescido dos riscos e do preo de transporte torna-a quase inacessvel bolsa de todos. S no convento e na igreja que ele, e isso mesmo sem abundncia, exi ste. Decora sacristias e corredores. Nas casas de campo dos muito ricos tambm uma ou outra vez logra aparecer. Essa, a morada do Rio setecentista, erguida no mago da cidade colonial, e onde a pobre besta humana vive o seu destino histrico, mais ou menos feliz e conformada; essa, afinal, a casa de onde, para alojar a nobreza de Portugal, em 1808, atir avam-se avidamente, rua, os moradores filhos da terra, com as suas famlias, em af rontosas aposentadorias. Conta a Histria que o ingrato fidalgo pagou, depois, a h ospitalidade graciosa, arrancando, na hora de partir para Lisboa, as portas e ja nelas, com as quais mandou fazer engradamentos e caixotes para as utilidades que daqui levava. Vingana justa de fidalgo. Agravo maior sofrera ele, sendo obrigad o a viver, como viveu, em to triste e srdida morada. De uma maneira singular, faz-se o despejo de cada casa. H o tigre. O tigre um rec ipiente que afeta a forma esttica de um vaso grego; nfora, porm, onde no se guardam perfumes... Tem a altura e a utilidade provisria de um banco. Deixam-no guardado, no raro, nas senzalas dos negros ou nas prprias alcovas dos se nhores, estreitas, sem luz e sem ar. No esquecer que para ved-los h uma tampa, e, s obre esta tampa, um pano forte dobrado em quatro, mido por vezes, por aviso e por cautela... O escravo, logo que o dia tomba, pe o tigre cabea e sai, caminho da praia ou das c ovas mandadas fazer pelo Senado da Cmara, no lugar onde hoje existe o vioso Parque da Aclamao. Quando uma cova est cheia, pe-se sobre ela uma bandeirola preta. o sina l. O portador do barril j sabe, desvia-se. Esses barris so geralmente de madeira. Os tampos inferiores na parte onde se fir ma a cabea, com a infiltrao constante da umidade, no raro, apodrecem, enfraquecendo a sua natural resistncia. Um belo dia catrapuz a tbua carcomida desloca-se, parte-se e a extremidade circular do barril vem com um colar sobre o pescoo do negro. Esse desastre, que provoca se
mpre a alegria e o clamor dos outros negros, comunssimo at pelas ruas mais centrai s, de maior trnsito, passagem obrigatria desses indesejveis recipientes, afetando a forma esttica de vaso grego; nfora, porm, onde se no guardam perfumes... As casas no tm numerao. Conhecem-se pelos nomes do que nelas residem ou pelo comrcio que nelas se pratica. As esquinas, em geral, conservam, como as casas, nomes esp eciais, que servem para orientar o que busque indicao de qualquer morada: h, assim, o canto do Joo da Guitarra, o canto do Tabaqueiro, o canto do Manuel da Lagarta, etc. Informes do ainda para o que procure uma determinada residncia sem conhec-la os edifcios do governo, as igrejas, os quartis e as fontes pblicas. Vai-se procurar o solicitador Manuel da Boa Hora Rua do Piolho pegado com a igre ja da Me dos Homens. H uma carta que traz como endereo de Morais Santos apenas isto : Defronte do Arsenal. Outra, para Joaquim da Cruz Lobato com esta simples direo a o campo (o que quer dizer que ele mora depois da linha da Vala, em alguma chcara ou fazenda). O alferes de fuzileiros Silvrio Dias tem no quartel este registro de morada: defronte das bancas do peixe. O tenente agregado ao Estado-Maior do 1 R egimento, Jos Gomes de Atade, pelo almanaque da cidade no ano de 1794, mora Lapa d os Formiges. E assim por diante.
O Valongo, mercado de escravos O negro, poderosa ferramenta da colonizao Como o caa vam, na frica O suplcio da travessia A chegada ao Brasil Espectros em vez de homen s Sofrimento dos escravos Ignomnias oficiais A atitude da Igreja Como os portugue ses explicam a pgina negra da escravido. ILUSTRAES NO TEXTO Negro escravo, Salvador Ferraz Folego vivo ou pea da ndia, Carlos Cham belland Viramundo, Salvador Ferraz Mscara de ferro que se colocava nos negros com edores de terra, Salvador Ferraz. FORA DO TEXTO Retrato de D. Fernando Portugal (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas VI Valongo uma enseada espremida entre duas elevaes cobertas de verdura: o outeiro da Sade de um lado e de outro lado, o morro do Livramento. No outeiro, que penetra a gua tranqila e azul por um penhasco abrupto, v-se, entre amendoeiras aprateleirad as e coqueiros flbeis, que balouam ao vento, a capelinha da Virgem caiada de branc o, pequena e triste, dando vida e dulor paisagem tranqila. um recanto esquecido da cidade este stio buclico escolhido pelo Marqus do Lavradio para que nele se assente o sinistro mercado dos escravos. Esto os armazns em linha , melancolicamente, beirando a praia, cada um com a sua porta larga e aberta ao sol. A, a carne humana, que j passou pelo carimbo da Alfndega, pagando coroa direit os de entrada, aboleta-se para ser vendida a quem mais der. O quadro aflitivo. Mancha a nossa Histria. Avilta-nos. Para suprir o brao do caboc lo orgulhoso, que no se deixa escravizar, vai-se buscar, no viveiro d'frica, o afric ano submisso. O Brasil uma terra enorme. Portugal, um despovoado pas. A colonizao t em que ser feita. Caa-se por isso o preto na floresta africana a lao, como se caa o gorila ou o tigre. Preso, tolhido para qualquer movimento, sob a presso de cordas ou de algemas, dei xam-no uns dias sem comer, para que se lhe quebrem, com a fraqueza fsica, os ltimo s resqucios de rebeldia e altivez. Embarcam-no, depois, num exguo poro sem ar, sem luz. Um sacerdote catlico, nessa hora de embarque, vem aspergir gua benta por sobr e a carga humana. Faz-se mister que ela chegue, com a ajuda de Deus, inteirinha ao seu destino. Em
Luanda, ainda existe certa cadeira de pedra, onde se sentava o prprio bispo... A travessia do Atlntico cruel. Os veleiros partem com os pores entulhados de carga humana. Para um vo, onde podem caber cem homens, empurram-se trezentos. O negro chora. O negro sofre. O negro desespera. Vezes, como um louco, avana para os varais de ferro da escotilha. uma fera. Os olhos congestos saem-lhe das rbitas, a boca baba e espuma de dor. E assi m grita, terrvel, e esbraveja. Aquele desespero, aquela clera e aquela ira so a lab areda impetuosa da revolta. Ergue-se todo o poro em rebeldia. E centenas de bocas gritam, tambm, e centenas de ameaas fuzilam atravs dos vergalhes da grade. Bradam s armas no convs. Chegam a, ento, uns seis ou oito tripulantes da nau, com os seus mo squetes pesados e os assestam pelos vos abertos da escotilha. E os descarregam, um a, duas, trs vezes. Aumentam no comeo, as vozes, os gritos e os lamentos; mas logo depois, como que p or encanto, cessa tudo... Tinge-se o poro de sangue. No dia imediato os tubares do Atlntico tm uma rao mais farta de carne humana. E a viagem, serena, continua. So setecentos quando embarcam. Desembarcam trezentos... Morre mais da metade no c aminho. Desafoga-se um tanto a pilha viva de bordo. S assim h mais ar e mais luz n o poro. Quem mata menos, porm, a arma de fogo. Mais, muito mais matam nesses pores infecto s e exguos a deficincia de ar puro, o escorbuto, a disenteria, as febres, a ausncia de sadia nutrio e a escassez d'gua para beber. A inteligncia do mercador, estreito mercador, afundado na infmia do negcio, no perce be isso. O negro continua a vir em pilhas. E a ser devorado pela morte. Chega o escravo ao Brasil. O que se salva sobe o pontavante da Alfndega para rece ber o imposto fiscal, que o selo com que a civilizao no pas tributa o brao que vem t razer terra o bem-estar e a fartura. um esqueleto que mal se pe em p, coberto de c hagas e vermina. a sombra do que foi. Marcha como um sonmbulo. Cheira mal distncia . Empesta. Ao negreiro, no entanto, pouco impressiona esse aspecto de misria e aflio. O homem conhece o seu negcio e sabe que na engorda, um negro pode aumentar, no prazo de uma semana, obra at de quatro ou cinco libras. Do Juzo da Alfndega marcha o infeliz para ceva do bazar, no Valongo. A pousa. A se a fixa. E, desde logo, a mercadoria que fica disposio do comprador. Vai ser vendido o pobre, pelo aspecto, pelo que promete como rendimento de trabalho. Do lado de fora est o cartaz: Negros bons, moos e fortes; os chegados pela ltima nau, com ab atimento. Esto eles, coitados, completamente nus, escaveirados, tristes, de ccoras, sobre e steiras ou sobre a terra dura; olhando o capataz, que mostra na mo severa um relh o em vara, alto, de onde pendem duas tiras de couro com um anel de ferro em cada ponta. De quando em quando um serventurio distribui cuias de farinha, bananas, laranjas, frutas do pas, grandes potes de gua. o suplcio da engorda. A obrigao no momento com r muito, comer demais, empanturrar-se, aumentar de peso. O negro continua a sofr er. A pgina torpe. No h outra mais torpe em nossa Histria. Entra, sbito, um comprador .
D. FERNANDO PORTUGAL 6 VICE-REI DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro) O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis 67 Suspende-se a refeio. O feitor estraleja o chicote. Tangidos a vergalho, formam to dos os flegos. Mostram-se. Para disfarar as chagas, a magreza e os defeitos fsicos das peas, recorre-se a ardis os mais espaventosos. Os ciganos so especialistas na matria. Tambm h compradores exigentes, que no se deixam assim, facilmente, ludibria r. Escolhe-se em geral um negro como se escolhe um cavalo, pela estampa e pela r
obustez, arregaando os beios, para ver a dentua forte. O preo varia durante o curso do sculo. sempre, entretanto, o mais caro de todos os animais, o negro... Que coisa que sempre vale. E desdobra o capital, como dizia Garcia de Resende. No pas mal povoado e novo, a rude mquina de trabalho , ferramenta da colonizao, no demora muito no bazar. Mais que cheguem! E eles chega m aos milhares. No Rio, pelo ano de 1799, para uma populao de 43.377 homens, h, apenas 19.578 branc os. Triste minoria! E pelo pas inteiro a proporo , pouco mais ou menos, a mesma. No f osse o ndio em quantidade notvel, esmagadora, e seramos hoje quarenta milhes de negr os e mulatos. Na hora de se fechar a venda do desgraado, muitas vezes, o filho vai para um lado , vai a me para outro. Corre nessa hora triste, para o pobre negro, a loteria do destino. Bom senhor, m au senhor... Que os h ferozes como tambm os h amveis. Fecha-se o negcio. Desapertam-se os cordis da bolsa, paga-se a mercadoria. Dela vai tirar-se lucro e proveito. L parte o triste, o comprador, vai trabalhar de sol a sol sob a tutela spera e cru el do feitor. No lhe do direito, na hora do servio, de parar, de cansar, de adoecer . Quando est aleijado, velho, imprestvel, atiram-no ao meio da rua. Vai viver de esm olas, pelas portas das igrejas, por srdidas alfurjas. Quando morre, vai apodrecer para as estradas, que a igreja s para o branco. A San ta Casa s muito tarde que pensa em fazer um cemitrio para escravos. O senhor con tinua a sua vida tranqila, empilhando dobres. Alguns h que as escravas moas e belas transformam em rameiras e as mandam aos mercados de Citera vender os corpos. No fim do dia recolhem a fria. Negcio, no tempo, altamente rendoso. Para os falsos na hora do servio, o mais severo castigo. Formar-se-ia, hoje, um m useu s com instrumentos que serviram para atormentar os negros escravos no Brasil . O nosso Museu Histrico possui, no entanto, bastante desses atormentadores e inq uisitoriais, entre eles vrias espcies de troncos e vira-mundos. A perversidade dos senhores, por vezes, chega ao auge. E o estado intervm. Monta-se um pelourinho e special para o negro: o tronco, em praa pblica, com um carrasco chicoteador de pulso forte e incansvel. Quando ele foge crueldade dos senhores e preso, restitudo ao martrio pelos capitesdo-mato, marcam-no com um ferro em brasa. Por vezes, o carinho esbraseado demora mais um pouco. O ferro chia, destri a epiderme, penetra no tecido levantando uma tenussima fumaa. O desgraado berra, cai desfalecido. Vai-se ver, uma queimadura mo rtal. Bem feito. No fugisse! H um alvar com fora de lei, de 1741, que diz assim: Hei por bem que a todos os negros que forem achados em quilombo, estando volunta riamente, se lhes ponha, com fogo uma marca em uma espdua com a letra F que par a este efeito haver nas cmaras: e se quando se for a executar esta pena for achad a j com a mesma marca, se lhes cortar uma orelha, tudo por simples mandado do J uiz de Fora ou ordinrio da terra ou do Ouvidor da Comarca sem processo algum e s pela notoriedade do fato logo que do quilombo for trazido, isso antes de entrar para a cadeia. A Igreja, que tudo manda e tudo pode, fecha os olhos a essas tristssimas misrias. E esquece os pobrezinhos, ela que foi um manto de consolo e de piedade. Que faze m ao padre Frei Jos de Bolonha, capuchinho italiano que, horrorizado pela situao do negro no Brasil, ao lado dele se coloca e procura defend-lo? O arcebispo da Bahi a, D. Antnio Correia, com a ajuda de D. Fernando Portugal, mete-o num veleiro e m anda-o, s pressas, logo, para o Reino onde dele nunca mais se ouve falar. Que ale gam os padres, entre outras coisas, quando pleiteiam a transferncia da Catedral d a igreja do Rosrio para stio diferente? Alegam que o contato com os negros est em
desacordo com a dignidade da Igreja... Nos templos recusam sepultar os pretos! C onsente-se, no mximo, que eles tenham uma igreja parte... Pobre irmo em Jesus! Por vezes, nesse recanto buclico do Valongo, to triste com a sua mercancia humana para vender, quando as noites so altas e estreladas, lembrando os cus fundos e ard entes da frica distante, o pobre cativo queda-se a cismar, olhando, em torno, a p aisagem, que como aquela da terra em que nasceu. E, com lgrimas no olhar e a escorrer-lhe na voz, soturnamente canta.
de cortar o corao. Das encostas vizinhas, cercando o bazar tenebroso, h quem venha escutar a toada dolorosa, sada de mil bocas, a litania profunda e melanclica que morre no ar tranqilo como um canto de dor e de saudade. Na Histria da Colonizao Portuguesa no Brasil, escreve Oliveira Martins, penosament e molhando em fel a sua pena de ouro: A filantropia moderna tem acusado a ns, portugueses, de inventores deste comrcio de nova espcie e, a nosso ver, com fundamento. Era, porm, um crime escravizar o negro e lev-lo Amrica? Lamente-se o homem que formulou tal pergunta antes de se lhe dar qualquer respos ta.
A srdida taberna colonial Tipo do taberneiro Freqentadores do antro O salo de honra a gentalha Desafogo da pretalhada feliz. Jogos. Canes. Danas. O lundu Visita que no se espera Regmen do suborno e das gorjetas. Uma escola que ficou. ILUSTRAES NO TEXTO O taberneiro, Washt Rodrigues Dana lundu, Washt Rodrigues. Negro tocad or de marimba, Carlos Chambelland. Soldado da milcia do Reino em 1800, Washt Rodr igues. FORA DO TEXTO Retrato do Conde dos Arcos (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas VII
Bom e varato, diz a tabuleta no alto da porta da taberna, em riste. A casa imun da, acaliada e baixa. A parede esboroa. O telhado avoluma. Entra-se por uma porta que uma fenda exgua numa esquadria torta e carcomida a esf arelar-se toda. Descendo do alto da mesma h um pano em frangalhos que quer lembra r uma cortina. Quem v o trapo srdido pensa que a fazenda ali est para impedir a pas sagem do sol, como um todo qualquer. Pois sim! Ps-se o bioco, apenas para esconde r o negro malandro, a escrava revel, que a vo bebericar, jogar, cantar, tanger o b erimbau, o motungo e a marimba e que no podem, no devem ser vistos pelo curioso qu e passa. No Rio colonial a taberna o sorriso da plebe, o alvio da corja, desafogo, pouso, diverso e vcio do brio, do bandalho e do vadio. No raro, tambm, furna de discrdia, tum ulto e desordem; isso, quando Deus quer e os quadrilheiros do vice-rei mal pensa m. Por um edital do Senado da Cmara, com data de 3 de maro de 1970, manda-se arrancar toca dos malandrins e dos velhacos o biombo protetor, esse imundo pano que para
mais nada serve, que para encobrir criminosos procedimentos a fim de que entre, com o sol, o olho fiscalizador da polcia d'el-Rei. Tambm mandamos que a publicao deste em diante taverna nenhuma tenha debaixo de pret exto algum porta de sua loja fechada ou cerrada, isso a fim de que cessem os pbli cos escndalos que nessas tavernas tm-se visto praticar. Ora, o taverneiro que vem ao Brasil (sempre assim veio o taverneiro, graas a Deu s) mais para ganhar dinheiro que para atender a frioleiras e parvoces oficiais, no toma cincia do edital, vira-lhe as costas. Vai ao fundo da arca, separa uns moede s de prata, encartucha-se e espera pacientemente pela hora discreta do suborno.. . E a cortina do varejo continua, como sempre, cada vez mais suja e mais esfrangal hada, a voejar ao sol. Penetremos, porm, a alfurja estercorosa que, como sempre, enoja, estua e regurgit a e fede. L est, ao fundo do estabelecimento, o dono da misria. o senhor do comrcio. Nele se a funda e vive como um batrquio na lama. baixo, forte, atarracado. Mostra o cabelo revolto em melenas lendeosas. As sobra ncelhas em rio, negras, disformes e unidas.
Veste uma camisa hngara, como a das mulheres, aberta at ao umbigo, mostrando o cipoa l da cabelaa hirsuta a manchar-lhe a peitarra forte e a pana lauta. Calotes de algo do desenham-lhe as coxas curtas e rolias. Ps felpudos na tamanca tradicional e do ofcio. Trabalha como um burro, sua como um lagar. O labor, porm, incita-o. O suor ilumin a-o. O lucro consola-o. A imundcie ceva-o. Inveje-se o homem que apodrece feliz. Vive aos berros, ventripotente e audaz, cuspindo grosso. Temse como coisa de alt a importncia e valia. Nessa pocilga escura onde o negro traa, o mulato se exibe e o branco nunca aparece, ele quem mais berra, quem mais grita e quem mais pode. R espeitam-no. o reinol. Rompe o labrego a freguesia ombrada, a ps, soltando da boca imunda como uma cloac a os mais pesados dichotes, as mais torpes obscenidades. do comrcio. do varejo. F az-se mesmo, dessa usana, uma escola. Na hora do desentendimento, da disputa e da faca, ele que o regulador da justia, a lei do antro, e que se faz respeitar a cargas de pau ou a tabefe. A essas frias naturais, a esses desafogos de temperamento e de poder, o negro sub misso cala-se, submete-se, respeita-o. S o mulato recalcitra: pe a mo na navalha, a tira o feltro ao cogote. E, se calha ser o tipo um capoeira, ento, o caso assume propores funestas. afronta: P de chumbo! Marinheiro! O reinol, que bravo, no se acobarda, antes, para castigar o mestio, arremete viol ento e terrvel. quando o conflito aumenta e se generaliza. Rompamos, porm a massa, lentamente, entre grupos que expectoram speros dialetos af ricanos, cuspinhando o cho de terra batida e mida, gesticulando, danando, rindo, ca ntando, blasfemando. Passemos pelo filho do taverneiro plantado ao balco imundo, servindo em vasilhas de estanho de uma canada o lcool de cana, a cachacinha, a boa que passa por mil b ocas. O ar cheira a fumo, a suor, a bodum. A mais generosa das pituitrias rejeita-o, re pele-o, sentida. S o taverneiro sorve-o, gostosamente, com prazer e doura, o pensa mento ertico na negra beiuda que ao fundo do covil lhe prepara, com untos fortes e pimentas apavorantes, a bacalhoada da pragmtica. H uma porta de vis que d para uma rea mida, salo de honra da gentalha, stio de maior c nforto e segurana da taberna. Atravessamos a porta. Entremos na rea suja. um cho inspito, abjeto, cercado de pare des brancas de cal, exposto chuva e exposto ao vento. A, sentados e de ccoras, esto negros vozeirudos e fortes, falando alto, rindo com e stridor, gargalhando em desafogo; negras bbedas que altercam, descompostas, moas,
rolias e bem-feitas. Soam instrumentos africanos, aos quais s vezes se junta o guincho irritante de um a rabeca, ou repenicados de violo ou de viola... Joga-se o dado, o jogo da mo, a guingueta, o quatro-reis, o revezinho. H paradas f ortes, em que por vezes entra at uma pataca. Upa! Tinem as vasilhas de estanho. No descansam. A cachacinha escorre... Canta-se a modinha brasileira e a tirana. Da na-se a chocana, a chula, o sarambeque e o lundu. A msica enleva. Agrada. A dana mol e, flexuosa. Rescende a lascvia. Esto os danarinos um diante do outro. So contores ab ominais, um ondular harmonioso de traseiros ou mamas, um roar impudico de ombros e de anca s. uma dana de stiros.Enerva, Sensualiza. Faz mal. Todos ouvem. Todos riem. Todos se divertem. A pretalhada, feliz, delira, pondo o horizonte largo da vida inteira naquele pedao escuro de terra mida entre quatro p aredes acaliadas, altas, e por onde se espia o cu. Quantos dali resvalaro dentro de poucas horas para o tronco, para o vira-mundo, o u para o aoite? Qual deles, porm, CONDE DOS ARCOS 7 VICE-REI DO BRASIL, NO RIO DE JANEIRO (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro)
pensa em outra coisa que no seja na hora fugaz que os enleva, no minuto ditoso e clere que passa? Que lhes importa o vergalho e a pol? J as msicas, porm, se encontram na evocao das taieiras. A toada interessa. Agrada a todos: Meu So Benedito santo de preto; Ele bebe garapa, Ele ronca no peito. E o estribilho, que irrompe cantado por cem bocas: Inder, r r Ai! Jesus de Nazar! Sbito, suspende-se o cantar. Cessam de tanger, de repente, o mutungo, a viola, a marimba e o ganz. que da lojeta da frente vem um formidvel berro que aos homens es tarrece: Raios o partam! Esta-poires! a voz do taberneiro. Quem olha a porta que d para a rua, v, arrancando o frangalho da cortina, desenhad o na moldura esboroante da esquadria, a figura marcial e tranqila de um drago do vice-rei que chega e vem faz er cumprir o edital da Cmara, de tal sorte, povoando que as pequenas gorjetas no d eixam, muitas vezes, de valer por profundos desgostos... um salve-se quem puder. a canalha que abala, e que em desordem corre, invadindo o interior da bodega, quebrando portas, derrubando mveis, pisando os filhos do me rcador, a negra, saltando muros, desaparecendo... No fim, as coisas custam um pouco mais caro, mas arranjam-se. No Brasil daquele tempo tudo era assim. Tudo se arranjava. E ainda hoje se arranja... Velhos templos coloniais Igrejas, cemitrio do cristo Curiosas maneiras de enterrar Pobreza esttica do barroco O que se diz da arte da arquitetura em Portugal A obr a do escultor dominando a obra do arquiteto Pinturas nas igrejas Mobilirios. Peas de ourivesaria Freqentadores do templo As comodidades crists da poca Ardentes atmo sferas cheirando a incenso, cera, flores e defunto...
ILUSTRAES
NO TEXTO Igreja da Cruz, Washt Rodrigues Confessionrio, Washt Rodrigues Altar, Henrique Cavaleiro. FORA DO TEXTO Retrato do Bispo Antnio do Desterro (Coleo do Instituto Histrico Brasileiro). Aspectos da cidade e das ruas VIII
Estamos diante da igreja da Cruz, que os homens das milcias da terra piedosamente ergueram sobre as muralhas de um velho e abandonado forte. Olha-se-lhe a fachad a sombria, e sente-se nela como que uma fisionomia humana, num ar recolhido e gr ave de quem sofre, de quem cisma, de quem espera. O ar infeliz e compungido de t odos os templos da cidade. E como todos, sempre de portas abertas, os altares il uminados num dispndio nababesco de luzes e de flores frescas. Quem penetra uma de ssas naves resplandecentes e extravagantemente entulhadas de magnlias, de jasmins , manacs e dracenas, sente um cheiro novo, sutil, que uma combinao extica em que ent ram, de mistura com o aroma embriagador das flores tropicais, o odor da cera vir gem, o perfume do incenso, o bodum do suor do preto e, at o bafio desagradvel de q ualquer coisa que apodrece. Sim, de qualquer coisa que apodrece. No Rio antigo os templos so o cemitrio do cristo. Enterrase nas igrejas pelo solo, pelas paredes, debaixo dos altares, por cima deles, por detrs dos oratrios. Recheio de tolo bazfia Recheio de porco farfia Recheio de igreja defunto Walch e i sso j no comeo do sculo XIX, conta que, por vezes, na hora de enterrar os mortos, e sses, sobrando, muitas vezes no cabiam nas covas, no raro deixando do lado de fora um p, dois ps, uma perna... Vinha, ento, um homem com um macete e que, a golpes de presteza e de fora, obrigav a o arbitrrio trecho humano a recolher-se sepultura, amolecido, em pasta chata, p ela arma calceteira. S no se enterra na igreja o negro, embora crente em Deus, e, em algumas igrejas ar istocratas, o mulato. a piedade crist do sculo, no Brasil. Sempre que morre o escravo, e isso pelo menos at o dia em que a Santa Casa de Mis ericrdia pensa num cemitrio para eles, envolvemno na prpria esteira que lhe serviu de leito durante a vida e atiram-no pelas estradas de pouca freqncia, para que v se rvir de pasto aos urubus esfaimados. Profilatas magnficos! Vm eles de bico em rist e, as garras afiadas, em nmero to grande e, ao mesmo tempo, to voraz, que o corpo d o pobre negro, s vezes, nem tempo tem de apodrecer completamente. Como nas merend as em dias de festa, na casa do vice-rei, manjar que no chega para todos... Em nu vens cerradas descem os rapaces sobre o cadver, cobrindo-o, logo, com um manto in quieto e vasto de penas negras. Bicam, ciscam. E quando partem, cindindo o espao, alegres e revolteando em bulhenta folia, em vez do negro, o que fica na terra b atida e escura um monto de cartilagens, de cabelos e de ossos. A sobra do festim. Exteriormente, as igrejas so todas elas simplalhonas e gebas, com os seus telhad os rugosos, enormes e as suas torres chambs, cpias reles de velhos templos portugu eses. Que no a jia do manuelino que para c se manda, seno o desinteressante e vesano barro co vindo da Itlia, j um tanto desataviado, empobrecido no reino e que vem corrompe r-se e aviltar-se, completamente, no Brasil; o arremedo tosco do classicismo gre co-romano, expurgado das evocaes do paganismo e que aqui nos traz em terceira mo o jesuta, como coisa muito de ver e de admirar. Que fazer, se na terra no existem i deal, imaginao, sensibilidade artstica e artistas? Possui-os por acaso a prpria Met rpole? No os possui. Pobre Portugal, o que ento nos coloniza, to esforado, to cheio de boa vontade, mas j to minado pela decadncia, em pleno drama da sua decomposio poltica , sem valores intelectuais, quase sem instruo e sem artes. As da arquitetura ento.. . Cest un art trs arrir en Portugal diz Balbi, falando da que viu no reino, isso logo no comeo do sculo XIX. A quelques exceptions prs on peut dire que tous les edific es elevs le sont avec plus ou moins d'imperfection, sans got et sans proportions. J
uzo que confirmado pelo crtico Radzinski, o que mais profundamente estudou a histri a das artes portuguesas, isso quando nos fala das construes monumentais dos tempo s de D. Joo V e D. Jos I: Nenhum desses monumentos me satifez. Nenhum. Nem exceo fao d os que se chamam Mafra e Ajuda... Radzinsky, porm, no viu as cpias grosseiras que aqui fazamos das velhas igrejas port uguesas, de cumplicidade com o brao do colono inexperiente e brbaro, os templos q ue ainda hoje conservamos e que, apesar das remodelaes por que tanto passaram, ain da so essa coisa desataviada e fria que por a anda, sem nenhum interesse esttico. Como a casa de morada, a igreja nossa no tem expresso, nem originalidade. No emocio na, na sua ressaltada singeleza. Explica o missionrio a indigncia do aspecto que t anto desagrada vista, alegando que a simplicidade divina. E cita a humildade de Jesus. Esquece, porm, que no interior, num delrio de opulncia e esplendor, a prata e o ouro rolam do teto ao cho, desabando sobre retbulos, caindo sobre a talha dos altares, lambendo plpitos, balaustradas, imagens, candelabros, tocheiros, relicrio s, custdias, ptenas, clices, salvas, outros objetos de culto, muitos dos quais com incrustaes de pedras preciosas... Foi para ser servido to opulentamente que o filho de Deus nasceu numa estrebaria? Merece um pouco da nossa admirao, no entanto, o que por esses interiores se amonto a, embora por vezes de uma maneira algo pletrica. Nada de original, nada que fale ao corao do filho da terra, do rinco que ele habita e onde viveu o verdadeiro av, q ue era ndio, e do qual nas veias ele ainda guarda mais de dois teros de seu sangue . Nada. Tudo europeu. A obra escultrica, porm, no se pode negar, realmente notvel e agrada pela sua modelao pese-lhe embora a ausncia de certa graa e leveza. O interior de S. Bento um exemp lo. O da Penitncia outro. No nos agrada pela doura ou pela louania, mas esmaga-nos p ela opulncia, pela majestade. O barroco, neste ponto, uma reao ao misticismo do gtic o. Um eleva. O outro arrasa. O sculo no de espiritualidades. Nem de delicadezas. o sculo do Sr. Marqus de Pombal. .. No h pausas, no h desfalecimentos nem intervalos nesse desdobrar tumultuoso e pesado de motivos pomposos traados em caprichosos relevos e reentrncias, forrando de cim a a baixo as muralhas da nave. A imaginao do artista afetada e congesta, raramente rebenta em garridices lnguidas e imprevistos sutis. A obra de escultor domina, apaga e esconde a indigncia do arquiteto. As pinturas das naves e sacristias so quase sempre triviais. Por So Bento andou ce rto frade de Flandres, chamado Ricardo do Pilar, de quem se fala como de um frei Giovanni de Fiesoli, aquele suave colorista que decorou a capela de Orvieto. Do frade, h um Cristo decorando o arco cruzeiro da sacristia, que interessa histri a da pintura no Brasil, pois foi a primeira tela feita no Brasil colonial, se es quecermos as pintadas pelo artista Post, na poca da invaso holandesa. Menos vale artisticamente, porm, a decorao que o arco. Jos de Oliveira o nome de um pintor nosso. Jos de Oliveira nasceu no Brasil. o primeiro nome de brasileiro sur gindo na histria da nossa pintura. H dele vrias telas um tanto espalhadas por diver sos templos; nenhuma, no entanto, extraordinria. Nomes menores assinam pinturas a inda menores. Por essas igrejas e conventos dignos de ver, no raro, so certas peas de mobilirio, f eitas com as madeiras do pas, embora trabalhadas em Lisboa: contadores almofadado s com cercaduras de tremidos e torcidos, cmodas com puxadores de bronze, cadeiras de espaldar, em vaca, hirtas e solenes, os couros fixados por grossa pregaria d e lato, credences de ps em garra de anafada arquitetura, arcazes, arcas, tamboret es, armrios, bancos e banquetas. So em geral assimilaes aceitveis de mobilirio ingls, Queen Anna, o Chipendale, de mistura com a linha dos Luzes de Frana. No fim do vice-reinado, os grandes artistas da ourivesaria portuguesa respeitam, porm, o renome e a obra de certo mulato, que aqui se chamou Mestre Valentim. No h, na verdade, quem trabalhe obras finas do culto melhor que ele, em todo o pas. Um belo artista portugus, embora nascido em Minas. Foi aprender a Lisboa de onde trouxe, alm do cinzel, o escopro com que esculpiu os Jacars do Passeio Pblico.
Nogueira da Silva proclamava-o o primeiro escultor do Brasil, coisa, alis, no muit o difcil de ser, pelo tempo. Pode-se ver na sacristia do Carmo uma linda pia que dizem ser obra sua. O povo entra na igreja ou dela sai sem considerar o que v, afetando, apenas, most ras de exaltada piedade. Tempo de muita ignorncia, como de muito pouca religio; tempo em que o homem se con fessa todos os dias, reza o tero quase de hora em hora e vive a pecar de cinco em cinco minutos... O movimento de entrada e sada nos templos sempre extraordinrio. No vai ningum rua se m penetrar, no mnimo, a nave de uma igreja, para tomar gua benta, para fazer sua p rece, para afetar uma religio que no fundo, mal professa. As damas de sociedade, quando comeam, pelo fim do sculo, a deixar a clausura da casa colonial, indo s igre jas no bioco das serpentinas e cadeirinhas, no saltam dos seus veculos, porta, mas , no interior das naves ou sacristias, levando consigo os seus micos de estimao, o s seus tapetes, as suas esteiras ou almofadas com que forram as anfractuosidades dos lajedos, nelas se acomodando. Por ocasio das cerimnias da Semana Santa ou de outras cerimnias mais prolongadas, os escravos trazem em samburs de palha viandas, po, farinha, doce e outras gulodices. Come-se regaladamente, limpando, com estudada elegncia, os dedos nos lenos molhado s em gua de Crdoba, entre conversinhas e risotas amveis, de p, de ccoras, deitado. Al guns cochilam, outros meditam, muitos pensam em negcios, em amores, em vinganas... H ainda quem cabeceie e cochile e mesmo quem durma e sonhe. Quando o sol esbrazeia l fora, a nave, que devia ter a frescura de um ptio e a doura de uma sombra amiga, sob o fulgor de centenas de tochas que c repitam, arde, sufoca, queima. A atmosfera pesa, impregnada da estranha fragrncia de corolas e incenso, olor suave ao qual, entretanto, insolitamente se mistura o cheiro mau que vem das frinchas do solo, das paredes e dos lugares onde repous am, sepultados, os defuntos, muitos deles mal entrados na morte, ainda no prefcio do drama pungente da decomposio. Deo juvante... O rudo da cidade colonial Sino, gazeta de bronze, divulgadora de boas e ms notcias A concorrncia das boticas Anncios curiosos Como se anunciava o nascimento das cr ianas Novidades religiosas e mundanas em badaladas, dobres e repiques A voz dos s inos coloniais A eterna irreverncia carioca Palestra entre badalos.
ILUSTRAES NO TEXTO Canto de igreja, Henrique Cavaleiro Sino na torre, Henrique Cavaleiro S ino em repouso Henrique Cavaleiro Sino dobrado, Henrique Cavaleiro. FORA DO TEXTO Retrato do Bispo Castelo Branco (Coleo do Instituto Histrico Brasilei ro). Aspectos da cidade e das ruas IX Se os nossos avs coloniais no suportaram o neurasteunizante rudo da cidade moderna, desconhecendo a buzina do automvel, o apito da locomotiva ou da fbrica, o piano m ecnico, o autofalante e a vitrola, conheceram, pior que isso, o sino que, durante trs longos e impassveis sculos, sobre os seus ouvidos, como sobre os seus nervos, malharam incansavelmente, desapiedadamente, falando-lhes num verdadeiro delrio de impertinncia e constncia, ora de Deus, ora dos prprios homens.
O Rio era uma feira bulhenta de badalos. E que badalos! Nem sequer em Lisboa, on de eles, solta, viviam pelas sineiras quais cabras a danar, tiveram, como aqui, m aior funo, maior violncia e maior prestgio. Como bateram eles desde que, junto ao morro Cara de Co, o primeiro bronze descido das naus portuguesas para fundao da cidade alarmou o tamoio, lanando sobre as flor estas da Guanabara a voz de bronze da igreja falando em nome dos cus? Bateram mui to; batiam sem prudncia e sem descanso, e bateram tanto, que at nem sabe a gente c omo no ensurdeceram, de vez, todos os ouvidos do tempo! Foi sempre entre ns o sino uma espcie de gazeta de bronze, gazeta da cidade, rgo ofi cial e provecto da igreja, espalhando, em edies gratuitas lanadas aos quatro ventos , de hora em hora, de minuto em minuto, os mais variados e polpudos informes sob re o que ia aos poucos ocorrendo, at de profano, na urbs colonial. A botica que se considerava tambm rgo noticioso e importante, qui com melhor literatu ra e comentrio mais sutil, no teve a popularidade, a viva expanso divulgadora do si no. O sino s queria saber do fato. Existia, alm disso, numa concorrncia esmagadora, um nmero muito maior de torres com sinos que de boticas com mexericos, de tal sorte provando que o remdio dos homen s, entre ns, menos valia outrora que o remdio de Deus. O badalo anunciava as horas principais da vida da c idade. O homem de capuz enfiado, na sua cama colonial, ouvia logo pela madrugada, cedo, o sino que tocava matinas. Tem... Tem... Tem... Ajoelhava-se. Persignava-se. Passava a mo larga no olho ramelento, lembrando o versinho do tempo: Afaste as cortinas E saia da cama Que tocam matinas... Ao meio-dia, por uma poca em que se jantava antes de uma hora, ouvia o mesmo home m o bronze que cantava: Meio-dia Panela no fogo Barriga vazia... Pela hora do angelus, para que cessasse o servio dos escravos, para que se prepar assem as almotolias de azeite, e se espicaassem os pavios das velas metidas em a ltos candelabros, as badaladas da Ave-Maria cortavam o espao, abemoladas e trist es... Ave, Maria Me de Deus! Depois disso os sinos repousavam. As sineiras silenciosas enchiam-se de cambach irras e de rolas. Caa sobre a cidade, com o primeiro claro das estrelas, um silncio de morte... At esse momento de paz e de alvio, porm, o sino tocava sempre: anunciando a missa, descrevendo-a; anunciando todas as outras cerimnias do culto, ilustrando-as, esmi uando-as. Publicavamse te-deuns, lausperenes, novenas, o ms de Maria, a sada do B ispo, a chegada do Bispo, o dia-santo, a missa, tudo em badaladas vigorosas, can tantes.... 94 Lus Edmundo
H de se concordar que, como seco religiosa, o trabalho da gazeta era completo. Muito desenvolvido, porm, era a seco mundana, a mais apreciada de todas. Blo... Blo... Blo... Esto a tocar defunto fresco na Candelria, mana; deve ser o filho do provedor-mor que estava nas ltimas. Ia-se ver. Era o filho do provedor-mor.
Pensava-se noutra cousa. De repente, o sino de So Francisco que soava: Tem Tem Tem Na casa colonial, sobre uma esteira de palha, D. Sinh, frescata, s de saia e camisa, mostrando o pssego dos seios muito morenos e carnudos, conta a s badaladas no ar. Ouve-se uma voz que vem dos lados da cozinha e que diz assim: Ora graas que j pai o Sr. Intendente-Geral do Ouro! Diziam que era para amanh ou de pois... Olhem a criana a. E vo ver que menina... D. Sinh continua, ento, muito importante, sem responder, contando as badaladas: Seis, sete, oito, nove... Menino! Nove! Menino! Para as meninas as badaladas eram sete. Deus que lhe d boa sorte! O sino tambm anunciava a boa nova-vinda do Reino, a chegada de maiorais, as festa s do vice-rei, os dias de gala... Por vezes, noite, ouviam-se toques violentos, em rebate. J se sabia.
Fogo! Ponham as luzes janela! A ordem era do Senado da Cmara para que os socorros no labirinto das vielas desprovidas de iluminao no se chocassem, prejudicando o servio . Os quadrilheiros, homens do balde e os das carroas d'gua, toda, vinham, por sua vez, gritando pelas ruas: Luzes! Luzes! Luzes! E o sino a danar, nervosamente, na sua saia de bronze, no descansava. Bam, tam Bam, tam, bam! Bam, tam Bam, tam, bam! No fosse ele, e a cidade, talvez, ardesse toda. Incansvel e bulhenta sentinela... Para vingar, porm, a impertinncia, a constncia quase nevrlgica do sino, o carioca at ribua-lhe, maldosamente, despautrios. E' assim que o da Candelria passava por orgulhoso e grulha: De todos sou O sino rei, Nenhum soou Jamais, nenhum Como eu, soei. O sino rei De todos sou. O sino de Santa Rita diziam que falava assim, pelas Ave-Marias: De Santa Rita fui, De Santa Rita sou. O Sr. Capito-mor Me reformou. Me reformou. E quando batia pelas crianas que iam a enterrar: Feliz anjinho Que vai pro cu Feliz anjinho Que vai pro Cu! O do convento de Santa Teresa, que era um sino de freiras algo fanhoso na m lngua carioca, por vezes punha-se a dizer para o dos capuchinhos, na igreja do Castelo , uns frades muito barbados e muito feios: Me d um vintm, Me d um vintm, Me d um vintm... Vintm, Vintm, Vintm. O dos Capuchinhos, que no queria passar por sino milionrio, respondia invariavelme nte: Capuchinho no tem, Capuchinho no tem, No tem, No tem, No tem... Por vezes os dois sinos discutiam ao mesmo tempo, nervosos e terrveis:
Tem. No tem. Tem. No tem. Tem... Os sinos da Candelria, Lampadosa, So Bento e So Jos tinham vozes, naturalmente, diversas. O mais fino e delicado deles era o de So Jos, bronze um tanto fraco que, por vezes, se punha a cantar numa voz esganiada: O teu nariz tem plulas, O teu nariz tem plulas, Tem plulas, Tem plulas, Tem plulas... Diante de to inopinada informao, um pouquinho mais grosso, vinha, por pilhria, sempr e, o sino da Lampadosa; E eu tiro-las, E eu tiro-las, E eu tiro-las, E eu tiro-las... O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis 99 O de So Bento perguntava, ento, engrossando mais a voz: Com Qu? Com Qu? Com Qu? Resposta infalvel do sino da Candelria, o mais forte de todos, num som baixo, cavo, profundo, quase subterrneo: Com meu Badalo, Com meu Badalo, Badalo, Badalo!...
A faccia fomos encontr-la nas dobras avelhantadas de um manuscrito. Gostosa faccia! Sinos, gazeta da cidade, de vossa ao meritria, embora insolente, novas no teve o Mar qus de Pombal, aquele homem sem entranhas que no queria que do Brasil ou no Brasil se espalhassem notcias. Ah! que se ele soubesse da vossa ao e vosso ardor, talvez fsseis at destrudos, tendo a sorte daquele prelozinho, o primeiro aqui montado por Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, governador da cidade, to grande e to nosso amigo...
A praga desoladora dos mendigos Uma feira de pstulas e de chagas Pedintes escravo s. Pedintes soldados. Pedintes de irmandades A receita formidvel dos ltimos Curios a histria de uma tabaqueira A iluminao da cidade colonial Oratrios de esquina. Os p rincipais da urbs A hora do levantamento da lanterna.
ILUSTRAES NO TEXTO Nicho de esquina, Washt Rodrigues. Mendigo negro, Carlos Chambelland. O irmo da opa, Washt Rodrigues. Cego pedinte tocador de sanfona, Washt Rodrigues . FORA DO TEXTO Convento do Carmo (Coleo Alberto Sousa Lisboa). Aspectos da cidade e das ruas X Pelos ngulos das ruas onde existem oratrios, ou pelos adros das capelas e igrejas,
est a praga miseranda dos mendigos. Quase todos so negros. E velhos. O molambo int il da escravido, o trapo das senzalas que o senhor atira fora de portas para apod recer o mais longe possvel da casa risonha e prspera; o estmago de menos na morada, a pobre boca que fica pelas ruas a gemer, a chorar, a pedir, a mo em riste, a vo z rouquenha e a alma cansada e triste Uma esmolinha pelo amor de Deus! Quase nus, os pobrezinhos tm os membros cobertos de feridas, quando no esto deforma dos pela elefantase, pela lepra ou por chagas asquerosas. Num pas de fartura, no tm o que comer. Num pas de religio, no tm quem os proteja. Semimortos, enterrados na prp ria misria, inspirando aos que os vem ao mesmo tempo nojo e piedade, eles ficam ao sol, chuva, gemendo, chorando, enxotando as moscas, a cada vulto que passa este ndendo a mo trmula, mo murcha e espectral, feita apenas de peles e de ossos... Por vezes a tumba da Misericrdia passa e carrega um, dois, trs, frios, de olhar v idrado e lbios a sorrir. So os felizes de quem a Morte, me e amiga, de quando em qu ando se compadece.
Nos dias de grande festa, muita vez, para que S. Ex o Sr. ViceRei no veja todo ess e esterquilnio humano, o Senado da Cmara manda correr das ruas, por onde ele tem que passar, o desgraado mendigo, vezes at a pau e a chibata. Os logradouros que se tapetizam de folhas de canela e mangueira, engalanam-se, mas j sem a triste manc ha da misria humana. Nem mendigos, nem ces. O pacabote de S. Ex, danando nas suas mo las da Inglaterra, com um sota-cocheiro vestindo seda e dois criados de tbua, cob ertos de gales e placas de ouro, assoma ento, com louania e em gala, no couce os dr ages da guarda vice-real, de uniforme garrido e novo, cavalgando alimrias de espav ento. Diz Beckford, nas suas Memrias, no conhecer mendigo capaz de poder lutar com o men digo de Lisboa, j pela fora de seus pulmes, j pela riqueza de suas chagas, e isso sem falar na variedade espetaculosa de seus farrapos, atributos esse s, todos, ao servio da mais implacvel das perseveranas! O mendigo do Brasil, seja d ito a bem da verdade, no tem o brilho teatral do mendigo alfacinha. um reles figu rino de colnia, de pulmo precrio e de lceras normais. Nem farrapos dramticos ostenta, mostrando quase sempre apenas como roupa, um breve cobre-sexo, trapo vil, pano vo, com que ele julga compor a miseranda e esqulida anatomia malprovida de carnes e de msculos. Depois, porque negro e foi escravo, ainda resignado e humilde. Cheg a at a pedir menos com a voz do que com o olhar. At nisso Lisboa nos supera! H pelas ruas da cidade, entanto, quem esmole ainda e com proveito maior que esse farrapo humano, o pedincho da tropa, por exemplo, soldado das milcias, que pede pa ra fumar, para beber, para ir ao teatro de bonecos ou enxerga das barregs, num ve zo antigo e degradante, arreganhando generosidade do transeunte, nos logradouros pblicos, os tricrnios do uniforme, insistentes e cnicos. H o irmo da opa. Pelas ruas centrais, de balandraus vistosos e coloridos, nas mos vidas, pires, sacos, sacola s ou bacias de prata, andam rapages vlidos e corados, pedindo uns para a cera do S antssimo, outros para a missa das almas, para o conserto de igrejas velhas, para a construo de capelas novas... So os irmos pedintes, os opas, que no alardeiam as ren das que possuem, ganhas no estranho ofcio, s para que se lhes no corte a grande pep ineira. Conta, entanto, Victor Gendrin, negociante francs, citado por Taunay, que os conh eceu ainda nos tempos de D. Joo VI, que um deles, certo dia, entra-lhe pela loja adentro e pede para ver uma tabaqueira de preo. Mostra o mercador uma, que um son ho de artefato. Custa, porm, um pouco caro, quase trs vezes mais o dinheiro que da esmola ele j tem no saco de pedir. O homem, no entanto, manda separar o objeto e declara que, dentro em pouco, voltar a fim de pag-lo e lev-lo. Dito e feito. Dentr o de uma hora ei-lo que volta, despejando no balco do francs o preo da utilidade de que carece, no sem dizer: E agora vou trabalhar para a minha irmandade. At ento tr abalhara para a tabaqueira. Todos assim. O irmo da opa, se no levava a metade da colheita por iniciativa prpria , que levava, ento, dois teros, trs quartos, ou mesmo muito mais. Menos era difcil. No se entra numa rua, num beco; no se atravessa um largo ou se penetra uma alfurja , sem ter diante dos olhos a goela escancarada de uma sacola ou de uma bacia de
prata, e logo a voz pia e choramingas do andador, tentando arrancar-nos com insi stncia o vintenzinho da devoo. So as varejeiras da piedade. Irrompem de todos os can tos da urbs, de todas as portas abertas, isso desde que nasce o dia at s ltimas hor as do poente. Na nsia de pejar a receita, fazem mesmo parar cadeirinhas, correm a trs dos coches, enfiam-se pelas lojas de negcio, at pelas rtulas das casas de famlia.
H modalidades do tipo. Uns trazem a vara de prata do Santssimo, muita vez suja de lama e sangue aps srdidas disputas por dinheiro por esconsas vielas; outros, port adores de simples bengalas de jacarand, de cujo tope saem oratoriozinhos de emergn cia, minsculos, cheirando a incenso, a flor, com um santo qualquer aulando a pieda de do fiel; mais outros, trazendo apenas dentro de uma bandeja, enorme, uma imag em de pau ou uma estampa emoldurada em vidro e o infalvel alforje da receita a ch ocalhar moedas. No h cristo que recuse a sua esmola, beijando o santinho, ou a vara que o andador conduz. No h lbio que se recuse a to anti-higinico manejo. No h quem de xe de atender voz insistente do opa, que a todos cerca pela esquerda, pela direi ta, pela frente, por detrs: Para a cera do Santssimo! Para as obras da capela! Para a missa das almas! Para as alminhas de Deus! Para a festa a Nossa Senhora... Quando a noite desce e soam as Ave-Marias na torre das igrejas, vo se acendendo a s luzes dos oratrios, nas esquinas. Na parte central, ruas h que mostram dois, trs nichos. Saem eles dos cunhais das casas, dependurados em largos vares de ferro, t odos em madeira, pintados de negro, engalanados de flores de papel e de pano, vi stosos, amplos e envidraados. Na parte superior, rompendo do ngulo da fachada junt o cimalha, avana um cegonho, de onde pende a lanterna de azeite. Os oratrios de esquina so sempre de iniciativa particular. Em geral, pertencem ao morador do prdio onde repousam embora o azeite seja custeado em rateio pelos mora dores mais vizinhos. Inmeros os que se espalham principalmente na parte mais prxima ao largo, onde se e rgue a morada do Vice-Rei. Na esquina de Rosrio e Quitanda, h um em louvor a Nossa Senhora da Abadia; no canto de Ourives com Assemblia est outro erguido a Nossa Se nhora do Monte Serrate. O que fica entre Quitanda e Carmo o de Nossa Senhora do Bonsucesso. H mais o de Nossa Senhora das Barroquinhas, no Beco do Cotovelo; Nossa Senhora da Boa Morte, na Travessa D. Manuel; Nossa Senho ra da Pureza, na Rua do Hospcio; Nossa Senhora de Oliveira, na Rua Direita; Nossa Senhora dos Aflitos, na Rua da Alfndega; o da Fuga para o Egito, na Rua do Piolh o; Nossa Senhora do Carmo da Guarda Velha; Nossa Senhora da Batalha, no Calabouo, para no citar mais. Alm desses, por vezes outros encontram-se encravados em muros, oratrios de pedra m ais amplos, mais vistosos. Depois de oito horas, cessa por completo o movimento das ruas. Nelas s fica para viglia da malandragem e do crime, a malta dos capoeiras, dos mariolas e das rasco as. Tema, portanto, o retardatrio que atravessar os cantos das ruelas onde no haja a a miga luz da lmpada de um nicho, que na sombra h vultos que se rebuam e espreitam. Cuidado, que ao romper da manh, muita vez, as sarjetas aparecem listradas de sang ue... E gente estatelada, de borco. Quando o sino comea a tanger trindades, vem um negro munido de largo recipiente c ontendo combustvel e um molambo. Antes de dar comeo ao trabalho, antes de pejar o ventre da luminria exausta, faz o homem o sinal-da-cruz e uma reverncia de mergulho imagem do santo. Depois que mo ve a cordinha ensebada a fim de que desa a lanterna. E, enquanto ele a recebe, po usa sob o solo e a abastece de azeite, espicaando-lhe a torcida, limpando com o m olambo o vidro injuriado pela poeira de muitas horas, vo se congregando em torno os fiis que por a passam e que, cheios de piedade e de uno, ramalham rosrios, batem n
o peito, rezam em voz alta, no raro tocando a fronte piedosa na terra fria. O momento solene e impressiona. Quem vem a cavalo apeia, quem passa de cadeirinh a, sege, serpentina ou liteira, faz o mesmo. Suspende-se o trnsito nas ruas. Quem no se curva e no respeita a piedade geral, e displicente segue o seu caminho, arr isca-se. Que a ofensa no somente feita a Deus, mas aos que nele crem e a ele oram. No , no entanto, longo esse momento de funda devoo, enquanto do alto cu a sombra aos poucos desce e a alma ascende contrita, enlevada e feliz... A lanterna suspende-se. Reza-se ainda mais um pouco. Depois o desempoeirar gener alizado de joelhos, o reanimar agitado do trnsito, a disperso da massa e as esquin as que quedam melanclicas, mostrando ao homem a luz que indica do alto, ao mesmo tempo, os caminhos da Terra e os caminhos do Cu. No quadro da rua colonial cruzam os veculos O bang, a rede, a cadeirinha e a serpen tina Os andas Desvelos especiais pelos vesturios dos mesmos Coches Berlindas Estu fas Estufins Paquebotes e seges de arruar O nmero de carros que possuamos pelo fim do sculo XVIII, nesta cidade. OS TRANSPORTES
Pela rua colonial passa o bang, a velha liteira, particular, ou de aluguel, o teja dilho em forma de ba, danando em dois vares fortes, que repousam sobre o dorso de a limrias de vista, guiada, seguida por dois garbosos lacaios. So velhas conhecidas da terra. Vm do tempo do Sr. Tom de Sousa, que nelas muito viajou. a sisuda av da c adeirinha, do palanquim, da serpentina. Mostra persevo de tapete para o qual se t repa fazendo estribo das mos cruzadas do escravo. Vai aos balouos, rangendo, sacol ejando, dando ao pobre passageiro, se um desabituado a tais instrumentos de suplc io, a impresso do enjo do mar... Ao sol, o tejadilho de couro esquenta, arde, crepita, e, quando h chuva, um abrig o sem defesa, com as suas precrias cortinas de pano ou couro. Dele vale-se, entanto, o carioca, quando vai fazer longas viagens, confessando-s e, sangrando-se antes da partida e, no termo da jornada, repetindo cuidadosament e a piedade e a medicina. Como o cavalo, o bang vara o Brasil de lado a lado, rompendo florestas, desbravand o sertes, cortando clareiras e caminhos. Os moradores de chcara ou fazenda, pelos arredores da cidade, no de outra forma qu e vm ao centro. Cruzam cadeirinhas de vaca pretas, nas suas cortinas de damasco carmesim, balouad as ao lombo de negros fortes. J so menos inconfortveis, mais elegantes e grceis. Alg umas chegam at a denunciar, na sua linha decorativa, uma certa inteno de arte. No tr azem, entanto, pinturas a leo nem exagero na obra de talha e, muito menos, dourad os ou prateados; que a Pragmtica severa neste ponto: Ordeno que se no possa usar nas carruagens, liteiras e cadeiras de mo cousa algu ma de prata, de ouro fino, falso, bordados, metal dourado ou prateado. White, que aqui esteve em 1787, achou as nossas cadeiras de rua desgraciosas e p esadonas. Era o bom gosto colonial: feio, pesado e forte. Do saguo da casa rica, onde pousam, ou do corredor de outras, de cujos tetos se d ependuram, em roldanas, as cadeirinhas saem j de cortinas cerradas, para que olho s profanos no devassem o relicrio e a sua jia. Olha-se o aparato do bioco e diz-se, logo: Mulher! E no se erra. O casulo esconde a graa de formosa borboleta. Por vezes arrisca ela, afoita, um olho vivo e curioso pela nesga do panejamento entreaberto. Olha o pano que foge
E que baloua: Pe o olho pra dentro Sinh moa! A serpentina uma modalidade da cadeirinha. o palanquim indiano com cortinas, te ndo um leito de rede. Em geral, no madeiramento em que se dependura, denuncia certa riqueza de trao orn amental, mostra esculturas, embora grosseiramente trabalhadas, e, por vezes, de estapafrdias concepes: pombas, querubins, flores, frutos, obras de talha, s quais se juntam insensatamente plumas, fitas de pano e at folhagens naturais. Com o tempo essas serpentinas acabaram por perder os leitos, que foram substitud os por cadeiras, colocadas sobre estrados, conservando, embora, amplos panejamen tos muito mais indicados para o rigor do nosso clima. So bastante cmodas para entr ar e para sair e resguardam melhor o passageiro, tanto da labareda do sol como d as grandes chuvaradas. Com a serpentina sobre os ombros, os escravos, para maior comodidade do passagei ro, carregam-na um tanto de vis e ao ritmo de gemidos profundos e compassados. a buzina do tempo, advertindo o transeunte de que algum apressado quer passar. H grande capricho no vesturio dos andas, que so os lacaios carregadores da conduo, es colhidos entre os mais belos e mais fortes da casa. Fardas da melhor qualidade, cabeleiras vindas de Frana, embora pormenor curioso indefectivelmente descalos, qu e o p africano sempre foi hostil a certos requintes de pano e couro. Nas mos, porm, no faltam nunca as luvas brancas, em manoplas. O negro, por isso, rejubila, vaid oso e ancho, os dedos suarentos metidos na ardentssima fornalha. A stira das ruas que no os poupa: Negro de luva sinal de chuva Grandes desvelos tinham os senhores por todos esses negros de rua, pelos seus se rpentineiros, cadeireiros ou litereiros, definindo o anda, como sempre definiu, pelo aparato de suas vestes, a grandeza, ou a decadncia das casas, a que pertenc ia. Mais depressa o Sr. Chanceler-Mor da Relao, por exemplo, leva uma meia com um buraco na altura da barriga da perna que, em lugar que no se veja, um negro de su a equipagem mostra uma manchinha qualquer maculando a integridade do fardo. Por fora muita farofa, Por dentro mulambo s. Quando sol de estio abrasa e castiga, v-se essa coisa insensata: os infelizes por tadores de veculos arquejando ao peso das varas duras, que levam sobre os ombros, todos metidos em espessos cales de belbute, casacas pesadssimas, do mesmo pano, i ndumentria de vista e peso, ainda por cima recamada de placas de metal. Pobres ne gros! Cada placa um sinete de fogo, que o belbute atravessa a queimar-lhe a epid erme. Triste besta humana, lavada de suor, lustrosa como se sasse de um banho de l eo, ao lumaru da terra derretendo-se, diluindo-se, liquidificando-se... Se inmeras so as cadeiras de rua, as serpentinas e os bangs a cruzar, rarssimos so os coches por toda a cidade movimentada e vasta. Aguirre, que nos visitou na poca do vice-reinado declara em seu dirio que durante o tempo aqui passado viu apenas cinco ou seis. Ns possuamos, entanto, uma quantida de bem maior desses veculos. No os viu Aguirre, porque o coche s saa em dias de fest a, de grande festa, rua. Na correspondncia particular do Marqus do Lavradio, h uma carta, datada de 5 de maio de 1771, com a explicao do que se afirma. Falando dos c arros desta cidade, diz ele que eram os mesmos utilizados raramente por seus don os, a maior parte do tempo ficando metidos em suas coleiras. Se o negcio importan te, continua o Vice-Rei, o dono sai a p para no estragar a ferragem e a sola do veculo. Com o sol forte, o mesmo acontece para que os couros no se ressequem. Sor didez, avareza, hbito de desconforto muito vulgar nesta terra por um tempo em qu e se procura juntar no fundo da meia o cruzado para ir gozar a vida fora. No s a b aixela de prata, que se aferrolha na arca de jacarand, enquanto se come com a mo r aspando o fundo do prato; o coche tambm fica esgasgalhado na coleira. Por isso to poucos coches viu Aguirre no Rio de Janeiro. Pelas Memrias Pblicas e E
conmicas da Cidade do Rio de Janeiro, publicadas na poca do Marqus do Lavradio, v-s e, ainda, que j possuamos no tempo, nada menos de seis casas de alugadores de seges; e na rubrica De carros l-se mais nove, fora cinco lojas de segeiro. Naturalmente que os carros que se vem na cidade colonial pelos dias de posse dos vice-reis, pelos das folganas pblicas, ou por ocasio dos casamentos e batizados, no se podem comparar aos lindos veculos de Lisboa, muitos deles verdadeiras obras de arte no gnero, dourados, com pinturas originais de mestres, altas esculturas e i sso sem falar nos panos de cristal, nos revestimentos de veludo e brocado, nas c ortinas de seda e nos tapetes de preo, vestindo os perseves de estilo. A caixa do veculo suspensa por correes enormes e posta sobre um jogo de quatro rod as, duas das quais, as da frente, muito baixas. Compondo a linha da carruagem nunca menos de dois cavalos atrelados, sendo um de sela, para pouso do sota. Dois criados de tbua vm no traseiro, as mos pousadas nos tejadilhos de couro onde atravessam as umbelas de servio. Alm do coche que, entre ns, a carruagem de estado, veculo de grande luxo, h ainda a b erlinda, a estufa, o estufim, o paquebote e a sege. A berlinda um carro pequeno, leve, gracioso, obra de maior luxo e maior ornamentao que o prprio coche. A estufa um veculo de quatro rodas, mas sem a magnificncia da berlinda ou do coche, e onde avulta a obra de couro tauxiada em larga pregaria de metal e vidraaria, veculo am plo, por vezes podendo carregar at seis pessoas. O estufim e o paquebote so meiase stufas singelas, leves, teis e modestas. A sege, irm pobre da berlinda e do coche, um veculo, em geral, de um s lugar, levssi mo, mostrando duas rodas. A caixa curta, caixa em coup, mas posta muito ao alto, o tejadilho em forma de ba, mostrando a sada pela frente. Para defender o passagei ro das chuvas, h uma cortina rasgada ao centro, de couro, com vidros encaixados. Tiram-na dois ou quatro muares. Leva um sota, que se mostra sempre ao lado esque rdo na parelha. Tambm leva, por vezes, criados de tbua. Chamberlain, na sua obra s obre o Rio de Janeiro do comeo do sculo XIX, desenha-nos uma curiosssima, arrancand o em frente o consulado ingls. As leis de etiqueta, na parte relativa aos que se valem de veculos, resumem-se a muito pouco. No coche, na estufa, no paquebote, ou na berlinda, o melhor lugar, o mais distinto, o da direita, ao fundo, e, nas liteiras, o lugar que fica atrs. Aos padres e s mulheres ainda que sejam filhas, devem dar-se, sempre, os melhores lugares do veculo. As saudaes feitas da rua so correspondidas de dentro da conduo com um leve inclinar d e busto. Quando a janela de vidraas estiver fechada, necessrio abri-la para fazer, ento, o gesto de saudar. Nas cadeirinhas ou bangs com janelas de vidro a meno de que rer baixar a mesma vale como resposta ao cumprimento. O passageiro no se cobre ja mais dentro do seu veculo, traz o tricrnio sobre os joelhos ou sobre o peito, o fo rro de seda branca virado para dentro. Na rua estreita e movimentada, quando no se escuta o gemido ritmado do cadeireiro , do liteireiro ou do serpentineiro, a voz do homem da bolia ou do sota que berra alto, acompanhado do estalar de longussimos chicotes: Eia! Uia! Oia! Como eram organizadas as festas populares nos tempos da colnia Os senhores do Sen ado da Cmara Maneira de anunciar ao povo os divertimentos oficiais Os almotacs e o bando lido, espetaculosamente, pelas praas e ruas da cidade Preparativos para o grande dia Descrio de uma praa de curro Conjuntos musicais. Para comemorar com brilho e pompa certas datas do calendrio real, reuniam-se, de quando em quando, os senhores do Senado da Cmara. E organizavam festas extraordinr ias, festas espantosas; que fossem depois falar ao Reino da humildade satisfei ta do leal vassalo da Amrica, sem contudo, insinuar a solicitude admirvel dos seus governadores, pois pensavam eles, muito naturalmente que, em lembrando o primei ro, os ltimos no seriam esquecidos. Esse fiel vassalo, nas correspondncias oficiais que iam daqui para Lisboa, era s empre uma criatura tocada pela vara da felicidade e que, de feliz, vivia com as mos postas, a agradecer aos cus, no s os tremendssimos impostos, os vexames e outros
sinais de opresso com que a metrpole o esmagava, mas, ainda, a ventura sem par de possuir, por amos e senhores, os monarcas mais justos e mais paternais postos pe lo bom Deus sobre a crosta da Terra... Como se abusava de ti, alma ingnua e dolorosa de caboclo, figura sofredora e exau rida desse pobre e fiel vassalo to das correspondncias da colnia para a Corte! Prnci pes bem-aventurados! No nascia, no se batizava, no casava, um s, sem o espoucar do r iso franco e ruidoso destes povos felizes, bem como um s no morria sem que a terra toda se umedecesse ao rolar das lgrimas sentidas pela imensa e desolada vassalag em fidelssima. Nunca se viu solidariedade assim. Saam os almotacs a cavalo, em bando, no raro mascarado, pelas ruas da cidade, a anu nciar ao povo os festejos decididos. Iam ruidosos e chibantes, fazendo danar as alimrias portentosas e irrequietas, e m ostravam, sobre os ilhais suarentos e fogosos, xairis do melhor veludo, roupas de sela da melhor qualidade, as crinas e os traseiros enfitados. E logo foguetaria atrs. Foguetes do ar, com os seus brbaros e neurastenizantes est ouros, a bombarda infalvel da colnia, que sempre definiu, com indiscrio e bulha, o r egozijo desenfreado do reinol! Era de ver, ento, a farndola dos vadios, a corja deleitada e feliz, que corria em roldo, no couce dos cavalicoques do anncio, formando, atrs, um squito festivo e turb ulento, de tal sorte a colaborar no alarde espalhafatoso dos edis. Pelas praas ou pelas encruzilhadas das ruas, pelos lugares onde o povo se fizesse mais numeroso ou agitado, retesavam-se rdeas, continham-se ginetes, e do bando, ento, um se destacava que lia o edital dos festejos. Aclamaes. Rufar estrepitoso de tambores. Soar de clarins. Girndolas de fogos do ar... Recomeava a cavalgada alvi ssareira sua corrida tumultuosa, varando ruelas, furando ruas e betesgas, por ca mpos, por atalhos e caminhos. As grades de pau e os furos das urupemas das cas as enchiam-se, pejavam-se de olhos maravilhados e satisfeitos, palpitando de nsia , fuzilando de curiosidade. Por vezes, as prprias janelas ou as portas entreabri am-se em frinchas escandalosas de quase dois dedos. Inaudito! E toda a famlia, ar riscando a reputao, atravs da frincha, a cocar, em cacho, gozando o tropel das cava lgaduras, o estardalhao do povilu esfuziante e desordenado gritando pelas ruas: Fe stas! Festas! Festas! A notcia pegava fogo, alastrava, tomava conta da cidade. Da parte do Arsenal de M arinha Glria e ao Valonguinho sabia-se logo que um bando vistoso corria, alegre, a anunciar festanas extraordinrias. O comrcio exultava. A roda dos negcios comearia a girar gostosamente. Subiria o preo das fazendas de luxo, os sapateiros comeariam logo a afirmar que o couro estava pela hora da morte. Fariam sero os perruqueiro s, os alfaiates, as costureiras. Transbordariam de encomendas as casas de sege, de passamanaria, de tinturaria... Sinh-moa, enlevada, quase enlouquecia de prazer . O pssaro de encerro ia sair rua e com sol! Que o pap no deixaria de lev-la pelo meno s s festas dos touros, ou dos cavalos. Sinhmoa talvez mesmo fosse ver noite as lumi nrias, ou os fogos artificiais. Que sonho! Quanto aos programas de tais folganas constavam eles, pouco mais ou menos, de emb andeiramentos, Te-Deum, beija-mo, procisso, touradas, cavalhadas, outeiros, pera, l uminrias... Festas para durar seis dias! Naquela noite mesma, luz dos candieiros de azeite, os interiores, em viglia at qua se madrugada, as penas de pato rangiam deliciadas, riscando oramentos exorbitant es. Se o movimento se fazia sentir ativo e vivo nas casas, nas lojas e oficinas, tr ansformando o aspecto patriarcal e tranqilo da cidade, no menos vivo e ativo era o que ia pelos campos indicados para o levantamento de um anfiteatro, onde pudes sem ser corridos touros e cavalos, exibidos danas e carros alegricos. Trabalhavam carapinas vindos de toda parte; pedreiros e pintores de brocha at pela madrugada, luz de cabeas de alcatro, que a escravaria carregava. E de um amontoado de lonas, de madeiras que carretas cuspiam sem descanso ao redor da praa, surgia, enfim, a grande pea de arquitetura, que se dispunha a impressionar os basbaques do tempo. Que demasiado no sofra, porm, a nossa imaginao, pensando no que seriam, sob o ponto
de vista esttico, esses surtos arquitetnicos desovados incompetncia dos homens do r isco da poca, os mesmos que mancharam a beleza da nossa paisagem com aquelas gaio las coloniais sinistras e mal cheirosas que foram, aqui, a infecta e lgubre morad a do nosso pobre av pelo correr dos sculos XVII e XVIII. O fiel vassalo, porm, sem cultura e ambiente, delirava assim mesmo. Podia l haver melhor? No podia, claro. A praa tinha que ser mesmo uma obra-prima. Se assim as fa ziam em Lisboa! S no mostrava janelas de vidro, toruticas e os tapetes que iam busc ar el-Rei ao prtico da entrada. O resto... Sem varandas de vidraa, alcatifas do Oriente ou da fbrica de Arraiolos, a construo i ndgena, como a casa do sculo, como a tela do tempo, como tudo enfim que pela poca d emandasse alguma inspirao ou um pouco de beleza, era coisa lamentvel, mas de qualq uer sorte dando sempre a impresso do melhor, e servindo. Estamos diante da massa arquitetnica acaapada e feia de uma dessas praas de curro, bem em face boca hiante do arco monumental da entrada. Avana-se um pouco e h logo, ao lado, uma escadaria de madeira coberta de folhas de mangueira, tapete amvel d a natureza patrcia, amaciando e perfumando os passos de quem sobe, e, ao mesmo te mpo, apagando as cincadas naturais do carapina. A escada de poucos degraus e ser ve de acesso geral aos camarotes e s bancadas. Tem quantos degraus? Ponhamos vin te...
O camarote do Vice-Rei o mais vasto e confortvel. Fica em frente sobre o vo elevad o da escadaria, isolado e distinto. No tem os desperdcios simblicos do que posterio rmente, quase no mesmo lugar, foi construdo em honra ao prncipe D. Joo. No h, a, para delcia de pupilas rcades, musas e trofus nem a esttua da Justia ou da Fama, uma de o lhos vendados, ou quase isso, e a outra tendo na boca de gesso a trombeta emblemt ica, anunciando ao vassalo fiel a glria imorredoura de Portugal. Nada disso; apen as uma lona forte, de boa qualidade, esticada a capricho, e sobre ela as Reais Q uinas em pintura gritante, e mais abaixo Viva el-Rei Nosso Senhor! A parte mais alta da praa a representada pelos camarotes. Descendo, caminho da arena, esto as bancadas. Vem depois a tranqueira, no estilo feio e forte, da poca, mas capaz de servir mais furiosa das investidas crneas nos momentos da funo de touros. Depois, o campo de ao, a arena que, como quase todas do seu sculo, tem forma elptica e suficientemente vasta. Da sua parte mais larga med e-se uma distncia que se pode contar por uns quatrocentos palmos. Quem lana, do centro da praa, a vista em torno, v que as construes de madeira esto tod as festivamente decoradas; cada camarote um paliteiro de mastarus onde se alvorot am bandeiras e galhardetes de todas as cores. Alguns h que so separados para que n eles se instalem as filarmnicas cedidas pelas bandeiras de ofcio e que entram na p raa sob os aplausos de seus associados ou simpticos, de estandarte ao alto, vistos amente uniformizadas. Que no se ria o carioca de hoje da evocao que fizermos desses conjuntos musicais, d e tal sorte confundindo-os com outras balbuciantes expresses de arte que a colnia to pouco representavam a sensibilidade da raa braslica. Lembremo-nos de que, pelo tempo, o Brasil, como exporta hoje caf, exportava para Portugal msica. Que nossos, rigorosamente nossos, eram o lundu, a modinha, e o prprio fado que ainda agora f ala alma portuguesa, como nos ensina Balbi num documento que data de 1821. (Essa is estatistique du Royaume de Portugal et Algarve.) Na correspondncia particular dos vicereis do Brasil, no Rio de Janeiro, encontramos encmios especialssimos, no s ao gnero criador dessa mesma msica, como proficincia das orquestras de c, quase to oas e to perfeitas como as de l. Das festas populares que o Senado da Cmara organizava, as mais desejadas foram se mpre as levadas nos anfiteatros. Como por elas delirava o av colonial! Como se praticavam, porm, tais folguedos entre ns, folguedos que o sculo XVIII part icularmente requintou, e que tinham incio pelo correr da tarde, depois da revista do Te-Deum e do beija-mo do Vice-Rei? Isso o que vamos ver.
Chegada do Vice-Rei praa Cortesias oficiais Os rojes da etiqueta Aspectos da assis tncia Saudao do meirinho da cidade Manobras da cavalaria vice-real O carro da irrig ao Alegorias Bailados singulares Mscaras Enquanto se espera pelos primeiros nmero as cavalhadas. Alegorias
So quatro horas da tarde. Olha-se para os caminhos que vo para os lados da S, e v-se , numa poeira dourada ao sol, a sege do ViceRei, puxada a seis, o sota vioso, fre nte, importante, sovando as mulas de atrelagem, e, na assomada da capota, compon do a linha da carruagem, a figura risonha e donairosa de dois criados de tbua. S. Ex pontual. S. Ex no se faz esperar. Ao prtico da praa j esto os homens do Senado da Cmara, da Relao e da Provedoria, de en olta com representantes da Mitra e outros notveis da cidade, todos novos em folha , estreando casacas cortadas na melhor seda da Fbrica, calando escarpins afivelado s de ouro e prata; sob o brao, a premir, tricrnios magnficos. E muito bem penteadin hos, muito bem escanhoadinhos, mostrando apenas as pinturas e os tafets um tanto comprometidos pela insolncia da tarde, uma tarde que uma glria para o Brasil, mas que estua demasiado, ofendendo, sobretudo, no seu fulgor tropical, a papada jurdi ca dos desembargadores, em bolsa de sebo sobre a brancura imaculada dos bofes de renda. S. Ex, o Sr. Vice-Rei, j chegou. S. Ex j recebeu a primeira girndola de rojes, j se fa tou de cortesias oficiais, j gabou a chibana da praa, galgando degraus, recebendo s orrisos, retribuindo cumprimentos e ingressando, finalmente, no seu camarim de c ortinas de damasco sangue de boi, rubculo, sufocado, a abanar com o tricrnio de se da e caraa vice-real, toda envernizada de suor. Pelos camarotes e bancadas ouve-se um ah!, misto de contentamento e de alvio e um enfim! naturalssimo. Erguem-se todos, cerimoniosamente, enquanto as msicas ressoa m compassadas. Seca-se S. Ex ao abrigo da soalheira, numa vasta bretanha de linho arrancada a uma algibeira da casaca, e agradece, sentando-se, deliciado pelo es petculo realmente interessante que se desdobra a seus olhos. O anfiteatro est literalmente cheio. S ele um espetculo maravilhoso como nota de co r e movimento. So casacas, vstias, cales, merinaques, mantilhas, tudo policromicamen te fundido, vistosamente agitado. H gente at pelos vos destinados s passagens sobrando no fundo dos camarotes; gente q ue procura ou disputa lugares, num perpassar constante de vultos, de cabeas, de tricrnios, de capas, de mantilhas e de leques. Rudo. Movimento. Preamar agitado. Vozerio indistinto, apenas interrompido pelo pr ego forte dos ambulantes amassados entre o povo e a vender alu, pamonha, canjica e gergelim. Pena no haver, como em Lisboa, comenta-se, o cego das folhinhas, vendendo ao pov o o mapa das entradas com explicaes de tanto proveito, sobretudo para quem quer pe netrar a fico das alegorias e das escaramuas. Onde, porm, imprimir-se esse argument o do espetculo, uma vez que no existe em toda a cidade uma s tipografia? No tempo d o Sr. Conde de Bobadela houve uma, verdade, mas j foi mandada quebrar por Sebastio Jos de Carvalho e Melo, o Marqus, aquele homem singular que conseguiu ao mesmo te mpo ser to grande em Portugal quanto pequeno no Brasil... Sbito, rebenta de mil bocas, num grito desejado: Vai comear! Vai comear! Observando-se as praxes da Metrpole no que respeita ao cerimonial, rasga-se a tr anqueira do fundo, destinada a dar sada aos assuntos da festa, e dela surge a fig ura simptica e serena de um cavaleiro, que o povo recebe numa ovao enorme. O homem monta um tordilho rabe de cabea pequena e cauda empenachada, veste as rou pas do tempo de D. Pedro, o Pacfico; balona branca, derrubada sobre o gibo de velu do carmesim, os laarotes dos cales em rosetas largas, tufadas de espeguilha. Traz f eltro espanhol, cuscuzeiro emplumado de azul, botas de cordovo brilhando ao sol, curtas, de cano em dobra e acabando em boca de bezerro. A capa de meio corpo neg ra, farta de pregaria, est solta, a voejar no espao. Atravessa a galope a arena, l
evantando uma nuvem de p, decorativamente, para estacar, depois, diante do camari m de S. Ex, a quem sada. E espera, como ensina a etiqueta do jogo, a ordem para co meo do espetculo. A ordem no se faz esperar. O homem gira, ento, o animal afogueado, com elegncia e propsito, castiga-o, e fazen do-o corcovar como a um potro bravio, abala at chegar de novo ao ponto de tranque ira por onde ingressou, e por onde desemboca, depois, em fileiras de quatro, o e squadro vice-real, vestindo grande gala, e a galope, ao clangor de clarins a vibr ar. So manobras. No dura muito, entanto, o exerccio marcial. Com mais uma continncia, o esquadro biparte-se, e em ordem, enfia, desaparecendo, pelo vo por onde viera. Soam as filarmnicas, sinal do primeiro nmero das alegorias que surge, ento, sob apl ausos gerais. um carro de uns seis metros de longo, denunciando a forma de uma m ontanha, no cimo da qual se v uma arca de velame em tiras. H dentro dela a figura bblica de um homem barbaceno, de vestes brancas e talares, a empunhar o cajado pa triarcal. O barbaceno No. A barca a do Antigo Testamento. Cercam a No vrios animais , que se debruam da muralha da nau deliciando o povo. Vse um macaco, um tamandu, u m tapir, uma cabra... Reboa uma salva unnime de palmas. No sorri do sucesso e agradece os aplausos, cruzando sobre o peito as largas mos o ssudas. Os animais comovidos acompanham-no. Cumprimentam, tambm; zoologia de home m e pano; mascarada, artifcio, entanto, que agrada e que provoca a hilaridade da massa. O macaco abusa do sucesso, pe-se a mostrar ao povo a sua cauda enorme... Tem o carro, afinal, funo de utilidade, tal a de umedecer da praa o solo empoeirado . Os animais agitam-se na arca. O macaco insiste no seu manejo insolente, fazendo jus clera e ao cajado de No. Pe-se aos berros a cabra, enquanto o tamandu e o tapir, muito amigos, danam um b ailado infernal. Eis, porm, que o carro comea a funcionar como irrigador. Manobra de No e seus bichos a mover com af a bomba dos repuxos. um segundo dilvio. A gua jor ra sobre a poeira, em jatos. O ar refresca e o carro desliga aguando tudo. O pov o aplaude. O macaco insiste... Mal repontam, no entanto, os primeiros esguichos e j um bando de danarinos surge n a praa, mostrando sobre os ombros mscaras enormssimas de peixes, trajando uma roupagem de tom prateado e com desenhos que lembram escamas coladas ao corpo. Danam e o cardume coreogrfico vai seguindo o rastro da arca, de qualquer sorte a lembrar, fora da gua, os peixes famosos de Santo Antnio. O carro oferta dos oficiais de carpintaria, marcenaria e classes anexas. Agrada. Pode-se dizer que as alegorias da tarde comeam bem. No agradou em cheio. O macaco tambm. Retirado da arena o refrescador simblico e festivo, entra, vistoso e pimpo, o segu ndo carro, rompendo a custo a linha da tranqueira. uma cousa enorme. belo, no h dvi da, mas espanta pelo tamanho. Lembra ele, na sua trgida alegoria, uma caravela qu atrocentista, mostrando no castelo de popa toda uma tripulao vestida como vestiam os portugueses do mar pela poca dos descobrimentos. A indumentria deslumbra. Se houvesse um mapa impresso de entradas, como em Lisboa, ver-se-ia logo explica do, por exemplo, que o smbolo representa o Triunfo de Portugal nos mares e que o carro uma oferta dos taberneiros da cidade. Artifcio de vista e bulha. Entra atir ando bombardas dos seus canhes de papelo pintado, no arvoredo nutico desfraldando, com a bandeira do Reino, gloriosas flmulas de guerra. O reinol, orgulhoso, aplaude-o com delrio, principalmente quando a nau, depois de complicadssima manobra, encalha gloriosamente diante do camarim vice-real, a des pejar, com a sua formidvel artilharia, a salva protocolar. O cortejo bailado que segue o rastilho sem espumas de caravela pimpona represent ado por bailarinos, que figuram vrias raas da Terra: asiticos da ndia portuguesa, af ricanos do Congo e Moambique e ndios da Amrica. Vm todos esses fiis vassalos em grupo s separados, mas rege-os o mesmo motivo coreogrfico e o mesmo drama musical, que descreve a alegria e satisfao das raas conquistadas pelas glrias sem nome da Me Ptria. Os peixes do carro Dilvio, em linha, ao fundo, desencastoam as mscaras para melho r admirar a evoluo do navio e das raas. E sorriem deliciados. Mas j recolhe o carro
seguido dos seus grotescos danarinos. Os clarins soam de novo e uma girndola de foguetes atirada no ar denuncia nova al egoria que o povo logo reconhece como simbolizando o Reinado de Baco... Representa a mesma um monte todo entrelaado de vinhas, de onde surgem caraas vivas de stiros empunhando, como o filho de Jpiter e Semele, no alto, taas, que esvaziam . A taa de Baco de ouro e enorme. Arranjaram para viver a grotesca figura do Deus Olmpico o mazombo mais gordo de todo o vice-reinado. Lembra menos um homem que u m espesso paquiderme, a pana felpuda mostra, grvida j de algumas canadas do bom vin ho. Faz bem o seu papel o marau. Para viver a imagem obesa do divino borracho no abusa ele to-somente das banhas, mas, ainda, do lcool que entorna com freqncia goela rubra e enorme. O seu olho a meio-pau um vinhmetro eloqente, marcando o apogeu da ebriedade que o faz gritar ao pblico, acenando com a taa colossal. H quem receie que o alucinado a atire sobre a cabea do Vice-Rei. Que no h fiar em bbe dos. O homem, porm, diante do camarim de honra, respeitoso, comede-se, de tal sor te revelando prudncia e centelha divina. Um grupo de mancebos em travesti, como guarda de honra, forma o conjunto do carr o, seguindo-o num bailado de ninfas andrginas, as clmidas soltas ao ar e com elas vus policrnicos que do cor e alegria ao drama coreogrfico que se desenrola. O povo ovaciona o smbolo que volta, ento, roando a linha da tranqueira geral, e que de passagem vai atirando por esguichos, at ento dissimulados aos olhos de todos, jatos de bom vinho tinto, de que no pedem desculpas por manchar casacas, vstia, me ias, tricrnios, merinaques e mantilhas. um escndalo. Todos riem. Todos acham muitss ima graa. A gargalhada explode, muito principalmente na boca dos que no mostram as vestes injuriadas pela chuva de Baco e seus sequazes. Como se divertiam os nossos avs! Para terminar esta parte festiva que j dura bastante, vm ainda trs carros de mscaras percorrer a arena, cantando ao som de violas msicas patriciais e estabelecendo com o povo dilogos esfuziantes. Recolhem-se, porm, dentro em pouco. o intervalo. Recomea o vozerio, o movimento, a s cores vivas das toaletes a mover-se, a agitar-se. E logo os preges dominando a brouhaha que anda pela praa: Alu, pamonha, canjica, gergelim!... Cerimonial de cortesia A entrada dos pajens e dos cavaleiros Continncias ao ViceRei. Jogo das cabeas, com lanas e pistolas O estafermo e o seu divertido chicote Escara muas de alcanzias, canas e pombos Combate entre mouros e cristos As ltimas alegorias da praa. Cavalhadas Vibram clarins. A praa ao sol fulgura. Vo comear as cavalhadas. Pelo vo da tranqueira aberta sobre a arena, surge um corpo de pajens, o que deve, nas escaramuas que se preparam, servir os cavaleiros. Vm a p. Vestem indumentria d o seu tempo, sem espadas, porm. Trazem o tricrnio na mo, mostrando as cabeleiras pr emidas por um lao a catongan. Esto a dois de fundo e, assim, marcham at ao centro d o terreno onde, estacando, fazem ao Vice-Rei as cortesias do estilo: recuam o p d ireito, tocando com o joelho o cho da praa, enquanto que, mantendo a cabea recurvad a, tocam o queixo num dos ngulos do tricrnio, posto em massa sobre o peito. E, log o, evoluindo em uma fila singela, avanam para se dividirem, depois, em dois grupo s: um que toma o caminho da direita, outro, o da esquerda. Aos compassos da marc ha batida, que ressoa, voltam eles depois e saem pelo vo da tranqueira, para logo surgirem acompanhados das azmolas, pejadas de guizos e que carregam em vasos sur res de couro, os assuntos que vo servir prtica dos jogos: lanas, postes de argolinha s, cabeas em massa, alcanzias e mil outras utilidades pequeninas. Fazem os animais, ento, antes de ser descarregadas, o circuito da praa, seguidos p elos seus guias que, depois, os aliviam da carga, colocando-a sobre a arena, de forma a bem-servir, oportunamente, os cavaleiros que no tardam. S a que os mesmos e
ntram, em duas filas de seis, ao todo doze, distinguidos pela cor dos vesturios. Mostram os de uma fila vestimentas verdes, os da outra, cor-de-rosa. Calam todos igualmente, porm, luva branca na mo esquerda, e trazem no tricrnio, aleventada, uma grande pluma da mesma cor. No mostram botas, seno polainas, tambm brancas, das alt as, das de atacar, o excedente da fita e um amplo lao cado sobre a perna. As selas dos que trazem as roupas cor-de-rosa, so vermelhas, e as dos que trazem roupas v erdes, amarelas. Combinando com tais cores esto ainda as rdeas, cabeadas, rabichos e pontas das guias. So, porm, uniformes os xairis, bem como os peitorais e seus enfeites: as ferragens so prateadas, bem assim os copos dos freios e dos estribos. Trazem na mo, os caval eiros, lanas decontoadas e logo de entrada fazem marchar, a passo, as suas cavalg aduras. No tiram o chapu. Majestosos e serenos vo eles, assim, ao centro do anfitea tro, olhando, perfilados, o camarim do Vice-Rei, para fazer a continncia espetacu losa dos sete tempos. Consiste essa continncia num destro e elegante manejo execu tado pela lana, que toma sete posies diferentes, at ser arremessada, afinal, para trs , onde fica com a botana encalhada entre os dedos do jogador que completa o stimo tempo, fazendo cair o brao, com graa, at descans-lo sobre a coxa. Trs vezes repetida a cortesia. Acabada a ltima, deixam os cavaleiros os recontros das lanas de rastr o, avanam ainda mais, em direo ao camarim, at a um ponto onde se v um vulto estranho surgindo do terreno, todo envolto em damasco vermelho e que mais tarde se ver o q ue . Isso feito, dividem-se eles em dois grupos, momento em que, levantando os ca valos de galope, teram as lanas ao meio, pegandolhes com a mo direita voltada para baixo. O galope vistoso e, nas passagens que fazem os dois grupos, um junto ao o utro, os cavaleiros erguem o brao direito para cima, olhando, cada um, com graa e agrado, o seu competidor. Segue-se a manobra dos crculos, em rodopio, fazendo os cavaleiros da fileira do c entro galopar os seus cavalos na ao da volta ao revs para no voltar a cara aos caval eiros da fileira que anda por fora. E vrias figuras, outras, vo mostrando a destre za dos jogadores e suas alimrias at terminar pela ocupao de pontos opostos na arena, bem separados os grupos pela cor do que vestem. H um minuto de descanso: o momento em que os pajens, portadores de cabeas de papelo pintado, avanam e as vo colocando, espalhadas, sobre o solo. Tm elas um tamanho na tural e firmam-se, quando postas no cho, pela base do pescoo. Preparado o recinto para novo jogo, voltam eles a trocar as lanas decontoadas, que trazem, por outras de fina ponta. A sorte divertida. O cavaleiro sai de arma em riste com o mister de trazer, nela, tantas cabeas quantas for possvel. Ateno! Que as msicas cessaram e o nmero curioso principia. Avana o primeiro da fila esquerda. um verde. Corre, atira a lana, esfora-se, porm, s em nada conseguir. Nem uma cabea fisgou. E assim que volta desbaratado e triste s ob o formidvel apupo das bancadas que assobiam... Agora, um outro, um cor-de-rosa , que acomete. Bravo! Foi, porm, de raspo... A ponta de ao feriu a primeira cabea: f eriu, mas resvalou. Com as outras d-se ainda o mesmo e desastrado jogo. Tal qual o seu antecessor, no marca ele um s ponto... E volta descorooado. O terceiro, que u m verde, porm, traz duas cabeas. A praa inteira exulta, grita, aplaude. O cor-de-ro sa, a seguir, mais feliz, ainda, enfia quatro! H delrio no povo. Aplaude-se a vale r. Os verdes, no entanto, no fim de certo tempo, ganham a partida por trs pontos. Voltam os pajens, portadores de novas cabeas, agora colocadas em plintos altos, d e metro e meio de altura. Substituem-se as lanas por pistolas. O jogo simples, basta visar e atirar, que a cabea, logo, se despenhar. E cabea por terra, ponto marcado. D-se comeo escaramua. urante vinte minutos as pistolas espoucam. Os aplausos da massa sublinham os pon tos feitos. Os verdes ainda ganham desta vez. Evos, gritos, clamores! Minuto de descanso aos cavaleiros. Sempre que estes descansam e os pajens saem a preparar o mbito da funo, as msicas clangoram. J elas, porm, vibraram. E emudeceram para dar incio a outro nme ro do programa. E nmero de sucesso! Dois pajens um da faco verde, outro da contrria saem, cada qual dos castelos rivais , onde se encantonam os cavaleiros, e caminham em direo ao vulto embuado, que j vim os colocado bem em face ao camarim do Vice-Rei. E o desvendam, arrancando os pan os de damasco que o envolvem. Surge luz do sol, ento, o busto esplndido de um home
m de pau, trajado romana, tendo no brao esquerdo um escudo, e no outro um vastssim o azorrague. Assenta a figura em pivot sobre um robusto pedestal fincado ao solo . O povo logo o reconhece. Rebentam, com os aplausos, gritos das bancadas: Estafermo! Estafermo! J esto prontos em fila os cavaleiros para dar-se princpio escaramua. Sai o primeiro jogador levando, em riste, a lana decontoada. J deu rdea ao cavalo para que ele cor ra livremente; j firmou, sob o brao, a arma com que h de ferir o centro do escudo d a figura, todo voltado para ele. O povo espera o golpe. Na carreira, a lana fere, em cheio, o broquel. Com o choque rpido o Estafermo, que gira sobre o pino, lana automaticamente no ar o azorrague terrvel, que arremete contra cavaleiro e cavalo . No os atinge, porm. Por isso o povo aplaude. A habilidade do jogador fugir, como esse fugiu ao ltego, de sorte que nem a montada o receba de leve. No so esses, mas, os menos hbeis, aqueles que mais divertem e mais fazem gozar o pbl ico, porque basta um ligeiro desvio de lana para que o vergaste venha sobre a mon tada ou sobre ele, de tal sorte castigando-lhe o descuido ou a impercia. E to fort e a vergastada que o homem se encolhe todo sobre a cilha, quase a cair, e o anim al, se a recebe, espinoteia e abala em corrida desenfreada, no raro atirando fora do estribo o prprio cavaleiro. Parece que dos jogos esse o que mais interessa e mais deleita o pblico, tanto que , mal ele termina, depois de muito fazer rir, agora com o triunfo dos cor-de-ros a, num torneio de agilidade e destreza, so todos unanimemente a reclamar preo novo , em extra. O programa, porm, est longo demais. O sol j no assistiu as ltimas investi das do Estafermo; perdendo, portanto, um espetculo bem divertido. Os horizontes a rroxeiam. Os postes das argolinhas j esto sendo preparados pelos pajens. Correm-se as argolinhas, cumprindo-se o ritual da boa cavalaria, que manda o jogador, qua ndo vence, entregar dama do seu afeto a prenda arrancada pela lana. H, ainda, um nm ero de alcanzias formas finssimas de barro, ocas, do tamanho de uma laranja, dent ro das quais se pem geralmente flores, fitas ou papis recortados de cores vrias. O nmero feito atabalhoadamente, apressadamente, que no se quer demorar o ltimo nmero d e programa. No h tempo, por isso, para correr, como se contava e devia, o desafio das canas ca nas-de-acar que os cavaleiros deviam rebater, cortando-as a espada pelo meio, nem o nmero dos pombos muito semelhantes ao das argolinhas. A noite j vem perto e necessrio precipitar quanto antes o combate final dos mouros e cristos. O Estafermo j voltou ao seu rebuo de damasco, e os postes e cacos de al canzias foram varridos da arena. Vm de novo as azmolas carregar o que a princpio tr ouxeram. A praa fica limpa, at de pajens e de cavaleiros. Eis, porm que, de repente , a galope, estes ltimos voltam em dois grupos distintos divididos: primeiro o pa rtido mouro, que se vai colocar na parte extrema da praa, dando costas ao camarim do vice-rei; depois o partido cristo. Cada um traz a bandeira da sua crena, e, nuas, as espadas de combate. Sempre dos mouros partiu a provocao. Por isso um deles avana e, concitando os seus peleja, declama: Invencveis guerreiros! Os cristos vizinhos nos incitam! Juremos pelo Alcoro morr er ou vencer. Por Maom! E para os cristos: Em nome do Profeta, rendei-vos ou tereis que morrer!
Resposta dos cristos: Os guerreiros da Cruz no se rendem jamais, que a vitria sempre do Cu! Aceitamos o desafio, noutros rprobos! Defendei-vos! As massas ento avanam e a peleja estabelece-se cerrada e vigorosa. Previamente, os mais geis e adestrados so sempre escolhidos para o bando cristo, a fim de melhor g arantir a vitria do Cu. O combate dura bastante tempo. O tocado de leve pela arma contrria, trata logo de cair porque se arrisca, se no cair, a levar do adversrio, ento, uma pranchada a va ler. Vencem, enfim, os cristos. Senhores na luta, portanto, eilos ao centro da praa, br
andindo as armas no ar, ovantes, gritando com fervor! Viva a Santa Madre Igreja! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Uma girndola de rojes sobe, de novo, aos ares. As msicas atacam compassos finais. J S. Ex o Sr. Vice-Rei, apressado, ps o p no estribo dourado do seu coche e abalou, enquanto sada do prtico da entrada, h ambulantes que gritam as suas mercancias, neg ros que oferecem cabeas de alcatro e lanternas para os caminhos. Aglomeraram-se vec ulos de toda sorte e de todos os feitios: coches, paquebotes, carrinhos de arrua r, flores, cadeirinhas e liteiras. A noite j tombou sobre a praa, j envolveu toda a cidade, j acendeu, na altura, as ma is lindas estrelas do cu. Noite alta, noite profunda, noite silenciosa, mas sem l ua. O povo caminha, dirigindo-se para os lados da S, frouxa luz conduzida pelos n egros, recordando as mincias da folgana, satisfeito das delcias da tarde. A cidade , perto, avulta em massa espessa, surgindo da treva, mostrando, embora, de longe em longe, clares avermelhados que palpitam, que cintilam, luzes que repontam aq ui, ali e acol, vagamente aclarando betesgas, caminhos, alfurjas e travessas por onde se recorta a linha sinuosa do povo que vem da praa e que se recolhe. So as lu zes dos candeeiros de azeite nos oratrios das esquinas. Nunca se deitou to tarde a cidade. Oito horas da noite. Origens das touradas na Pennsula A estranha aventura do comendador de Amourol Tou ros em Portugal no sculo XVIII Jacques Murphy e a tourada brasileira em Lisboa A va quejada e a topada no Rio colonial Touradas nos tempos dos vice-reis conde de Az ambuja e marqus de Lavradio. Foram os bois bravios de Espanha que ensinaram aos homens da Pennsula a arte de t ourear. Quando apareceram, porm, as primeira touradas em Portugal? No sculo XV, antes do descobrimento do Brasil, j as encontramos no velho Reino. O famoso comendador de Amourol, primeiro capitam que foi das ilhas de Santa Maria e S. Miguel, descobridor da Terra Alta e dos Aores, segundo refere Gaspar Frutuos o, j tomava parte em funes de touros, em vora, e isso de maneira to pitoresca que no n os furtamos ao prazer de descrev-los. Certa vez, para assistir a uma corrida na presena de el-Rei, praa de curro foi ele e mais duas sobrinhas. Para chegar ao palanque que lhe fora reservado, dispe-se o homem a atravessar, sempre em companhia das parentas, a arena apenas preparada para a funo, quando ouve, de todas as partes, brados que so sinais de cautela e at eno. Detm-se. As sobrinhas gritam, por sua vez. O vozerio aumenta. explodem berros de pavor. Repara, a, Gonalo Velho que, em direo aos seus cales vermelhos, numa arranc ada louca, marcha um touro agigantado e terrvel gracinha de el-Rei farola que, par a sorrir um pouco, havia mandado abrir a tranqueira do redondel, soltando a fera . Os gritos, todos, portanto, eram do povilu por ver em perigo os cales do capitam, que os trazia de um vermelho assaz franco e gritador. E ia el-Rei gozar o alvoroo de Gonalo Velho e o das mulheres, vendo-as, qui, cambalh otar com gritinhos histricos numa poa de sangue, quando Gonalo, que no perde a calm a, faz-se de escudo s damas, delas passando frente, disposto, num gesto, a salvar -se, salvando-as. Saca de um terado e, quando touro incontido vai acometer os do grupo, num movimento rpido, soberbo, erguendo o brao no ar, tranqilamente matao. Pa lmas! Delrio, que provocou, depois, recado do rei, honra especialssima, para que e le fosse, ao palanquim real, beijar-lhe a mo. Gonalo Velho, porm, a quem a pilhria no agrada, arfando, plido, franze o farto sobrol ho, descontente, e, enquanto limpa no couro do animal estatelado, morto, o terado magnfico, entre lbios murmura, olhando as pobres sobrinhas quase desmaiadas: Ah, que se pilho o mariola do gracejo... Assim o sangraria! E ameaador, traa de novo c om o seu terado um largo gesto no ar. Claro que nessa tarde de folgana, da tribuna onde estava, no viu, ele, o descobrid or da Terra Alta e dos Aores, faanha maior que a sua. As touradas em Portugal diga-se em louvor do formoso corao portugus nunca se revest
iram do perigo, nem da crueldade das touradas espanholas. E assim que vamos encontrar, no correr do sculo XVIII, o povilu lisboeta delirando diante de touros embolados combatidos por homens de espada ou lana. No Brasil, p orm, nunca se aclimataram tais combates, embora o reinol insistisse em torn-los aq ui mais ou menos freqentes. Nas coxilhas do Sul, os gachos, e nas caatingas do Norte, os vaqueiros, porm, tour eavam, sempre, mais por necessidade que por diverso, laando, derrubando a golpes d e agilidade e fora a rs indomvel que era caada e trazida ao terreiro. Naturalmente, tanto as vaquejadas do Norte como as gauchadas do Sul acabaram po r aparecer nos curros do Rio de Janeiro ao lado das corridas clssicas de touros. E foi assim que essas folganas regionais, em nada semelhante s da Pennsula, foram at transportadas ao Reino, onde de sobejo as estimavam e aplaudiam. O ingls Jacque s Murphy, num livro que publicou sobre Portugal, em 1797, descreve-nos um desses combates singulares. Foi um homem do Norte, natural de Pernambuco, o que ele v iu na funo de curro em Lisboa, e que com tanto entusiasmo nos descreve, no sem afir mar, como nota explicativa e bem clara, tratar-se de um gnero de tourada tal qual ela praticada no Brasil. De face brnzea, castigada pelo sol, os cabelos negros e corredios, esse toureado r, em quem a gente sente logo o caboclo patrcio, na narrativa do ingls, apareceu m ontado num cavalo rabe, a cabea descoberta, cingindo um manto rubro de pregarias n a forma de paludamentum dos antigos romanos, decorativamente rodopiando no ar. M anto de desafio e insolncia, vermelho e solto para instigar e ferir a retina da f era. Mal o cavaleiro acaba de fazer as saudaes do estilo, j um touro escolhido entre os mais fortes, e de antemo excitado, sobre ele se precipita em rajada, spero e terrve l. A presteza do cavalo e a maneira avisada com que ele o sabe dirigir, calmamen te, salvam-no de ser despedaado de surpresa. O pblico ovaciona-o e, em crculo, a ca pa gira de novo, no ar, ampla e decorativa. Da por diante, touro e homem, num manejo de provocaes e de negaas constantes, divert em os espectadores aquecidos. Em dado momento, porm, o cavaleiro, tomando de uma longa corda em rodilha, afasta -se da fera e pe-se a correr em crculo, bem junto do caminho que separa o pblico da arena. Do centro da praa, a consultar os rijos msculos de ao, a fera devaneia em t orno o olhar raivoso. E espera, adivinhando o golpe, a baba em fio a escorrer-lh e do focinho. E, em ira, escarva o solo. quando se v da mo do homem fugir a serpen tina da corda, em linha parablica, e alcanar o arvoredo ciclpico do boi, colhendo-o num apertado n de laada bem-feita. Retesando o barao de surpresa, a montada desequ ilibra-se e cai. Com ela o cavaleiro. O touro, porm, preso e enovelado, tomba por sua vez. Nesse momento, o brasileiro que se ergue do solo, de repente, avana e a punhala-o na cabea, matando-o. Imagine-se o delrio de toda aquela gente, ardendo d e entusiasmo e alegria, gritando Vtor! Vtor! de tal sorte a saudar a raa forte e gi l da Amrica, ali impavidamente representada naquele audaz caboclo de Pernambuco. No s desses combates, mais conhecidos nas campinas do Sul que nas do Norte, vivera m os curros do Rio de Janeiro. Havia, ainda, a vaquejada, nome pelo qual se desi gnavam as lutas do homem e do touro, e que os vaqueiros de campo da regio nordest ina ainda hoje praticam, mais por necessidade que por desporto. Vaquejadas, embora raramente, tambm apareciam como um nmero extra nos programas de curro no Rio, onde entravam touradas.Nmero originalssimo e bem brasileiro, bem no sso. No Norte e no Nordeste, a rs arisca, por vezes, tresmalhando da manada, fugindo v iglia do vaqueiro, arranca dos campos e afunda na caatinga. Urge busc-la. O homem, vestindo uma espcie de armadura de couro, a que muita vez no faltam as manoplas e at a viseira feita pela aba do chapu cuscuzeiro, de copa em forma de arete, abala correndo, esporeando a montada, na pegada do ruminante escapulido. Pela boscagem a dentro penetra, em bolo, a rs alarmada, frente, sentindo a caa que lhe d o racional no seu cavalo indmito e assanhado. O arvoredo fecha por vezes, d enso, em fronde, entreabrindose, apenas, aos que vo em correria louca. Aos estalidos dos galhos e folhagens responde o grito instigador do vaqueiro aoda ndo a alimria. Alarma-se o matagal, o rptil medroso busca abrigo na terra, a ave e spavorida cinde os ares, o inseto queda pusilnime...
A rajada furiosa toma vulto. Por onde passe a rs passa o cavaleiro, que a armadur a de couro, ao mesmo tempo dura e flexvel, tanto o defende do espinho abrupto com o da ramaria inslita, esgalhada. Encostado anca do animal perseguido, o homem derrubase sobre a ilharga do cavalo , espera do momento do ataque. Sbito a luz, a luz em chapa, que fere a retina dos que marcham sombra da caatinga. Acabou o arvoredo, o galho, o espinho, o embarg o. a clareira. A mo do homem ali firme, na cauda do ruminante fugitivo, faz o ges to. E a saiada. A macaeira ala. O animal resvala, baqueia, rola e cambalhota. O homem gil j est fora da sela e j meteu entre os chifres da rs uma das patas diantei ras, ou a peia de sola, rpido e avisado. Preso, o ruminante no pode defender-se. u m objeto, uma cousa, na mo ardilosa e hbil do vaqueiro. Na arena, pela hora da funo tauromquica aqui no Rio, o manejo era, em linhas gerais o mesmo: apenas, alm do vaqueiro, entrava o instigador, como o outro, tambm a cav alo, e que excitava o touro, dele fazendo-se seguir em corrida veloz. Era a que o caboclo patrcio, no rastro, marcava com a saiada valente e com o bote seguro sob re a presa cada a agilidade da raa. Era o minuto de triunfo do av ndio! O brasileiro orgulhoso sorria. No populacho, em delrio, o sentimento da nacionalidade era uma labreda. E todos gritavam: Vtor! Conheceram ainda os nossos curros o que se chamava topada. A topada, que ainda h oje se pratica, embora raramente, em certas regies do Piau e de Gois, nada mais era do que isto: armava-se o vaqueiro de uma vara curta de uns quatro a seis palmos de comprimento, no mximo, e ferrada na ponta. De longe, deixando-se marcar pelo touro, o homem t ratava de incit-lo, esperando, ento, o animal que arremetia em fria. E quedava-se t ranqilo, aps senti-lo em disparada para o golpe, o aguilho em riste, o conto da var a firmado no terreno. A fera vinha. Ao atingir a meta do ataque, o vaqueiro, com o homem sem nervos, manobrava ento o seu espeque de ao de forma a acert-lo na parte que fica na cabea do animal, marcada entre os dois cornos. Ou o touro ali mesmo tombava estatelado e morto ou, cego de dor, recuava, para ser logo, pela agilida de do caboclo, derribado de vez. Nas funes de curro desta cidade, as topadas deviam entusiasmar, particularmente. D e todas as sortes, essa que tambm se chamou o jogo da lana curta era a que mais im pressionava pela sua louca temeridade. Natural que, ao lado da maneira de tourear patrcia, viessem sempre os touros da t ourada clssica, moda de Lisboa. Estes ou aqueles no foram, entretanto, de natureza a estabelecer no pas o gosto pelo esporte, do qual nem mais se fala em nossos di as. No tempo dos vice-reis tais diverses, entretanto, juntamente com as cavalhada s, ainda apareciam regularmente nos programas das funanatas populares. O Sr. Conde de Azambuja, que era um vice-rei alegre, gostou imenso de touros, e de tal sorte que os no esqueceu por ocasio da chegada do seu sucessor e sobrinho o Marqus de Lavradio a esta cidade, organizando uma tourada que ficou clebre. Dessa festa inolvidvel fala o marqus na sua correspondncia particular, em carta dir igida a Bernardino Marques, da Bahia, adiantando-nos que a mesma se realizou no Campo de So Domingos. No gostava, porm, de touros o sobrinho Gravata, aquele estouvado vice-rei, de quem se dizia que limpava as ruas e sujava as casas, que da lembrana do tio e da to urada fala sem sombras de menor ardor. No gostava de touros. O seu fraco era outr o... Patusco de marqus!
A rua carioca num dia de Congadas O pblico da folgana A igreja animando a folia dos pretos Como se faziam as coroaes dos reis congos Solenidades copiadas s que serviam coroao dos verdadeiros reis Fora da igreja. O prstito nas ruas A alegria do povilu O drama coreogrfico e os seus intrpretes Sob as janelas do vice-rei. L vem! L vem! L vem! Descendo a Rua do Rosrio, pela altura da dos Latoeiros, caminho do Terreiro do Pao
, a tropilha folgaz dos negros vem cantando, a danar, ao som de adufos, caxambus, xequers, marimbas, chocalhos e agags, seguida, aulada, aplaudida pelo povilu grrulo e jovial que com ela faz mescla e se expande feliz. Nunca se viu na rua tanto ne gro! So negros de todas as castas e todas as rals, despejados pelas vielas e alfur jas em redor, atrados pelo engodo da folia: congos e moambiques, monjolos e minas, quiloas e benguelas, cabindas e rebolas, de envolta com mulatos de capote, com ciganos e moleques, a turbamulta dos quebra-esquinas, escria das ruas, flor da ge ntalha e nata dos amigos do banz. O rebolio cresce, referve, explode, continua... Nos interiores das casas, a famulagem, ouvindo fora o rudos das msicas, desencabre stada e candente, abandona o trabalho, deserta cozinhas, vara corredores, derrib ando mveis, batendo portas, saltando janelas, caindo na rua... No h escravo que ate nda amo, que obedea a senhor nesse minuto de desabafo e embriaguez. uma loucura! O que ele quer, o negro, aturdir-se na folia, mergulhar na folgana, integralizarse no ritmo do samba, fazendo um pio do tronco, e das pernas dois molambos, que s e confudem em delrio coreogrfico. um desengono macabro, em que a gente sente o negr o desanatomizar-se todo, desarticulando brao, cabea, p, perna, pescoo e mo. Isso tudo aos guinchos, aos assobios, aos berros, aos aia! oia! eia! So as congadas! Para ver o rei congo em charola vm at os mendigos escravos do Arco do Teles, elefa ntacos, mutilados, chagosos, saltando em muletas, s costas de vlidos, ou, como rptei s, de rastros... Vamos encontrar nos tempos coloniais a Igreja intervindo e animando essas folias africanas, que aqui se revestiam de carter cristo. Igrejas como a do Rosrio e da Lampadosa mostram, ainda, nos seus arquivos, notcias de animao e parceria a essas fantochadas pags, feitas sob a gide de So Benedito, de So Baltasar e de outros santos de tez carregada. que a bandeja das esmolas, pela hora da folgana, dentro ou fora da igreja, era se mpre uma bandeja admirvel, garantidora no s do custo de toda a cera do santo como a inda do desafogo de muitas aperturas da irmandade. O senso prtico dos homens, como se v, no privilgio destes tempos. J o conheciam os ir mos das confrarias coloniais. As coroaes de reis congos faziam-se nas prprias igrejas. Coroava-se o negro e disso se lavrava um termo. Em 1811 coroou-se a Caetano Lopes dos Santos, rei, e a Maria Joaquina, rainha, a mbos da nao Cabund, diz o termo lavrado na Lampadosa, por estarem eleitos e po r terem as respectivas licenas do Sr. intendente da polcia. O papelucho histrico tr az a assinatura de um ntegro sacerdote, o reverendo padre capelo Toms Joaquim de Melo. Para tais solenidades, em tudo copiadas das que serviam coroao dos verdadeiros rei s, enfeitava-se toda a igreja, acendiam-se os altares e at repicavam os sinos. No esquecer que a bandeja das esmolas, avantajada e funda, para melhor funcionar, e ra posta prova das mais violentas esfregaes, arejada, brunida, espelhada, posta co mo nova em folha... Vejamos, porm, o prstito, que j dobrou a Rua Direita, passando pela igreja da Cruz, caminho do Palcio vice-real. A um silvo agudo dado pelo capataz, diretor do folguedo, com dois dedos boca, re freia-se enfim o estouvado entusiasmo, aaimase o regabofe. H no prstito mais ordem. As msicas vo frente. Dominando a massa, no alto, em vistosos andores o rei e a ra inha, sob plios carmezins, as pontas das varas enfeitadas de plumas e laarotes. V estem seda, tanto um como outro. Para isso, tirou-se uma licena especialssima no S enado da Cmara, uma vez que a aplicao das leis sunturias rigorosa, quando se trata d e gente de cor. Negro e mulato, segundo a pragmtica de 1749, na verdade, no podiam sequer usar ls e algodes de certa categoria. Sedas, ento... Nem sedas, nem ornatos de ouro e prata, embora falsos. Traz o rei negro sobre a encanecida cabea uma coroa de papelo dourado, que nem por isso deixa de ser trazida com menos dignidade e grandeza. Veste uma casaca de c hamalote marrom, vstia amarela, cales e meias cor de telha, trazendo sobre os ombro s um manto rubro todo feito de belbute e recamado de estrelas e meias-luas de la to.
Ao sol canicular que esplende e que castiga, sentindo da terra em fogo os bafos e as quenturas, que esbrazeiam e sufocam, el-rei Beiola, dentro do inferno da sua indumentria, desaparecido sob um mundo de sedas e belbutes, todo sarapintado de placas metlicas, , no entanto, o homem mais feliz e mais refrescado do mundo, pois de emoo nem sofre o forno, em que o meteram. Olhem-lhe os ps enormes, enfiados num as sapatarras de vaca. Debaixo daquele couro que queima, h uma meia de seda que e scalda, e debaixo da meia, sobre cada dedo do p, uma brasa... Sente-as, porm, o ne gro rei? Pois sim! O que ele sente nesse minuto histrico a importncia da figura qu e vai fazendo debaixo da sua coroa de papelo. O que o preocupa e impressiona a ma jestade do porte, esquecendo o tronco, em que de tempos a tempos o metem, coitad o, olvidando o relho do feitor, e, at, a marca do Senado da Cmara feita a ferro em brasa na espdua esquerda... No h em toda a Terra monarca mais altivo. Nem negro ma is feliz. Vem, aps, a rainha. Tambm traz coroa, roupas de seda, um merinaque estupendo, arma do de barbatanas e, sobre tudo isso, o manto pesadssimo de belbute. No couce do p rstito, ento, as figuras menores, e que devem depois viver o poema coreogrfico, que ser exibido diante das janelas do vice-rei. No largo, em frente ao palcio, estaca o prstito. Os negros dos andores reais baixa m os soberanos. J o principal, sempre ao som da msica, agitando o seu bordo enfitad o, marcou o campo das danas, agitado e loquaz: Vai comear! Vai comear! Erguendo-se do trono de improviso e posto flor da terra, o rei, ali, resvalando o pernil cinqento ataca um bailado curioso, sempre envolto na capa pesadssima, faze ndo chocalhar as estrelas e as luas de metal: S rei du Congo, Quero brinc; Cheguei agora De Portug. O coro: Sambangal, Chegado agora De Portug. A rainha, que seguiu o rei nas suas diabruras coreogrficas, baila tambm, sacudindo o tund revolto, aos rebolos, imitando os movimentos de um parafuso. Mas recuam l ogo, rei e rainha, indo tomar assento nos respectivos tronos, sob os plios refulg entes de lantejoulas. Soam, agora, os speros e grotescos instrumentos, em compasso de jongo. H uma voz q ue insinua: Quemguer oia congo do m Gira Calunga Man que vem l. Do idioma africano ainda restam, como se v, na versalhada tosca das Congadas, alg uns vocbulos. Da floresta africana a lembrana, porm, se apaga lentamente. O drama c oreogrfico j vai perdendo o seu cunho de origem. Evolui. Adapta-se. O mameto, filho do rei, um molecote de dez anos, como os monarcas todo metido em sedas e com sua capa de belbute, logo que sentam em seus tronos o rei e a rainh a, avana e, em crculos, a erguer os bracinhos tenros, pe-se a danar, cantando em voz de falsete: Mameto do Congo Quero brinc; Cheguei agora de Portug. quando, rompendo a fila dos que formam o cercado humano, marcando o campo onde s e desenrola a farsa, surge um caboclo de olho trgico, vestido como um cacique, e que desfere o tacape terrvel sobre a cabea do mameto. Enquanto o filho do rei resv ala, morto, dana, o mesmo, um bailado fauniano, a agitar o seu capacete de plumas e a sua tanga de penas de arara e anu. Ouve-se, a, uma voz que lamenta: Mala quilomb, quilomb E v-se logo o capataz que se dispe, em passos cabalsticos, a participar ao rei a no tcia da tragdia, a morte do prncipe. do poema. O rei ouve a nova estranha danando um bailado trgico. E manda chamar, ento, o feiticeiro (quimboto), a quem ordena que faa reviver, sem demora, o mameto. Vale descrio especial a figura do bruxo ressuscitador que aparece. um negro esplndi
do de porte, gil danarino, trazendo, a tiracolo, uma cobra viva. Nos braos mostra g randes braceletes de miangas e tem as pernas envoltas em peles de anta e de jagua r. Impressiona. Dana em torno do corpo do mameto estatelado, cantando: mama. mama. ganga rumb, seises iac. E mama. E mama. Zumbi, Zumbi, oia Zumbi, Oia Mameto mochicongo, Oia papeto... E logo o coro: Quambato, Quambato. Savot lngua. Quem pode mais? o s. a lua. Santa Maria. E S. Benedito. No d sinais de vida o mameto. Grita angustiosa do coro. Mas quimboto, tomando-o pe las mos, ergue-o do solo, lentamente: Tatarana, ai ou tatarana, tuca, tuca Tuca ou. D-se o mistrio da ressurreio. O mameto bate as plpebras e olha em torno, sentindo-se devolvido vida. E, mais esperto que nunca, pe-se a danar nervosamente, enquanto to dos berram, fazendo soar alto os instrumentos sonoros. O caboclo, que durante toda a cena ficou plantado diante do corpo da criana inani mada, louco de espanto, vendo-a ressurgir, ergue de novo o tacape, mas, j o feiti ceiro, num passo de chula, fulminou-o com o olhar, que uma estocada. Cai o caboclo vencido. Triunfo absoluto de quimboto. quando trazem a mais linda das princesas para com ele casar. Vontade e paga de e l-rei Beiola que assim o recompensa de to valoroso feito. O mameto recolhe ao mant o de belbute da rainha enlevada, enquanto que a jovem princesa e o quimboto danam . Est finda a farsa, que acabou em casamento. Os negros erguem, ento, os andores do solo. A capa vermelha de belbute do rei flu tua ao vento. O feiticeiro, que cessou de danar, segurando a mo da princesa gentil, faz uma cort esia de mergulho, profunda e alambicada, pondo os olhos no cu, e num gesto de que m ensaia um minuete, d sada ao cordo... E todo o prstito pe-se, de novo, em marcha, f azendo a volta do largo na altura do chafariz. O vice-rei austero goza, da sua j anela de sacada, a alegria esfuziante da matulagem folgaz, as msicas, as danas, d eslumbrado ainda pelo formigueiro humano, que tem diante dos olhos e que da ramp a do mar vai perder-se para o lado oposto da praa, extravasando pelas ruas da Mis ericrdia, Direita e Arco do Teles. Cessado o poema coreogrfico, no entusiasmo da marcha, todos os instrumentos soam ao mesmo tempo na confuso dos gritos, dos berros, dos assobios, dos aia... dos oi a... dos uia... O prstito, porm, j vai penetrando a Rua da Cadeia. Ainda se v, longe, o andor da rai nha congo balouado no ar, aos ombros dos pretos fortes, e ainda se ouve, com a msica brbara que vai morrendo pouco a pouco, o estribilho da negrada espalhafatosa e feliz: quemguer, oia congo do m, Gira Calunga, Man que vem l...
Origens da Serrao da Velha Sua introduo no Brasil A Igreja, empresria das alegrias ovo Descrio do prstito A alegoria do pipote O serrador O romance da velha e o julg mento feito pelos folies A ceata clssica Nas moradas e nas ruas Como acabavam as f olganas. Serrao da Velha no se pode afirmar, exatamente, como e quando vieram parar no Brasil as folias po rtuguesas da Serrao da Velha. O que se sabe que as crnicas coloniais do comeo do scul o XVIII j delas nos falam com entusiasmo, embora sem demasiada freqncia. Eram festas de rua, festas do povilu, dos raros sorrisos da cidade infeliz.
uprindo, muita vez, a ao do estado, vamos encontrar a Igre-
ja do Brasil colonial como uma espcie de empresria das alegrias do povo. Igreja me. Igreja amiga. Se no organizava, como o municpio, folganas de espavento, com almota cs trombeteando em bandos mascarados, pavoneando-se sobre ginetes com arreios de prata, no esquecia de organizar, com certo propsito e constncia, motivos deliciosos de recreio e folia, onde o homem se deleitasse sempre com o pensamento em Deus. Quando no dava a sua novenazinha, dava o seu iedeusinho, um ms de Maria, uma miss a com boa orquestra e castrati estupendos, mandados vir diretamente da fbrica, e m Roma. E as folias do adro? Que tambm preciso contar com elas: o coreto, o imprio , o fogo de artifcio, o leilo de prendas... E as procisses? Quando as tivemos mais pitorescas e divertidas? Procisses como nunca mais puderam ver os nossos olhos, e m prstitos interminveis, com msicas alegres, com danas, alegorias pags e at mscaras. A disso, a Mitra sempre animou e protegeu os festejos de rua, que de qualquer for ma tivessem significao religiosa, com as Congadas, os reisados, o imprio do Esprito Santo e Serrao da Velha. O vigsimo dia da quaresma, em toda parte do mundo onde se venera a imagem do Cris to catlico, sempre foi um dia de folga penitncia do jejum. Fria amvel que o epicuris ta cristo do sculo XVIII no deixava nunca passar sem grandes sinais de regozijo. No esquecer que o estmago, no sculo, era vscera respeitabilssima. Preparavam-se, portan to, nas moradas de famlia, para essa quarta-feira da terceira semana de jejum, o pparos repastos, em que figuravam as mais raras e saborosas iguarias, ceias estup endas, variadas em cobertas e fartssimas em acepipes, sempre regadas dos melhores vinhos; cousa, enfim, capaz de enternecer at o mais abstmio e cptico dos estmagos. Diante de homenagem to t ocante, a vscera regozijada, como era de esperar, dilatava-se feliz, enchia-se, a tulhava-se, entupia... Ora, enquanto pelos lares a famulagem, desde cedo, pressurosa se distribua assean do o ambiente das moradas, compondo alfaias e ativando as cozinhas, nas ruas a p atulia influda organizava-se em bando para as folias atordoantes da Serrao da Velha. Esses conjuntos pitorescos de folies sempre variavam na sua apresentao luxuosa, ou modesta, de acordo com as posses dos seus organizadores. Serrava-se a velha fau stosamente dentro de casacas de chamalote e luvas de manopla, sob plios de belbut e ou de damasco, ao som de filarmnicas de truz, como modestamente se serrava, ain da, na indumentria esfarrapada dos pobrezinhos, com dois ou trs instrumentos apena s como msica, e substituindo andor e plios por um simples estrado onde se punha so lenemente o pipo que figurava o aljube, onde a velha se escondia. Melhor ser, porm, acompanharmos um desses conjuntos de ral, formados pela gentalha das ruas, massa pitoresca, gritona, irrequieta e revel, mas, por isso mesmo, int eressando-nos muito mais. So quatro horas da tarde. Estamos em pleno Largo do Moura, pletrico de gente e ond e os quadrilheiros da Cmara, com as suas lanas, cruzam, impondo aos organizadores do cortejo, que vai sair, moderao e ordem. No trazem fantasias os festeiros. O prstito larga ruidosamente ao som das msicas conhecidas e cantadas por todos: Serre-se a velha, Fora no serrote, Serre-se a velha, Dentro do pipote. Seguindo as pegadas dos instrumentistas da filarmnica improvisada, vai um estrado tosco, rasteiro ao cho, e que rola pousado sobre quatro rodas curtas, mas fortes . No estrado est uma pipa em cujo interior diz o povo vai oculta uma velha condenada ao suplcio do serrote. Esta velha tem malcia, Esta velha vai morrer; Venha ver serrar a velha, Minha gen te, venha ver... O homem do serrote, enquanto o estrado desliza lentamente, puxado corda por um n egro, dana, ora erguendo alto o instrumento de suplcio, ora assentando-o no ventre do barril j ferido, e sempre a cantar em falsete: Serre-se a velha, Dentro do pipote... Conta-se que a ingenuidade feminina da poca era to grande que velhas havia que se negavam, com insistncia, a sair das alcovas, onde se escondiam, isso pela hora da passagem dos prstitos, trmulas, sucumbidas, medrosas, receando que a farandulagem
das ruas as obrigasse a ir tambm no pipote, em charola, sofrer o cruel suplcio da serrao. A matula feliz caminha, penetrando a Rua da Misericrdia, onde mais se avoluma e s e expande a cantar. um berreiro indmito e infernal. No esquecer, porm, que o reinol , atiado pelas recordaes ptrias, nostlgico das velhas que serrava na Metrpole, a alma desdobrada, em festa, tambm poro bem grande em meio malta foliona. H, alm disso, mulatos, ciganos, mendigos, soldados das milcias do reino, dos teros auxiliares, brios de alegria, tambm cantando, tambm danando, pul ando, requebrando... Para gozar a festana, bem como nos dias de procisso, entreabrem-se medrosamente, e m frinchas de alguns dedos, as portas de rtula e as janelas de grade de urupema da casa colonial. Vem a famlia inteira cheirar a novidade, ver a corja que se diverte, ouvir os cnticos que so gr itados, berrados em coro: Serra, serra, serra a velha, Puxa a serra, serrador, Que esta velha deu na neta Por lhe ouvir falar de amor. Serra, ai serra! serra a velha, Puxa ai! puxa serrador! Serra a velha ai, viva a neta, Que falou falas de amor. Serra! a pipa rija, Serra! a velha m; Serra! a neta bela, Serra! e serra j. Diante da casa do mestre de campo Bartolomeu Jos Bahia, perto do beco do Cotovel o, o prstito estaca de repente, e, ento, dentre os componentes da farsa, um, h que avana, e que l a histria da sacrificada do pipote. A versalhada longa e, qui, um tant o montona. a vida da velha, ali pintada com as cores mais trgicas. M filha, m mulher , m sogra, m av, por isso, no pipote em que est, espera a sua sorte. E o poeta ento p ergunta, perorando, j meio fatigado de voz: Que castigo ela merece Dizei-me, senhores meus? Entram as msicas, e logo o coro responde alvorotado e Bulhento: Serre-se a velha! Fora no serrote! Serre-se a velha! Dentro do pipote! Sabem os moradores distinguidos pela ateno do prstito que a homenagem dos versos tem que ser paga. Ento, de uma das gelosias de grade mais ou menos entreaberta, surge certa mo, que avana, portadora de um prato de doces, que recebido e cuidadosamente colocado depois sobre o tampo superior do barril. De ver os aplausos, os guinchos, os berros, at daqueles que no se aproveitaro do pra to na hora do repasto. E de novo a marcha regular em busca de outras ruas e de o utras ddivas capazes de garantir uma ceia gostosa e farta. Dobra o prstito o beco do Cotovelo, desce a Rua da Cadeia, vai at ao Largo da Cari oca, sobe Latoeiros, desce Ouvidor, Direita, at penetrar o Terreiro do Pao, aonde, em geral, vo ter todos os prstitos congneres. E, sob as janelas da residncia vice-real, ento, recomeam os cnticos, agora mais do que nunca galhardamente acompanhados pelo homem do serrote, que j fendeu visivelm ente o barril. Chega o momento apetecvel do brinquedo. Para ferir o entulho do pi pote, grvido de uma matalotagem vasta e suculenta em vez de velha, o serrador, co m a prpria arma, levanta o tampo superior, j posto em dobradia, e do continente com ea ele a desovar, sob aplausos frenticos da turba, todas as iguarias do banquete. A colheita dos pratos de brinde foi pequena, e quase todos so de doces. Uns seis, nada mais. O miolo do pipote, entanto, garante o apetite voraz dos festeiros. Comem, porm, apenas os componentes do prstito, claro. Os outros espiam, mas com is so se contentam. Comem a valer. E bebem melhor. Pantagruel preside ao festim... Danam-se, depois disso, em torno do pipote, lindas tiranas e lundus; mas, j no se d iz serre-se a velha... Sobre o estrado, o pipote vazio espera pela funo nova, que lhe vo dar na hora de re colher.
E o prstito recolhe. Para dentro do barril j saltou, envolto num vasto camisolo de linho, o mais afeminado dos circunstantes, e que se dispe a fazer a velha do folg uedo. Como vai, os cabelos encrespados sobre a testa, bem uma figura de mulher, embora com a barba por fazer... Veja-se-lhe, agora, a atitude de dor e de triste za. Sente-se que at na alma a velha traz sinais do serrote. Que grande artista, d iz-se, olhando o homem que a pantomimar a farsa, ergue, de quando em quando, os braos aos cus para os desabar aps, num grande gesto de fraqueza ou desnimo. Que gra nde artista! Agrada, mas h na farandulagem quem explique melhor as razes do talent o do ato. O homem est integralmente bbado. O que ele mostra, portanto, no talento, vinhaa. A volta do prstito acorda a rua solitria. Entreabrem-se, de novo, as frinchas das portadas. Nota-se que a alegria maior, a bulha mais intensa. O homem do pipote c abeceia. Os cantos j so outros. Os quadrilheiros chegam com as suas lanas e ordenam que o prstito caminhe com mais presteza. So sete horas. Anoitece. Pelas moradas d e famlia, iluminadas, interiormente, aproveita-se a folga da igreja. Come-se, beb e-se; depois, resvala-se para o oratrio e dali para a cama. E assim foram as mi-carmes do Rio pelo correr do sculo XVIII. Festas do Imperador do Divino No domingo de Pscoa Histria pitoresca de um rei cong o e de um vice-rei portugus Inconvenincia de se lidar com crianas O bando das esmol as O alferes da bandeira Cantigas Festas de adro Do leilo de prenda aos fogos de artifcio. O Imperador do Divino Condava a tradio que no domingo de Pscoa, diante das igrejas onde se organizavam as festas do Imperador do Divino, junto a um coreto que se chamou imprio, se ergues se, com toda a solenidade, grande mastro, mostrando no tope, alvissareira, a pom ba simblica do Esprito Santo. Essa cerimnia era festivamente realizada depois da eleio do imperador, que, embora no coroado ainda, a tudo j assistia, na sua esplndida indumentria de grande gala, ce rcado, no s por uma guarda de honra, como ainda por uma corte luzida e numerosa. Os monarcas do Esprito Santo eram, em geral, meninos de dez, onze e doze anos. No obstante, muitos foram os adultos eleitos para imperar durante as sete semanas d e folia, que iam da Pscoa a Pentecostes. Conta-se, por exemplo, no comeo do vice-r einado, o caso de certo tanoeiro chamado Cunha, ao qual fizeram os moradores des ta cidade imperador do Esprito Santo, por sinal que imperador atrevidssimo. Sagra -se o homem aps uma missa cantada no primeiro domingo de Pentecostes, aceitando e le as insgnias do poder, e instalam-no sobre um trono magnfico a fim de receber, d a submissa vassalagem, as saudaes do protocolo. Esto as cousas neste p, quando, para saudar Sua Majestade, surge o vice-rei Conde da Cunha, que, logo da escada do coreto, lhano e amabilssimo, numa cortesia das c hamadas de mergulho, sada-o por trs vezes. De tal sorte, porm, se compenetra o tanoeiro da sua alta jerarquia, que tem como resposta ao gesto de gentileza do conde apenas um leve franzir de testa e um muc hocho... Absolutamente desconcertado, o conde sorri, no sem algum constrangimento , dizendo para os da sua comitiva esta frase, que a Histria ainda guarda: Ah, que se o tratante no representasse to ao vivo o seu papel, metia-lhe este basto pela boca... E os seus dedos crispados e trmulos apertavam singularmente a vasta bengala de ja carand de cabo de marfim e biqueira de prata... Muitos desses monarcas improvisados foram a vergonha e humilhao de vrias irmandades , diga-se de passagem. Vieira Fazenda refere-se, por exemplo, a um deles, certo meninote eleito imperad or do Esprito Santo, e, que, furioso com o embarao que lhe causavam coroa, cetro, manto, trono e corte, vendo-se privado, ainda por cima, do recreio e dos brincos naturais da sua idade
, resolveu vingar-se da confraria que o elegera, e que em trono dourado o retinh a em atitude de cerimoniosa e severa etiqueta. E assim que nasce da cabea do garo to uma idia absurda, que ele no tarda a pr em prtica. Simula, assim posto, certa necessidade inadivel, e, sem dizer gua vai, abala, corr endo procura dos fundos discretos da igreja... Resultado move-se-lhe, na cauda, imediatamente, cingindo-se ao severo protocolo, toda a ulica e esplendorosa comit iva, composta de provectos e sisudos irmos. Volta, momentos aps, o imperador ao trono, porm, havendo descoberto, no despique, diverso que o alegra, de novo abala a correr, levando, ao encalo, o cortejo majestt ico que, nesse dia, nada mais fez que correr do coreto para a igreja e da igreja para o coreto... Terminada a cerimnia da plantao do mastro e a eleio do imperador, que eram o anncio so lene de tais festas, saam todos pelas ruas, a esmolar. frente ia o alferes da ban deira com o estandarte do Divino, seguido de algumas figuras da irmandade, com s acolas, e logo as msicas e o imperador no seu espetaculoso uniforme de gala entre dois irmos de opa vermelha. Em geral, tanto o alferes como a legio de pedintes, f ormando o coro da festana, vestiam indumentrias garridas, os tricrnios ou chapus de massa festivamente decorados de fitas, flores e plumas. De porta em porta, corria o bando, a cantar: Dai esmolas ao Divino, Com prazer e alegria, Pensando que esta bandeira da voss a freguesia. Quem no tinha a moeda de prata para meter na sacola, vinha com o seu peru, com um a caixa de rebuados, um metro de fita, o que fosse mas, que por pouco, no deixava nunca de provar ao santo elevado apreo e maior devoo. Davam todos, at os pobrezinhos. O Divino muito rico, Tem brases e tem riqueza, Mas quer fazer a sua festa Com es molas da pobreza. Para garantir o transporte das ddivas em objetos, sempre numerosos e, por vezes, das mais estapafrdias em qualidade e feitio, fechando o prstito, vinha, sempre, um burro ou uma carroa, sob a guarda e tutela de irmos levantando crios acesos. Dai aquilo que quiserdes, De alma boa, de alma cega, Ouro mesmo em barra ou p, Que o burro tudo carrega! O alferes pedinte no esquecia que as ofertas em dinheiro podiam ser substitudas po r qualquer cousa que os alimentasse naquela hora de diverso e de quete: O Divino Esprito Santo um grande folio, Amigo de muita carne, Muito vinho e muito po. Venha um bom copo de vinho, Venha um naco de galinha, Venha um peixe, um ovo, um fruto Ou uma cuia de farinha Qualquer cousa servia para consolo do Divino Esprito Santo, Divino e celestial, Na terra mansa pombinha, No cu pessoa real. s portas das rtulas paravam os festeiros e cantavam: Senhor dono da casa, Tome l esta bandeira, Faa o favor de entreg-la A quem tem por companheira. Pela frincha da casa colonial, enfiava-se, ento, o estandarte de seda, que era re speitosa e anti-higienicamente beijado, lambido por toda a carola famlia, do dono da casa ao ltimo escravo. Na volta, vinha o estandarte acompanhado de alguns emb rulhos ou de algumas moedas. Moedas para a sacola, embrulhos para a cangalha do burro... Obrigado, minha gente, Pelo que vindes de dar. O Divino Esprito Santo Muito vos h de aumentar. E, dando por finda a misso do bando, depois do eloqente resultado: A bandeira se despede Com toda a sua folia. Viva a dona desta casa. Viva toda a companhia... E continuava a marcha bulhenta do bando ao som das msicas Rua abaixo, rua acima, E rua de canto a canto, Rua que por ela passa
O Divino Esprito Santo. Dias inteiros andavam os pedintes pelo bairro, a sacola na mo e os alforjes do burro escancarados como goelas generosidade do pblico.
Que no se calcule, porm, a dinheirama que se levantava aos poucos, nem o nmero de o bjetos recebidos, e que eram, depois de levados pela cavalgadura, postos no leilo de prendas, sempre pelo melhor dos preos. No domingo de Pentecostes, isto , cinqenta dias depois do domingo de Pscoa, paramen tava-se toda a igreja, engalanavam-se todos os altares, acendiam-se as luzes dos grandes dias de festa, e, ao som de msicas e coros, havia missa cantada, e, logo a seguir, a sacra coroao do monarca, feita com todos os preceitos estabelecidos p ara a coroao dos verdadeiros reis. E era das mos de um sacerdote que o improvisado imperador recebia a coroa de metal ou de papelo, o cetro, o globo e a bno catlica. S a sob o plio da irmandade, deixava ele, o monarca, a nave da igreja, ingressando o seu imprio, onde ia receber as saudaes da vassalagem respeitosa e submissa. O imprio, em alguns lugares, era de pedra e cal. A maior parte, porm, cifrava-se e m modestos coretos de madeira e lona pintada, sobre os quais se estendia um told o de fazenda vistosa. Tiveram diversas formas e tamanhos esses imprios memorveis; foram, entretanto, tod os eles, suficientemente espaosos e capazes de receber no s a ulica e numerosa comi tiva do provisrio monarca, como, ainda, os mltiplos presentes, que lhes chegavam a cada hora, arrecadados todos em benefcio da igreja. Junto ao imprio, erguia-se, quase sempre, outro palanque para a msica e para o lei lo de prendas. Uma girndola anunciava a entrada do imperador para o imprio. Os inst rumentos soavam e, enquanto o povo, de um lado, saudava o prncipe, beijando o pav ilho do Divino, de outro lado as msicas e o leiloeiro cuidavam do que era mais imp ortante: da parte financeira da folgana. Quanto do por esta caixa de segredo em forma de corao? Quem tiver namorada que a co mpre. Pode no haver nada dentro, mas tambm pode existir uma jia de altssimo valor... Quanto do pela jia de altssimo valor? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe trs... E batia com o vasto martelo de pau sobre o balastre do coreto, fechando o negcio. O leiloeiro foi sempre um homem de chalaa fcil, embora de difcil propsito, no raro es colhido entre atores de farsa nos elencos do teatro local e convidado pelas irma ndades para garantir o bom humor e o lucro nos leiles. Entre a msica e as farsolices do pregoeiro, corria a noite tranqilamente at a hora dos fogos de artifcio, que a encerravam com dignidade, em nmeros de uma pirotcnica simblica e divertida. Como ltimo nmero dessa fantasiosa luminria, aps uma saraivada vistosssima de rojes, vi nha sempre o combate da fortaleza com as fragatas. Ao meio ficava o forte, tendo uma nau de guerra de cada lado. O nmero, apesar de velho, interessava sempre. Fazia-se mister que a fortaleza ganhasse e as fragata s perdessem a incruentssima batalha, que se travava. Rompia o inominvel bombardeio entre evos e palmas. Em dado momento, as naus, menos por falta de intrepidez que de plvora, cessavam f ogo. Era a derrota confessada. Dominando o campo da luta, a fortaleza, no delrio da vitria, ento, salvava em direo a o povo, que recebia os chamuscos e aplaudia satisfeito. Era quando, por um dispositivo qualquer, o quadro que representava o forte, caa, deixando ver, em vez de um reduto de guerra, a imagem suavssima de uma pomba, a d o Divino Esprito Santo, de asa queda, de bico aberto, fulgindo entre luzes de vria s cores. Todos, a, se ajoelhavam, rezando, batendo piedosamente com as mos no peit o... Subiam as ltimas girndolas a anunciar aos quatro ventos o final da festana. Repicav am os sinos. Com aplauso, vivas ao fogueteiro que, ainda quando no prestasse, era saudado com o muito bom, e vivas ao Divino Esprito Santo, a multido, satisfeita, dissolvia-se, espalhava-se e perdia-se, desaparecendo sob o manto da noite escura e silencios a.
As modas em Portugal e no Brasil durante o sculo XVIII Elegncias francesas e a ass imilao que delas se fazia no Reino e na Colnia O chapu! Cabeleiras Os sapatos As meias A roupa branca O vesturio habitual do carioca no tempo dos vice-reis do Rio de Janeiro. Moda Masculina I
Tinha Portugal moda sua quando achou de substituir, no Brasil, as roupagens do n osso av ndio pelos panos da civilizao que adotava? No tinha. Nem nunca teve. Neste pa rticular os nossos irmos de alm-mar viveram sempre de emprstimos. J est no velho Rodrigues Lobo: Vestimos de tantos modos Cada hora, que dizer posso Que no temos traje nosso Porq ue o tomamos a todos. Ns vamos encontrar, assim, a Metrpole, pela poca do vicereinado do Brasil, no Rio d e Janeiro, de olhos postos na corte de Lus XV, a copiar-lhe as elegncias de vesturi o que aqui tambm, por vezes, logravam chegar, vindas pelas naus de Lisboa. E como eram essas modas? Usava-se a redingote de seda, que foi a de todo o sculo, mas j sem o panejamento exagerado dos tempos do Roi Soleil. Era uma casaca com outra distino, mais linha; modelava o busto, mostrando abas fugionas que morriam muito acima da curva da pe rna. Diminura, por sua vez, e consideravelmente, a vstia que comea a fechar em cima , mal deixando passar a gravatinha de renda. Linda vstia, esplndido colete, todo t rabalhado em seda frouxa, ouro, prata e, at, em pedras preciosas! Os cales de bojo, usados no comeo do sculo, eram substitudos por outros mais justos, que chegaram depois, com o correr dos anos, a modelar completamente, a coxa. Fec havam, ento, na frente, por uma portinhola, que se chamou bvara. De tal sorte punh am eles em evidncia a vigorosa anatomia masculina, que o Papa logo os condenou co mo criao do lascivo Diabo. Pouco valeu, entanto, a condenao da Igreja. A portinhola bvara manteve-se, dando ganho de causa ao impudico Sat. Todas essas vestimentas eram habitualmente talhadas em panos de coloridos fulgur antes, que iam do verde-gaio ao vermelho-sangue-de-boi. Nunca o prestgio da cor subiu to alto como por essa poca, que no foi, porm, entre ns, a de extraordinrios pintores. O tricrnio feito em castor, e que pelo comeo do sculo chegara a ter propores exagerad as, diminura de modo notvel na poca pombalina, principalmente quando comeou a ser vo ga uslo de seda. Era o chapu dos homens de prol, que, afetados e importantes, os t raziam sob o brao, menos como utilidade que como simples objeto de ornamento e de chic. Reao natural moda anterior, que levava os homens a no retir-los da cabea, at n s mesas da maior cerimnia. Em Frana, aparecia-se, assim, coberto, no conselho do rei. Chamou-se ao tricrnio, entre ns, candieiro, aluso aos castiais de trs luzes, qu e ento havia, trs ventos, Anastcio e tribico. O homem da plebe, porm, que pouco se inquietava com os caprichos da moda, para defender-se do sol, que era forte, e dos aguaceiros do cu, usava o feltro espanhol cuscuzeiro, de copa em forma de ampulheta, ou o palha do mesmo feitio, mais leve e mais de acordo com o clima, embora grosseiramente tecido. Usaram-se esses chapus de palha e feltro, entre ns, at mesmo no Governo dos vicereis D. Fernando Portugal e Conde dos Arcos, j na auro ra do sculo XIX, quando os primeiros chapus de castor acartolados comearam ento a su rgir na cabea de alguns elegantes despejados das naus portuguesas no Largo do Car mo, e logo gostosamente recebidos e saudados pelo guincho irnico da negraria do c hafariz, na hora da tamina, como coisa de rir e de gozar. Convm no esquecer, ainda , um chapu, muito nosso, e que chegou a ser o chapu mais popular da cidade at os lti mos dias do reinado do Sr. D. Joo VI, o timo holands, todo armado de papelo, forrado de seda e em forma de meia-lua. Nas estampas do livro de Chamberlain sobre o Ri o de Janeiro, muito aparecem tais chapus. A cabeleira masculina, sem ter tido a variedade espetaculosa, nem os desvelos qu e logrou provocar a cabeleira da mulher, mudou, tambm, caprichosamente, com a mod a. Os bordos ora eram altos, ora baixos, e o seu desenho variava. A cabeleira ch amada de bolsa, terminando em uma espcie de arremate de tafet, na parte posterior
da cabea, foi a cabeleira de cerimnia de quase todo esse perodo vice-real. A cabel eira de trana era s para a intimidade do lar. Para as montarias, o chique era o ca rrapito, ou a trancinha a chicote, fina, apertada em arco e com um lacinho na po nta. Cabeleiras, porm, valem um captulo especial. As gravatas eram quase sempre brancas, de renda, ou de linho bordado. Prendiam-s e atrs do pescoo, sob a gola da casaca, por fivelas pequenas. O sapato, pelo meado do sculo, perdera no s o comprimento exagerado que tinha, como a forma quadrada na extremidade. Arredondara-se a biqueira, e o salto de altssim o, vindo dos primeiros anos da centria, descera um pouco. Descera e avanara para o arqueado do p, dando parte do calcanhar uma curva graciosa, que ainda hoje se co nhece sob a designao de Lus XV. A moda das fivelas nos sapatos variou bastante, no s quanto ao tamanho como quanto ao feitio, qualidade do metal e pedrarias empregados. Pelo fim do sculo, porm, de tal modo cresceram elas que os elegantes tinham que andar de mansinho, a fim de no tropear nos prprios ps. As meias, de vermelhas, passaram a brancas, de tal sorte criando os sapatos da m esma cor. Meias pretas s as punha quem estava de luto, com a casaca, vstia e calo pretos, os b otes rigorosamente da mesma fazenda. Como distintivo de nojo havia mais o hbito de se colocar, no chapu, uma fita de lemiste larga, com uma laada que se dependurass e, caindo do lado e de modo bem visvel. As pragmticas sobre o luxo estabelecidas pelo Reino no eram de natureza a incentiv ar as elegncias indgenas. Leia-se, por exemplo, o que a de 1749 nos diz em seu captulo 1: A nenhuma pessoa de qualquer graduao e sexo que seja, passado o tempo abaixo declarado, ser lcito trazer em parte alguma de seus vestidos, ornatos, enfeites, telas, brocados, fitas, gales, galancins, passamanes, franjas, cordes, espeguil has, debruns, borlas, ou qualquer outra sorte de tecido, ou obra em que entrar p rata, nem ouro fino, ou falso, nem rio cortado semelhana de bordado. Assim tambm no ser lcito trazer coisa alguma sobreposta nos vestidos, seja galo, pas samanes, alamares, faixa, ou bordado de seda, de l, ou de qualquer matria, sorte ou nome qu e seja, excetuando as cruzes das Ordens Militares. Permito que possam trazer botes, e fivelas de prata ou outros metais, sendo liso s, batidos, ou fundidos, e no de fio de ouro, ou prata, nem dourado ou prateado, nem com esmalte, ou lavores. Probo usar nos vestidos enfeites de fitas lavradas, ou gales de seda, nem de rendas, de qualquer matria, ou qualidade que sejam, ou d e outros lavores, que imitem as rendas; como traz-las na roupa branca nem usar de las em lenos, toalhas, lenis ou em outras algumas alfaias. At a roupa de baixo, a ntima, era cheirada, revista e censurada pelo estatuto ofic ial: Poder usar-se de roupa branca bordada de branco, ou de cores, contanto, porm, que seja bordada nos meus domnios, no de outra manufatura. Toda pessoa que usar de alguma das coisas proibidas do presente captulo, perder a pea em que se achar a transgresso: pela primeira vez ser condenada a pagar vin te mil-ris; pela segunda, quarenta mil-ris e trs meses de priso, e pela terceira v ez pagar cem mil-ris e ser degredado por cinco anos para Angola. No era lcito, alm disso, trazer ornatos em pedras preciosas ou sequer outros que as imitassem, vidrilhos, cristais, de qualquer forma ou de qualquer cor. As sedas consideradas de primeira qualidade, que no tempo custavam trs mil-ris o cv ado, no podiam ser usadas, bem como meias excedentes do preo de trs mil e duzentos ris o par. A pragmtica, porm, no era uma lei tirnica apenas quanto ao vesturio: atingia a toda e qualquer manifestao de luxo capaz de tentar um homem. O mobilirio que ento se fazia com molduras, puxadores e outros enfeites de ouro ou prata, embora falsos, era rigorosamente proibido. Nas carruagens, liteiras, cad eiras, bangs e serpentinas, nenhum sinal de luxo, sendo at pela lei regulada a orde
m de pregarias de metal dos tejadilhos. Proibio expressa de pinturas a leo, tidas c omo assunto de exclusiva ostentao. Impedimento aos donos de carruagens de se fazer em acompanhar por mais de dois lacaios... As pragmticas regulavam at as ddivas que os noivos faziam s noivas! Mando que se no possam dar semelhantes ddivas seno uma vez somente, que ser no dia das escrituras , nem podero exceder tais ddivas o valor da quinta parte do dote. Se para os escravos brancos, que ramos todos ns, foi ela assim terrvel, imagine-se o que no seria para os pobres negros! Por ser informado dos grandes inconvenientes, que resultam nas conquistas da li berdade de trajarem os negros e os mulatos, filhos de negro, ou mulato, ou de me negra, probo aos sobreditos, ou sejam de um ou de outro sexo, ainda que se ac hem forros, nascessem livres, o uso no s de toda a sorte de seda, mas to bem de tec idos de l finos de holandas, esguies, e semelhantes, ou mais finos tecidos de lin ho, ou de algodo, e muito menos lhes ser lcito trazerem sobre si ornato de jias, n em de ouro, ou prata, por mnimo que seja, etc. Segundo informes preciosos, porm, que nos so fornecidos por viajantes estrangeiros que aqui estiveram, o traje popular do carioca, pelo tempo, na rua, no passava d e um chapu espanhol de feltro, cuscuzeiro, de copa e abas largas, sempre derread o sobre os olhos, nos ps alpercatas ou sandlias, sem meias, e o corpo indefectiv elmente envolvido num capote, o que tornava a figura humana quase irreconhecvel. Era a indumentria clssica do malfeitor, mostrando o homem misterioso dentro da ma ssa espessa de um pano e de onde saa um olho coberto pela aba de um chapu terrvel, empinado, ameaadoramente, sobre a linha do nariz. At pelo mais escaldante dos estios era infalvel esse mantu de pregarias, amplo, far to, mas j sem os traseiros em rabo de galo, que as durindanas de anos atrs levanta vam, arregaando a fazenda, transformando o homem numa linha ornitolgica, arrogante e humorstica. Essa moda de embuo veio-nos de Portugal. Ruders, que esteve em Lisboa pelos fins do sculo XVIII, dizia, com efeito, que os portugueses no sabiam andar sem capote, usado at pelos mais miserveis da cidade. O Rio dessa poca, ao que aqui chegava de outros pontos da Europa, que no fosse a P ennsula, devia, na verdade, impressionar, com o seu aspecto de carnaval e de mistr io, pois que ao capote de embuo dos homens se juntava ainda a mantilha de bioco d as mulheres.
A espada no vesturio de um elegante do sculo XVIII A bengala e o basto O guarda-chuva e a sua evoluo at 1804 As luvas Perfumes em voga Sinais de tafet E antes cariocas Por que motivo no chegamos a ser ridculos. Moda Masculina II O carioca do sculo XVIII, sem ser o espadachim das aventuras cavalheirescas da ce ntria anterior, no podia sair rua sem levar, sob as dobras do seu capoto de saragoa, zombando dos alvars d'el-rei, com um rosrio de vidro ou de marfim, a sua fiel e pro tetora espada. Ensinamento que lhe davam trs sculos de polcia madrasta e de cega ju stia. Sozinho, beira da estrada, A razo a minha espada. Pena que por qualquer motivo tanto vivesse ela fora da bainha. Pena que a ndole e scaldadia e bronca do natural do pas, muita vez a aviltasse, de tal sorte transfor mando a mais nobre das armas de ataque e de defesa em uma simples ponta de ferro servindo apenas para espetar o prximo. Os alvars restringiam-lhe o uso, no obstan te, todos a usavam, embora dissimuladamente. Na Metrpole tambm era assim. J dizia Montesquieu que o portugus era um homenzinho modesto, mas com duas grandes preocupaes na vida: tocar a mais desafinada das guitarras e usar a maior espada que j se arrastou em toda a Europa (Lttres persanes). Essa longussima espada de tigela de ferro to da simpatia da gente lusitana, muito por aqui se viu no Governo de Castro Morais, o Vaca. Por, ela, entanto, no mediu
, o governador, a sua valentia que, por curta, alm de perd-lo, perdeu-nos a todos, no dia em que to covardemente entregou frente de cerca de 20.000 homens, a cidad e aos 3.000 franceses de Duguay Trouin. A espada do tempo do vice-reinado do Brasil no Rio de Janeiro era uma espada men or, embora maior que os famosos quits de nascer, quase pea de joalharia, e que fo ram o adereo mavrtico da elegncia dos ltimos dias do reinado do Sr. D. Joo V. O carioca trazia-a, muita vez, desembainhada e nua na mo, sob o manto de pregas q ue o envolvia. Quando presa ao boldri vinha do lado esquerdo, segundo a boa norma da cavalaria. A bengala, e o basto, foram de certo agrado e uso dos habitantes da cidade e bast ante usados ao mesmo tempo que as espadas. A moda variava-lhes o tamanho e o feitio; no obstante, os caste s foram sempre belos e custosos. O do bengalo de Lus de Vasconcelos, que est no ret rato do Museu Histrico, e que talvez fosse obra de Mestre Valentim, um primor. No comeo do sculo apareceram os famosos cajados tortos importados Frana, infalvel atri buto da elegncia incroyable. O guarda-chuva, que no reinado de D. Joo V era um objeto pesado e feio, tendo na biqueira um anel de metal por onde se enfiava o dedo, passou, no Governo do Sr. D. Jos, a ser um objeto assaz cmodo, embora carssimo. No Museu Histrico h um oval representando certa festa nos Lzaros, onde muitos deles so vistos. Pouca diferena fazem, no feitio, dos de hoje. Em 1788, foi moda o chapu de sol branco. Os verdes fizeram poca em 1789, sendo que em 1804 impuseram-se os azuis. Eram de sarja, ou tafet. Saiba-se mais que, por e ssa poca, j existia o guarda-solbengala. Pouca voga tiveram as luvas, aqui, como em Portugal, por todo o correr do sculo X VIII. Usadas menos como complemento gentil da toalete, que como objeto de utilid ade, pode-se bem dizer que, quando fora das suas funes, eram absolutamente indesejv eis. De igual para igual, no era polido, na rua, estender-se mo enluvada a algum. Mesmo para saudar com o seu tricrnio, o homem tinha que descalar as luvas. E assim como no abusvamos das luvas, bem pouco dos perfumes abusvamos. No foram eles , com efeito, muito conhecidos durante todo o sculo, entre ns. Em frascos, vendiam-se as essncias de bergamota, de mbar, de amaranto, de flores d e laranjeira, de lavanda e do giroflet de Florena, as guas chamadas da Rainha da H ungria e Crdoba. Esta ltima foi a mais querida das guas de cheiro, popularizada po r quase dois sculos de preferncia na Pennsula. O carioca, porm, para amainar o mau cheiro colonial, que era o mau cheiro da centr ia, valia-se ainda de resinas e folhas aromticas, com as quais perfumava tambm a s ua roupa branca, particularmente cuidada, no informe de estrangeiros que nos vis itaram, e muito azulada de tanto anil. Grande voga, no sculo e entre ns, tiveram as pinturas e os sinais para os homens. Pintavam-se todos. Se at os clricos se pintavam! Os sinais de tafet serviam, no s para realar as pinturas do rosto, dar fisionomia ce rta irradiao e movimento, como, ainda, para encobrir acidentes herpticos que, por a caso, atrevidamente aparecessem na parte mais notvel da figura. Fazia-se da sua colocao uma cincia especial. Dizia-se com desprezo: Gente que quer ser eres E no sabe pr com jeito Um sinal de tafet... Havia no s a cincia de col-lo, como a arte de bem disp-lo. O sinal colocado junto ext remidade de um olho servia para aumentar-lhe o tamanho, principalmente se o tafet tivesse o feitio de meialua. Numa das extremidades do lbio, servia para encurt-lo, dando mais graciosidade ao sorriso. E todos eles, pelo tempo, tiveram um nome: o da testa, por exemplo, chamou-se ma jestoso; o das fontes, prximo s orelhas, discreto; o que se colava sobre o pescoo, tentador; o da face, galante; beijocador era o do cantinho da boca; desatinado o que se colocasse sob os olhos. Sinal posto no canto do nariz era louquinho, pas sando a atrevido sempre que se assentava bem na massa do nariz. Ao dos lbios cham
ava-se garrido, e ao que encobria o defeito cobertor, sendo que havia, ainda, o folgazo que tapava a covinha da face, e o apaixonado que, ao canto do olho, servi a para ressaltar-lhe o feitio. Os homens mais austeros e sisudos usavam tais sinais, at os graves e circunspecto s desembargadores da Justia, sobre o pergaminho das faces murchas e injuriadas pe lo tempo. Essas as modas que deveria ter encontrado o Sr. Conde da Cunha, primeiro vice-re i do Brasil, nesta cidade, quando chegou para substituir os trinviros sucessores de Bobadela, no governo da terra. Tudo nos leva a crer, entretanto, que a elegncia que foi, de escaler, a bordo, e, de estandarte ao cais para receb-lo, ouvindo, depois, no dia da posse, o TeDe um do Rosrio, pavoneando-se, ainda, nas tribunas forradas de damasco vermelho erg uidas para as tardes da folgana dos touros e cavalhadas, no podia ser l muito de ac ordo com o figurino de Lus XV, que era quem, pelo tempo, reinava em Frana e no mun do das elegncias, mas, certamente, com o de muitos anos atrs, muito atrs. O Rio era um pobre burgo podre e s habitado de oficiais mecnicos, pescadores, mar inheiros, mulatos, pretos boais e nus e alguns homens de negcio, como nos diz e sse mesmo Conde da Cunha, primeiro vice-rei do Brasil, no Rio de Janeiro, quando dele manda novas e informes metrpole. Estamos a ver, daqui, assim posto, por esse dia de regozijo e popular festana, a figura austera do desembargador Castelo Branco, trinviro, por exemplo, com o seu arcaico calo de presilha e meias escarlates dos tempos da adolescncia do Sr. Marqus de Pombal, caraa afogueada surgindo de uma ramalhuda gravata de rendas da Inglate rra, muito ancho, muito fora da moda, a pensar na gravidade do seu posto; e mais o presidente do Senado da Cmara, com o tricrnio vermelho de bacia, do comeo do scul o, a emoldurar-lhe a cabeleira de mustachos; o Sr. Juiz conservador da Moeda, pi sando mal, por ter os artelhos plebeus arrancados s comodidades da alpercata e me tidos numa sapatranca de pestana, ainda dos tempos do Rei Sol lisboeta; o Sr. Pr ocurador da Coroa, enleado numa vasta casaca busca-joelhos, com mais rugas que a face boa e comovida de D. Antnio do Desterro, o bispo triste, beatfico, mumificad o no seu traje de cerimnia, pela caseira posto num brinco e a ferro, para a recepo de S. Exa. Elegncia, a bem dizer, e modas, nunca as tivemos na poca da colnia, nem t-las poderam os. Vulgares, simples e rudes, fomos, mas no ridculos. Felizmente. E o seramos, a valer, se, na qualidade de mendigos de uma civilizao que fulgia, for a, das horrendas gaiolas de pau ou de urupema, que foram a miservel e melanclica habitao colonial desta cidade, fizssemos sair bandarras e casquilhos, scias e per altas para passe-los em cadeirinhas pintadas de ouro ou de laca pelas alfurjas m alcheirosas, onde se agitava a aristocracia citada pelo Conde da Cunha, e onde s e agachavam os negros escravos vindos de Moambique e Benguela. A moda das cabeleiras postias Quando nasceram Cabeleiras que pesavam oito quilos O singular adorno sob o ponto de vista higinico Exageros da moda Mrtires da elegnci a As cabeleiras postias e o seu pouco uso no Brasil Lojas de cabeleireiros nos te mpos de Lus de Vasconcelos Como se penteava e empoava uma cabeleira O Evaristo e a sua loja. ILUSTRAES NO TEXTO Como se empoava uma cabeleira Cabeleira feminina pelo meado do sculo XVI II Cabeleira feminina pelo comeo do sculo XIX. Desenho de Henrique Cavaleiro Cabel eira de duas tranas, cabeleira de bolsa, cabeleira a Catongan, cabeleira a brigad eiro, cabeleira de ns, cabeleira sol nascente, cabeleira de frade ou padre, N. N. FORA DO TEXTO Lagoa do Boqueiro (Museu Histrico). Cabeleiras Amoda das cabeleiras postias apontou em Portugal pelo meado do sculo XVII, com a r
estaurao, floriu pela poca do Marqus de Pombal, para morrer muitos anos depois de es quecidas em Frana, no comeo da passada centria. Viveram elas, assim, quase duzentos anos. Duraram muito. Duraram demais. Usaram-nas jovens orgulhos de possuir ainda bons cabelos, por vaidade; velhos al opticos, por convenincia; crianas, soldados e at padres, estes ltimos mostrando nos seus espaventosos artifcios capilares, em recorte, o disco por onde devia ressalt ar, em solene evidncia, o raspado denunciador da tonsura eclesistica. Eram tais perucas feitas com cabelos humanos, crina animal, seda ou arame; estas ltimas, graas perpetuidade da matria, podendo ser at transmitidas de av a neto, como herana de famlia. As femininas foram particularmente complicadas e volumosas nas suas armaes de ferr o, cujos ressaltos a massa capilar, envolvia e ocultava. Durante certa poca, de t al sorte cresceram elas que uma senhora com dificuldade podia entrar ou sair de um coche, de um bang ou de uma cadeirinha. E o peso? Alfred Franklin fala-nos de cabeleiras, em Frana, que chegaram a pesar oito quilos! A cousa mais pesada que uma mulher trazia cabea, depois da idia de ca sar. Nicolau Tolentino, que bem conheceu to estrdias e volumosas cabeleiras, delas nos fala em um soneto magistral: Chaves na mo, melena desgrenhada, Batendo o p na casa, a me ordena Que o furtado co lcho fofo e de pena, A filha o ponha ali, ou a criada: A filha, moa esbelta e aperaltada, Lhe diz co a doce voz, que o ar serena: Sumiu-se lhe um colcho? forte pena. Olhe, no fique a casa arruinada... Tu respondes assim? Tu zombas disto? Tu cuidas que por ter pai embarcado, J a me no tem mos? E dizendo isto, Arremete-lhe cara e ao penteado, Eis seno quando (caso nunca visto)! Sai-lhe o colcho de dentro do toucado... O pior que sob o ponto de vista higinico deixavam elas muito a desejar. Eram inte riormente forradas por uma pelica forte, espessa, que vestia completamente a ca bea, impedindo a natural respirao do couro cabeludo. Complemento do vesturio, as perucas foram usadas em cachos, em caracis, em anis ou ondas, atiradas negligentemente para trs, entranadas em rabicho, chicote ou bolsa, de bordo alto, de bordo baixo, frisadas, riadas, onduladas em berbiges, em mostac hos, conforme mandava o figurino ditatorial de Paris, mudado de ano a ano. Atestando as propores, a que inobedientemente e escandalosamente cresceram, citemo s, entre as femininas, os nomes pelos quais foram conhecidas muitas delas: Carro triunfal, uma; outra, Gndola. Havia as que se chamavam Moinho de Vento, Montanha do Japo, Parque Ingls e Matre d'Hotel... No atingiu, nesse tempo, o artifcio, apenas o recorde de altitude, porm o da mais d eslavada extravagncia de composio. Nesses penteados exticos, e, por vezes, ultracmicos, penduravam-se pequenas utili dades domsticas como espelhos, tesouras, caixetas de xaro, colheres, de envolta co m fitas, plumas, frutas e at legumes. As senhoras de Paris apareceram mostrando cabea, certa vez, a famosa fragata Be lle Poule de sbria tonelagem, na verdade, mas feita de madeira e metal, com todos os seus esmiuamentos nuticos e at eriada de mastros e canhes, navegando nas ondas re voltas e complicadas dos oceanos capilares. No dizem as crnicas do tempo (inclusive as de Paul Lacroix, onde buscamos esta not a) se salvava plvora seca essa minscula nau de guerra, coroando o penteado das se nhoras. Que ningum se espante, entretanto, da possibilidade da extravagncia; o scul o foi de absurdos maiores. Depois de encaixadas, eram as cabeleiras fixadas com presilhas, quando no o eram com nauseabundssimas colas de peixe, ou outra matria aglutinante. As cefalalgias, que foram a angstia do sculo, no tinham quase que outra origem. Pense-se um pouco no que seriam, na verdade, tais abbadas candentes quando fechad
as, e no custico que as mesmas representavam para a pobre cabea humana em um clima impiedosamente quente como o nosso; pense-se mais no que seriam as colas, que d eliqesciam interiormente misturadas ao suor, vasando pelos intertcios, misturandose com as banhas e as pomadas ranosas, servindo para segurar o p que as embranquec ia, isso por uma poca em que os hbitos de limpeza no eram l muito da usana de gente rica. Foram, alm disso, nichos de imundcie e de vermes os mais repugnantes, mesmo, a ins pirar inseticidas. Ofendiam ao mais generoso dos olfatos. Cheiravam mal. Mergulhadas que vivessem e m gua-de-crboba ou outros perfumes violentos, sentiam-se longe. Num manuscrito do tempo, lemos que elas cheiravam a jaula de leo. No Brasil, o uso das perucas, tanto as masculinas como as femininas, foi insign ificante. Necessariamente usaram-nas alguns notveis da cidade e suas mulheres; al guns, no todos. Os viajantes, que aqui passaram pela poca, foram unnimes em afirmar que os nossos avs, em geral, andavam higienicamente de cabeleiras naturais, acr escentando (o que convm saber): muito limpas, muito cuidadas. Repelamos, assim pos to, o artifcio anti-higinico da moda europia. E repelamos, saiba-se, menos pelo preo elevadssimo a que elas, entre ns, atingiam, qua ndo vindas de Frana, com escalas por Lisboa, que pelo instinto natural de asseio, em boa hora herdado do av ndio. Durante o governo de D. Lus de Vasconcelos, tnhamos na cidade 29 lojas de cabeleir eiros, quantidade reduzida, como se v, provando, de tal sorte, a negligncia natura l do indgena por essa vaidade da moda. Foi, no entanto, a poca dos vice-reis a poca do esplendor da cabeleira postia no mu ndo inteiro. Ao tormento de suportar sobre a cabea esse estapafrdio edifcio de cabelos e seus d isparatados atavios, s se podia comparar o suplcio do polvilhamento pela poca em q ue a cabeleira tinha que ser rigorosamente branca. Que ela, antes de ser branca, foi ruiva, loira e preta. Por curiosidade, paremos a nossa serpentina porta do Evaristo, que cabeleireiro, Rua da Cadeia, e que, segundo se sabe, faz penteados e polvilha moda de Paris, tendo na gaveta de sua mesa de jacarand, em estilo Rainha Ana, a Encyclopedie pe rruquire, de Marchand, e na cabea, bem decoradinhos, os ensinamentos de Leonard e de Legros. Olhem quem vai entrando descuidado para abonitar a trunfa, que se arrepia desgre nhada sob a seda custosa do trs-bicos... o Sr. Provedor-mor da Cmara dos Defuntos e Ausentes. Para receb-lo, vem o Evaristo, e vm os aprendizes, a mo ao peito, o p atrs, danando co rtesias. um dos grandes cabeleireiros da voga esse pardavasco, que se gaba de h aver penteado o Sr. Marqus do Lavradio. Sobre a cabeleira de crina em lao a canton gan, mostra ele o pente indispensvel indumentria do ofcio. Veste de seda. Traz five las de prata nos sapatos. P? indaga melfluo ao homem, que entra austero, e que nem se descobre ao buscar a ni ca cadeira que se v diante de um espelho de caixa, no recinto acanhado da lojeta. O Sr. Provedor-mor da Cmara dos Defuntos e Ausentes quer p e quer tambm pente, tudo , porm, com calma e muita arte. O Sr. provedor j se sentou. Um aprendiz, ao lado e squerdo, j lhe arrebatou da cabea o trs-bicos, e outro, o bengalo encastoado de ouro e com biqueira de ferro. Durante quarenta minutos, Evaristo apura-se, desveladamente, no preparo da coifa . Com os mais complicados instrumentos que possui, ora alisa, ora encrespa, ora recheia, ora frisa, domando a juba inslita que ganha, por fim, certo aspecto, graa , elegncia e feitio. Dura quase uma hora esse manejo. O penteado est pronto. Os aprendizes j recolheram , em silncio, a ferragem do ofcio. Evaristo j espetou ao olho clido a luneta fatal, que lhe vai dizer se o penteado de truz. Podia assin-lo, Senhoria, afirma ele, sorrindo, ao Provedor. Mestre Valentim no fa z um chafariz com maior arte. Repare no sentimento de certas linhas que dizem, a lm de graa, austeridade e respeito... austeridade, sobretudo. Um penteado de desem
bargador, igual ao que fiz ao Sr. Juiz dos Degredados quando foi do Te-Deum do C armo. Criao deste seu servo... A cabeleira, entanto, reclama o principal, reclama p. Isso, porm, em lugar prprio e distinto; no na saleta do servio vulgar, como se ver... O cliente ganha, ento, um c orredor estreito, que vai cair numa alcova pequena, que um candeeiro de azeite a bruxulear alumia. J a sua casaca cor de pinho e a vstia amarela gema de ovo, bordada de seda, ficaram fora, no stio onde pararam a bengala e o trs-bicos. Marcando o lugar do servio, h, ao centro do quartide, uma cadeira forrada de belbut e. Nela, o Provedor se instala e recebe das mos dos ajudantes solcitos, em vrios cvados de pano branco, uma espcie de robe de chambre, que logo o envolve, que logo o en farda e o aperta, da linha do pescoo ao bico dos sapatos. O Sr. Provedor-Mor da Cmara dos Defuntos e Ausentes, sobre a cadeira, assim hirto , assim triste, e assim entrouxado, menos um homem que uma mmia. Nessa atitude pi toresca recebe ele, por ltimo, uma mscara de papelo, sem olhos e armada de vastssimo beque, para resguardar as narinas por ocasio do sarilho de poeira. A figura humana ganha um desenho ultracmico, com a sua extica protuberncia em forma de funil. E assim comea o trabalho do empovilhamento. J se fechou, para isso, a porta da alcova e o candeeiro de azeite j recebeu o seu capucho de defesa. Esto sobre uma tripea os psperfumados vindos de Frana, enchendo u ma escudela de loua.
preciso agora ver Evaristo, que trocou a sua casaca vistosa por um balandrau de linho branco, moda de Paris, para comear a inferneira do p. Mergulhando na escudela uma larga bola de cnhamo, ergue-a, sacudindo no ar, num g esto de preconcebida elegncia, a poeira desejada. As camadas do polvilho sutil, porm, quando despedidas, no vo, como se pode pensar, diretas cabea que tranqila esper a, seno ao teto, para bem alto, o mais alto possvel, em nuvem complicada. Enquanto a nuvem se forma, o aprendiz, armado de um fole curto, atua-o sobre a m esma, adelgaando-a, fendendo-a, fazendo-a subir de novo, enquanto os gros mais pes ados se precipitam fora do crculo de operaes. O necessrio que s fique no espao a poe ra muito fina, finssima, a que o artista convencido chama na sua pernstica palrice o p do p. Nessa operao seleciona-se o gro pesado do gro pluma, formando este ltimo a poeira que mal o olho atilado percebe, poeira quase invisvel e que comea a esvoaar em descida sobre a cabea, que a recebe logo que cessa o pulmo do fole de soprar. E assim cai ndo tenussima e aderindo ao leo do cabelo, faz-lhe o tom de marfim esbranquiado, qu e mais impresso nos d da brancura natural que a da procurada por qualquer artifcio. Apenas quantas vezes se faz mister procurar a nuvem vaporosa, que na descida pi nta melhor que tudo? Sabe-se l! E a tortura do paciente toda ela, nasce desse tem po infinito, que perde, da fadiga natural da sua posio obrigada, sem falar no incmo do de todo aquele ambiente que o asfixia, malgrado a mscara de papelo e o nariz em funil. Duram, por vezes, tais operaes, mais de uma hora. Evaristo no levou tanto t empo, porm est fatigado, e o aprendiz traz os pulmes mais secos do que o fole. Enfi m, desentrouxa-se o Provedor que, como uma dama em passo de minuete, levado pela mo do artista salinha da loja. Ali recebe o retoque final. Vem uma escova pequen a e macia para o p do rosto, outra mais fina para as sobrancelhas, o bistre para os olhos, o carmim para o rosado das faces e para a sade da beiola farta. No esquec er os trs sinais de tafet um sobre a asa do nariz, outro ao cantinho da boca e o lt imo ao centro da testa, dizendo este autoridade e respeito... E, pronto, o Sr. P rovedor-Mor, rosado e fresco, primaveril e abonifrado, pode ir aos seus Defuntos e aos seus Ausentes.
Como entraram em Portugal as modas de Frana Isabel de Nemours e a curiosa histria de um p Moda feminina no meado do sculo XVIII Saias a balo Mantilhas e mantus A e cia no fim da poca dos vice-reis Cidade de mascarados. Moda Feminina Foi Isabel de Nemours quem trouxe corte portuguesa a magnificncia das modas de Fr ana, desmoronando, de tal sorte, a influncia espanhola, que se fazia sentir no tra je portugus. O que isso, porm, custou de lgrimas princezinha amvel que se fizera, sem saber, emb aixatriz do bom gosto francs junto ptria adotiva! Portugal, conservador e hostil s inovaes violentas, com uma sociedade, alm disso, e ivada de estranhos preconceitos, inclusive aquele altamente humorstico que proib ia, s senhoras, mostrar o p, at aos mais ntimos, no podia deixar de ver, sem um gesto de irritao e m vontade, o novo que se lhe afigurava estapafrdio, o inesperado que lhe aparecia como criao de exticos, ou loucos. Certa vez, Isabel, negligente, vai descer do seu coche vistoso. Abre-se a porti nhola. Cercam-na curiosos, vrios nobres da corte. De tal sorte, porm, ela ao resva lar do persevo da carruagem para o estribo, ergue o merinaque vivaz e sem cuidad o, que mostra, no s a biqueira inocente do sapatinho Cendrillon, mas, ainda imagin e-se o escndalo todo o arqueado brejeiro do p curto e gentil, at ao contorno pertur bador do tornozelo. Pode-se, facilmente, pensar na gravidade da ocorrncia. Lisboa inteira indignou-se. Lisboa inteira fremiu, agastada e feroz. Audcia! Vir a-se j impudiccia igual? Mostrar o p! E logo quem havia de mostr-lo? A senhora rain ha, que deveria ser a mais legtima representante do pudor feminino em Portugal! E nem ao menos se podia dizer que o exibido fora apenas a curva de um salto fugac e, ou o bico imprevidente e irrequieto do calado, rompendo a polheira de tela, su rgindo no estribo dourado do coche. Nada disso. Isabel de Nemours, luz meridiana , talvez despudoradamente, premeditadamente, havia mostrado, a Lisboa em peso, por malcia soez, a parte mais recatada do corpo de uma mulher o p, e por inteiro, num gesto sem pejo, gesto de barreg, dessas que iam pelas noites sem lua com os marujos da Ribeira das Naus, bbedos de luxria e de vinho, danar s hortas... Que de to graves acontecimentos diria o Sr. Patriarca de Lisboa? Indagava-se em surdina. O interessante, porm, que esse protesto, e toda essa grita de indignao e pavor, qu e quase chega aos ouvidos do Rei e o obriga a meter numa nau do Estado, em viage m de retorno, Isabel, a indesejada, era feito por senhoras, que se decotavam at quase aos joelhos, sem pensar que mais recato merece, muitas vezes, a curva rsea de um seio breve que a inocente forma gentil de um sapato de couro. tempo! costumes! Lisboa, porm, acabou por calmar-se e aquiesceu, qui sorrindo dos seus pudicos e exa gerados preconceitos. E o p feminino, da espessa clausura em que vivia, apagado e infeliz, sentindo que de escabroso passava a inocente, cheio de saudades da luz, tratou, logo, de ir rompendo a cortina da saia, em busca do seu lugarzinho ao sol. E os vestidos encurtaram-se, acabando com to risvel preconceito. Que moda o povo sempre se acomoda. A mesma tirana que Se o louco a introduz, O sbio a conduz... Desde ento instalaram-se as elegncias femininas de Frana em Portugal. E, de tal sor te, que, quando as damas no vestiam francesa, espoucavam, nos sales, os sorrisos d e mofa, e vinha, logo, por zombaria, a frase sarcstica do tempo deixada no ar pel os que vestiam de redingote. Veste de redondo... que era como quem dissesse: que mal ajambrada que ela est! Vamos encontrar na sociedade brasileira do Rio de Janeiro, pelo tempo dos vice-r
eis, um nmero insignificantssimo de mulheres capazes de vestir com certo apuro e d istino. Pouco de redingote, portanto, e muito de redondo. Fora das que compunham a fidalguia, que aqui vinha dourar o braso, com certos hbit os de luxo, citemos as esposas, ou as filhas dos maiorais da tropa, em nmero, alis , reduzidssimo, as senhoras dos altos funcionrios da administrao e da justia, que no eram muitas, e mais meia dzia de burguesas do comrcio... Como vestiam, porm, essas senhoras? Ao que se diz, vestiam-se moda de Frana, pois que, pela nau de Lisboa, c vinham te r as bonecas enroupadas em Paris e que substituam, no tempo, os figurinos impress os de hoje. Viriam de fato? No se pode negar que, pelos dias de lausperene e de Te-Deum, como pelos das rarssi mas festas de cavalhadas, ou espetculos de gala, nas infectas ruas desta cidade, viu-se, muita vez, passar em cadeirinha de couro, em panejadas serpentinas, e at em coches de aparato, o balo da centria, o penteado marrafa, ou o sapatinho de sal to de perdiz. O principal ser, entanto, observar, no s o que eram esses arremedos de uma elegncia, que aqui nos chegava em terceira mo, mas, ainda, o nmero dos que nela se pavoneav am. Lembremos, para comear, que as mulheres coloniais poucas vezes saam. missa iam ela s, raramente, recatadamente, embrulhadas nas suas mantilhas de bioco, pelo lusco -fusco da madrugada. Quando iam.
Visitas de cerimnia? Coitadas! As famosas assemblias obrigadas a fara e modinha, j n o fim do sculo, eram de absoluta intimidade, verdadeiros seres de famlia. E rarssima s. Contrariando os pruridos da vaidade de mulher, o que muito importante, necessrio levar em conta a terrvel pragmtica de 1749, e as suas proibies, impedindo o uso no s d as sedas de qualidade, mas ainda de qualquer ornato ou enfeite: telas, brocados, galancins, passamanes, franjas, cordes, espeguilhas, debruns, borlas, etc. A prpria distncia, que nos separava do Reino, no era de natureza a animar a vaidade dos que desejassem andar no chifre da moda, como se dizia ento. At porque Portuga l no tinha muito, no gnero, para nos mandar. No tinha. Murphy, que esteve em Lisboa , e isso pelos fins do sculo XVIII, afirma que l viu poucas modistas e perfumistas , bem como lojas que vendessem artigos de fantasia. preciso ainda nos lembrarmos de que os navios de qualquer nao, inclusive os da Inglaterra, velha aliada de Por tugal, no podiam, ainda, vir ao Brasil, trancados, como estvamos, ao contato com o resto do mundo civilizado. O que no se descarregasse pela nau do Reino, no se des carregaria mais de parte alguma. Assim foi, pelo menos at os tempos do ltimo vicerei do Brasil no Rio de Janeiro, o Sr. Conde dos Arcos. Depois da moda do vertugadim, que floriu durante o sculo XVII, apareceu, no comeo do XVIII, o balo, a robe pannier dos franceses, e que tambm se chamou donaire ou m erinaque. Eram saias montadas em vastssimas armaes de arame tranado, ou de barbatana s de baleia, que roavam o solo, e de onde as mulheres deslizavam, como que movida s por um sopro invisvel. Um homem de bom gosto poderia delas dizer, pelo menos, que, na sua preconcebida inteno, a forma metlica servia para esticar e pr em relevo a beleza, ou a qualidade do tecido do vesturio, ressaltando, ainda, a doura dos seus desenhos, que foram mu itssimo cuidados, pela poca. Constitua, alm disso, esse gracioso crculo de ferro uma espcie de proteo amvel ao corpo da mulher, apenas indicado na parte superior do bus to, j pela justeza dos corpetes, j pela indiscreta e escandalosa abertura dos deco tes. No tempo dos vice-reis vamos encontrar, entre ns, entretanto, esse balo, discretam ente diminudo, sem aquelas propores que davam roda da saia feminina quase o tamanho da arena de um circo de cavalinhos. Apenas, o que se diminura na saia aumentara-se no decote, que, de tanto aumentar, chegou at, mais tarde, a provocar aquele manejo extravagante de dependurar jias aos bicos rseos dos seios... E, de tal sorte eram eles vastos, os decotes e insol
entemente dispostos a descobrir o busto das mulheres, que Frei Joo de So Jos Queirs, bispo do Gro-Par (conta-se), certa vez, em Lisboa, sendo recebido no pao pela rain ha D. Maria Vitria, insolitamente lhe atirou sobre o seu peito nu um leno como se fosse um broquel de virtude, a murmurar palavras do Senhor. Que do exagero das interpretaes sempre viveram as modas. Laura Junot, falando do vesturio das damas do pao de Lisboa, diz que ele era a mais estranha mascarada que se pode imaginar. E o descreve. Pois essa mesmssima mascarada, que, no fundo, se explica por uma pletrica e mal di gerida cpia da moda de Paris, tambm houve por c. E muito mais mascarada que em Lisb oa, pode-se bem acreditar. Aqui temos, por exemplo, a mulher do Juiz das Justificaes da ndia e Mina, estarrece ndo a patulia do adro da igreja da Cruz, a descer, muito eres, da sua serpentina de jacarand e belbute. Olhai-lhe a cabea, onde se amarra um penacho amarelo gema d e ovo, alto como um coqueiro. A polheira de seda verde periquito, e o guarda-p ti rando a vermelho-daChina. uma arara perfeita! O povo, porm, abre alas elegncia colonial: De um bom gosto! Sob essa vasta saia rodada que os franceses, depois, lanaram, no sculo XIX, sob a denominao de crenoline, a mulher vestia uma camisa, que podia ser bordada, desde q ue os bordados viessem do reino, um espartilho, uns cales, que, nos tempos mais fr ios, eram de veludo, a armao de arame e sobre ela a polheira e o guarda-p. As fazen das usadas no tempo, entre ns, quando no se tratava das sedas de pouco preo, estabe lecido obrigatoriamente pela pragmtica de 1749, eram o briche, tecido de l muito grosso, a saragoa, tambm de l, porm mais fina, o sarabeque, o crespo e a chita, esta ltima entre as fazendas, a mais em voga no pas. Esses os chamados panos da terra. Da terra de l, claro, que a terra de c no os podia fabricar, em virtude do famoso alvar de D. Maria I, que mandara destruir os teares do Brasil e, com eles, a indst ria brasileira, que nascia. No nosso pas, pelo mesmo edital, s se admitiam teares para a indstria das fazendas grossas de algodo das que serviam para uso e vesturio dos negros ou para enfardar fazendas. Nada mais. Na intimidade, a mulher carioca usava o lava-peixe, espcie de robe de chambre, qu ase sempre de mangas curtas, no raro aberto, mostrando a camiseta que se chamou hn gara. Quando usava... Porque o calor patrcio era um simplificador da indumentria c arioca. As casas coloniais abafavam, e sinh-dona, para no morrer diluda em suor, co meava por diminuir os panos com que se cobria. Por vezes, segundo relato de estra ngeiros que nos visitaram, diminua-os at demais... Para a rua, mantilhas de rendas ou mantilhas de pano, mantos, capas, aqueles em geral simples cvados, em quadro, de qualquer fazenda grossa. Havia ainda os famos os josezinhos vermelhos, de gola e capuz. No se encontram referncias a chapu femin ino e colonial, a que parece, de uso to precrio que no chegou a impressionar. Com a revoluo francesa, extinguiu-se o balo. Os vestidos murcharam em panejamentos voluptuosos sobre o corpo, panejamentos esses que foram diminuindo e, de tal so rte, colando ao corpo das mulheres, que elas, por fim, andavam quase nuas. No obs tante, menos devido ao esprito conservador do portugus, que natural preveno pelas co isas vindas do revolucionado Paris, essa nova moda no foi, tanto aqui, como em P ortugal, bem-vista e assimilada imediatamente. Pelo Governo do Conde dos Arcos, porm, a moda entre ns j lembrava um tanto os figur inos dos ltimos anos do sculo, em Frana. A cintura imprio comeou a usar-se, e foi com ela francamente sob os seios, que a carioca acompanhou a procisso que levou o Prn cipe Regente Nosso Senhor, no dia 7 de maro de 1808, do Largo do Carmo igreja de Nossa Senhora do Rosrio. preciso que se diga, porm, que toda essa ajanotada indumentria, ainda por essa poca , raro via a luz do sol, escondida, como vivia, sob as dobras de vastssima mantil ha de sarja, ou de renda, que transformava a mais galante das scias num impenetrve l domin. Com ela, pendente pitoresco formava o homem enrolado, sumido, na
saragoa do seu mantu de muitas dobras. Uma verdadeira cidade de mascarados, o Rio colonial dos vice-reis, onde os vultos misteriosos deslizavam, e onde, apenas, o s olhos curiosos, por entre a frincha precria formada pela fazenda dos mantos e m antilhas em pregas, moviam-se inquietos, iluminados, como que a indagar da sombr a discreta os seus biocos: Voc me conhece? Onde fomos beber as nossas primeiras regras de civilidade O livro de Porta Sique ira Uma histria pitoresca contada por De La Mensagre O despertar do carioca O uso do banho perante a Igreja Indiscries de Rose de Freycinet Uma histria onde entra o Sr. D. Joo VI Comentrios de Koster sobre o asseio natural dos brasileiros. Cortesias e Obrigaes I Foi na escola de bons costumes de Salle e de Blancard que, pelo sculo XVIII, fomo s buscar as regras que formaram a nossa primeira gramtica de civilidade. Tinha que vir de Frana a liozinha de cortesia, amvel e com pretenses a desbastar a cr osta, assaz grossa, das nossas rudes maneiras, bem como veio a cabeleira de most achos, a casaca de rio cor de pensamento e a gravata de garrote. A fonte, porm, onde amos beber, em vernculo, a regra necessria para guiar toda a nos sa incipiente e mal-engraada urbanidade, era a Escola da Poltica, ou o Tratado Prti co da Civilidade Portuguesa, de Joo de Nossa Senhora da Porta Siqueira, bblia de altas cortesias e elegncias, da qual possumos um exemplar em segunda edio, datada de 1786. Quer isso dizer que os nossos queridos avs, antes de tal poca, j se achavam capazes de honrar com elegncia e cortesia, por este spero rinco da Amrica, aquele ncl eo social imprspero e mofino, que, se como sociedade foi um tanto precrio, no deixa va de ser, contudo, o mais brilhante e o mais civilizado de todo o Brasil coloni al no sculo XVIII. A lente do tempo, posta, hoje, sobre a solicitude dessa mesma Escola, como sobre as sentenas dessa mesma Poltica, tem a propriedade de tornar a obra, embora de um pitoresco encantador, um tanto risvel. To-somente por isso vale a pena abrir-se o singular livrinho. No captulo I da Comp osio do Corpo, na rubrica nariz, j pelo tempo representando a beleza e a dignidade do rosto, encontramos, por exemplo, o seguinte: No se o est encrespando que sinal de escrnio ou noj o, nem pegando, nem limpando com os dedos, que grossaria. Nunca se est soprando com ele ou sorvendo para cima. Assoa-se ao leno, mas sem fazer estrondo, como tr ombeta. Aviso assisado ao qual se acresceria mais este: E que se no olhe ainda, nem se considere o que em virtude desse esforo sair no leno, que marcada impru dncia. Embora nos parea impossvel, registre-se, a propsito, o que De La Mensagre nos conta em 1797, quanto a esse trombetear que fazia do nariz, pelo sculo XVIII, um instru mento canoro, muito principalmente quando os seus possuidores eram ainda capazes de, no domnio da solfa, torn-lo to melodioso como a harpa de Davi. Diz De La Mensagre: faz-se uma verdadeira arte de se assoar, anos atrs. Imitava-se com o nariz o som da trombeta ou do miado de um gato. O ponto da perfeio era no fazer nem muito barulho, nem pouco. E j que falamos em nariz musical, de qualquer forma imprevisto, convm no esquecer e sta notinha curiosa, que se encontra na Vie prive, de Alfred de Franklin, a propsi to dos tempos de Hanterisse de l'Aubespine, e onde entra nariz. Recebendo ele, certa vez, Turenne e o marqus de Ruvigny, no meio de uma refeio, ten do necessidade de se assoar, espremeu, com o dedo, uma das narinas, de sorte que o contedo da outra, pa rtindo como uma flecha, foi achatar-se contra a chamin, fazendo tanto barulho com o um tiro de pistola. Funcionando ou no como instrumento de msica ou arma de guerra, o que no padece a me nor dvida que durante o tempo dos vice-reis, para uma multido que variou entre 30 e 45 mil narizes, nesta mui leal e herica cidade de So Sebastio do Rio de Janeiro, bem poucos foram os que souberam guardar o decoro e a etiqueta, que Porta Siquei
ra reclamava para o beque, que quisesse colocar-se ao nvel da maior elegncia ou da maior distino. Era, assim posto, naturalssimo que o carioca ignorante, desconhecendo o exato pro tocolo nasal, embora com pretenses a afetar maneiras polidas, para salvar-se da a pertura, tivesse que olhar para o nariz dos notveis da urbs, antes de dar movimen to ao seu, de tal sorte pondo em gracioso ressalto as protuberncias rinoplsticas d e grados como o Sr. vice-rei, o Sr. Chanceler, da Relao, isso para no citar outros s enhores. Vejamos, porm, o que pela poca foi de bom-tom ou de mau tom, tendo sempre em mente a bblia de cortesias de Porta Siqueira. Quando por aquelas srdidas alcovas da horrvel casa colonial o homem acordava, para , pelos degraus da sua cama poleiro, ainda de barrete em forma de funil cabea, de scer numa precria e desmantelada toalete, antes de mais nada, fazia o sinal-da-cr uz, para dar um claro testemunho da sua profisso e para aterrar os inimigos in visveis. Depois de pr-se em harmonia com a conscincia e com o cu, passava ele um roupo de fla nela ou linho, quando no enfiava logo os cales de cordel, mas guardando a camisa, q ue era, quase sempre, tanto de dormir como de sair. A torre da igreja mais prxima anunciava, ento, seis horas da manh. J na tbua nua da m esa da estreita casa de jantar, empenachada de fumo e cheirando a hortel, fumegav a a tigela de caldo do primeiro almoo. Que o caf s pelos fins do sculo, como hbito, n os chegou. Aquele que tivesse do asseio uma compreenso mais ntida, antes dessa primeira refeio, passava pelo rosto um pedacinho de pano qualquer embebido em aguardente ou de c heiro. E se era um holands em matria de limpeza, levava o pedacinho de pano s orelh as, que as cabeleiras tapavam, e que, por isso mesmo, sempre foram verdadeiros n ichos da mais nojenta porcaria. Assim faziam os muito asseados e elegantes no sculo XVIII. No era de outra forma que lavava o real semblante aquele famoso monarca francs que a Europa conheceu sob o nome de Roi Soleil. Era, com ef eito, assim que Lus XIV fazia a sua primeira toalete da manh: Le premier valet de chambre tenant de la main droite un flacon d'espril de vin en verse sur les mains de Sa Magest, sous lesquelles il tient une assiste... E os frades? Esses, no tomavam banho seno duas vezes por ano: pela Pscoa e pelo Nat al, obedecendo a So Benedito que ensinou: permitir-se-iam banhos aos doentes, to das as vezes que se julgar necessrio, mas, para aqueles que esto de boa sade, sob retudo se eles so jovens, tais banhos no lhes devem ser concedidos seno muito rar amente. Frei Ricardo do Pilar, pai da pintura brasileira, o Frei Anglico patrcio, aquele a sceta que pintou o Salvador da Sacristia de So Bento, e, dizem, era um santo, no a rrancou, durante muitos anos, da piedosssima pele que, alm de casta, foi, certamen te, malcheirosa, a roupeta com que foi enterrado e que no tmulo apodreceu, com ce rteza, muito antes que a sua prpria carne. Tomar banho, para a Igreja, saiba-se, j foi um pecadilho, concupiscncia... Est, na verdade, no Dicionrio de Cincias Eclesisticas, publicado em 1760 este pedacinho notv el: O uso do banho permitido, contando que no se tome por volpia. Quer isso dizer que para o crente da poca o prazer do banho valia, muita vez, por um ingressinho s chamas do Purgatrio. Rose de Freycinet, escritora francesa que nos visitou, e, isso, quando j se senta va no trono do Brasil-Reino aquele suavssimo monarca que se chamou D. Joo VI, fala ndo do desasseio do Rio, afirma que ele atingia ao auge chez les nobles... E a propsito cita o que melhor ser traduzir, amenizando, de tal sorte, um pouco, o rig or da crua descrio: Uma dama nobre que acabava de tomar uma criada de quarto francesa, quase a ps for a de casa s porque esta lhe oferecia um vaso cheio de gua para lavar as mos. Em cl era, disse-lhe a mesma dama que uma pessoa de sua qualidade no tinha nunca neces sidade de lavar as mos, atendendo a que nada de sujo tocava; e que isso de lava r era bom para os criados e povo.
Sem penetrar no exagero que possa existir em to louca e inesperada afirmao, somos, entretanto, inclinados a tomar como verdadeira a parte em que ela se refere, dep ois, insistindo no assunto, a une des personnes les plus puissantes du royaume, e que outra no seno o prprio Sr. D. Joo. Conta Rose de Freycinet, indiscretamente, que, dando-lhe sobrevindo uma ferida n a perna, fez ele se rodear de muitos mdicos, sem por isso, entretanto, tirar o me nor resultado. Da mandar chamar um eclesistico francs conhecedor de cousas de medic ina, e que se achava de passagem pelo Rio. Teve o homem grande trabalho em convencer o doente a lavar a perna, parecendo a todos o remdio um tanto extraordinrio. Lavou-se a perna ao prncipe e dentro em pouc o, com a ajuda de um remdio vulgar, a ferida fechou. Ei-la, porm, dias depois, rea parecida, tenaz. que haviam cessado de lavar a perna... (Journal de Madame Rose de Soulces de Freycinet, pg. 17.) Certo escritor portugus, tomando em conta as discrdias que sempre separavam D. Joo de sua mulher D. Carlota Joaquina, afirma com muito esprito que, se eles, a propsi to de todas as cousas se desavinham, momentos havia, na vida, em que se mostrava m absolutamente unidos e solidrios, tanto na maneira de ver como na de pensar pel a hora do banho... Os banhos, pela poca, no Brasil, que de qualquer maneira no podiam ser bianuais, c omo os de So Benedito, dentro das casas, eram tomados em bacias de pau. Um negro colocava-as na alcova do banhista, e, outros, portadores de grandes baldes d'gua, a s enchiam. At Pedro I, era a banheira de muita gente boa. Koster, comentando os hbitos de asseio do nosso baixo povo, depois de afirmar que o homem nascido no Brasil notadamente cuidadoso com a limpeza do seu corpo, de tal sorte denunciando os velhos hbitos do ndio, acrescenta: um dos maiores aborre cimentos que pode sentir o brasileiro ver-se distanciado do rio ou mar onde poss a ir banhar-se. Que diz Tonelare, falando, por exemplo, do asseio que encontrou nas populaes caboc las do Norte? Em geral uma qualidade dos Brasileiros, os quais, at os muito po bres, nunca deixam as suas casas sujas, e, se possuem duas camisas, a do corpo est sempre limpa. Ainda a toalete ntima do av carioca no sculo XVIII Por um tempo em que no se conheci a a escova de dentes Obrigaes de um bom catlico O dia do carioca at a hora de deitar O bom-tom nas igrejas Saudaes protocolares Tratamentos Maneiras de cumprimentar eunies em famlia.
Cortesias e Obrigaes II Acompanhemos, porm, a toalete ntima do av carioca no sculo XVIII, que j deu por lavad a a caraa, que se reflete estremunhada num pequeno espelho de Veneza posto em mol dura ao gosto rococ. Aps a abluo rpida, vm as razes para a limpeza dos dentes, e, logo atrs, um copo d'gua acar para o gargarejo. A nossa etiqueta citadina no impe grandes complicaes de penteado para hora to matinal . Em regra, no Brasil, as cabeleiras postias so raras. Usam-se cabeleiras naturais , o que, at certo ponto, torna mais difcil comp-las, encanud-las, encache-las, dandolhes ainda por cima o empoamento da pragmtica, motivo pelo qual, numa trana rpida, ou num coque improvisado, o gentleman d por findo o penteado. Antes de sair para ir missa, vai ainda ao oratrio. Na rua, por igreja ou capela que passe, uma entra dinha para o minuto devoo, dois dedos de gua benta, um Padre-nossozinho, uma Ave Ma ria e, quando calha, um tero de rosrio ou ainda mais. Quando volta da rua, de novo , oratrio. Loas aos Cus por terem preservado, para bem dos homens em geral e da Ig reja em particular, aquele pecadorzinho elegante e generoso que, se traz em inob servncia os mandamentos da lei de Deus, em troca d pblicas mostras de almas cristianssimas, enchendo de sonoros cruzados a pten a das esmolas, pelas sacristias por onde passa. Quando larga o oratrio, traz um a petite de lobo. Para o pecado da gula h acomodaes com o confessor: por isso desamar rar os cordis do calo e dar comeo obra. Antes de infringir a devota cartilha, entret anto, recita o oremus, que est em todos os livros de civilidade: Senhor, lanai-no
s vossas bnos sobre estes dons e presentes que recebemos de vossa liberalidade. Pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amm. No final da papana, o homem, grvido de vrias bateladas de alimento, o olho terno de piedade e de vinho, de novo invoca aos Cus: Eu vos dou graas, Deus onipotente, po r todos os benefcios, vs que viveis e reinais por todos os sculos dos sculos. Amm. At a hora de enfiar-se sob os lenis, da cama o homem ainda reza, sem descanso, a im portunar a Deus, ora pedindo, ora agradecendo, menos agradecendo que pedindo, e sempre da maneira a mais afetada e pertinaz possvel. Assim mandou, no tempo, a boa educao. Os manuais de civilidade, abrindo como abriam por um captulo dedicado ao culto di vino, determinavam ao elegante catlico maneiras especiais de se portar no templo. O povo glosava: Maneira bonita Para que se veja Na hora da mesa Na hora da igreja. Numa igreja, devia-se entrar com a capa ao brao, nunca vestida. Capa e chapu. Na h ora de molhar o polegar na pia de gua benta, o que queria ser chique enfiava a mo em concha na bacia sagrada e a apresentava pingante s pessoas de considerao que o r odeavam. Que o no fizesse, porm, a estranhos e muito menos a alguma mooila que por ali aparecesse de olhos negros fulgindo sob o crivo de renda da mantilha. As ino bservncias a tais preceitos, por vezes, eram castigadas com cargas de pau... No se devia falar num templo, fazer saudaes, cuspir, diz um mestre de civilidade, q ue acrescenta: nem falo em murmuraes, maus acenos, brincos e outras torpezas que, por si ss, se mostram abominveis. Uma ordem, datada de 1757, proibida porta das igrejas e nos adros, falatrios, nam oros e quaisquer manejos alheios ao lugar ao culto. Ordem v. Em sociedade saudava-se, dizendo: Muitos santos dias, Senhor Chanceler-Mor! Santssimas noites, Sr. Presidente da Mesa da Inspeo. Louvado seja Deus, que to lindas cores lhe d, Sr. Provedor da Cmara dos Defuntos! Para sempre seja louvado, Sr. Tesoureiro-Mor da Fazenda. Beijo com humildade a santssima mo de Vossa Excelncia Reverendssima, Sr. Bispo. Deus abenoe a Vossa Excelncia, Sr. Vice-Rei. Entrem Vossa Merc e o seu Anjo-da-Guarda, Sr. Sargento-mor. Que Deus esteja nessa casa e eu em sua santssima companhia, Sr. Intendente-Geral do Ouro. Tenha Vossa Merc, com a graa do Senhor, alegres dias durante a minha ausncia, Sr. D eo, so os meus gostos. Goze Vossa Senhoria os mesmos, Sr. Ouvidor. Escravo de Vossa Senhoria, Sr. Baro. Negro de Vossa Merc, minha senhora... Importante era a questo dos tratamentos, estabelecida por vrias pragmticas. Por um tratamento errado podia-se ir parar at Costa d'frica. Ao Vice-Rei, dava-se, aqui, excepcionalmente, o tratamento de Excelncia. Tambm era Excelncia o bispo Sua Excelncia Reverendssima... O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis 251 Tinha honras de Senhoria os condes, viscondes e os bares. O burgus, em geral, recebia o tratamento de Vossa Merc, que posteriormente se cor rompeu em Vosmec, Vanssuc e Vanc. Vanc me chamou de feio Eu no sou to feio assim. Foi depois que vanc veio Que pegou f eio ne mim...
As mulheres tinham os tratamentos dos maridos. Os filhos chamavam os pais: Senho r pai, Senhora me. Tambm se dizia: Senhor mano, Senhora mana, Senhor tio, Senhor p adrinho. Vejamos, agora, como se cumprimentava uma pessoa. O hbito de dar a mo foi sempre muito do Brasil; no obstante, o famoso cumprimento d e mergulho era o do tempo. As mulheres faziamno pegando nas partes laterais do v estido, tal qual como se v nos quadros antigos onde se dana o minuete. O p direito sempre para frente. Na rua, era desta forma que se tirava o chapu: pegava-se, com a mo direita, na pon ta do mesmo pelo bico que descia sobre a testa, ou, quando foi moda o bico para trs, pelo bico do lado direito, lanando-se o tricrnio fora da cabea e virando-se-lhe o interior para o rosto, isso para depois atir-lo em linha reta, diante dos olho s, como que a querer ofert-lo ao cumprimento. Uma pequena pausa e, num movimento, depois, levava-se o mesmo numa linha curva lateral, que descia at o joelho. Esse arco de crculo precisava ser descrito sem afetao e com muita brandura, diziam os compndios. Quando o chapu, durante o passeio, vinha de debaixo do brao, era muito comum o cav alheiro, rapidamente, tir-lo do seu lugar e enfi-lo na cabea, para a formalidade da cortesia citada, isso muito ao estilo francs. Vejamos, agora, as regras que determinavam quais os que, primeiro, tinham que de scobrir-se numa rua ou numa praa. Devia sempre tirar o chapu antes o que estivesse melhorado no lugar. Exemplo: o que descesse uma ladeira tinha que descobrir-se , primeiro, a aquele que a subia, e o que descesse ou estivesse numa cadeirinha, saudaria primeiro o que passasse pela rua a p, e assim por diante. Na rua colonial havia, sempre, ao centro, um rego, por onde corriam as guas, e on de iam ter as imundcies atiradas das casas prximas. A delicadeza mandava que se d esse, ao encontrar-se algum, o lado menos sujo, que era o das casas. Por vezes, a disputar esse artigo de etiqueta, esbarravam-se os elegantes, quand o no escorregavam, caindo e emporcalhando as vestes de seda na estrumeira e na l ama do caminho. Era de mau tom, ao fazer na rua qualquer cumprimento, encarar com as pessoas, a ver se as mesmas correspondiam. Quando acontecia dar-se o encontro de dois cavalheiros que se dispunham a conver sar e os chapus estavam na cabea, deviam ir, logo, para debaixo do brao. O que passeasse a cavalo, querendo dar provas de sua polidez, impunha-se ao mais cruel e mais fatigante dos exerccios, uma vez que a grande prova de boa educao era fazer o seguinte: passando pessoas de alta qualidade ou senhoras, se apeia lo go e se lhes faz a costumada reverncia e no se monta sem que tenham passado. E j que falamos em cumprimentos, saiba-se que durante o perodo colonial tirava-se, sempre, o chapu diante das sentinelas. Ainda depois dos tempos da colnia, com D. Joo VI reinante em So Cristvo, muitos aborr ecimentos diplomticos tivemos por causa de to incompreensvel etiqueta. Os humildes e os escravos saudavam o Vice-Rei, de joelhos. Para fazer-se uma vis ita, quando se tratava de pessoa de cerimnia, logo ao saltar do coche, da sege, do paquebote, da cadeirinha ou do bang, a primeira coisa que se fazia era enviar um escudeiro, em geral paramenta dssimo, num fardo de veludo e ouro, embora indefectivelmente descalo. Esse emb aixador da visita que penetrava o saguo e batia palmas, trs vezes. Quando a casa e ra de rtula, as palmas batiam-se da mesma forma, rente mesma. Havia o preconceito de se bater com a mo, bengala ou copo da espada s portas. Bati am-se as palmas, ou, ento, quando a intimidade permitia, arranhava-se com a unha a madeira da portada, discretamente. O bom-tom vinha de Frana, onde homens chique s, para essa prtica singular, usavam uma unha colossal. Est em Molire: Est ce l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime ou l'on le voit? Depois de bater, penetrando o senhor na morada, o escudeiro ficava porta, de brao s cruzados. As reunies em famlia chamavam-se assemblias. Foram por aqui um tanto raras pelo c
orrer de todo o sculo XVIII, poca, entre ns, da mais precria sociabilidade. As leis de etiqueta existentes para tais recepes, entretanto, como as que se referiam s da nas, nada de extraordinrio apresentavam nos livros de cortesia. Apenas os cavalhei ros e as senhoras viviam nesses saraus de certa intimidade mais ou menos separad os em dois bandos. Mandava a praxe que, quando todos se preparassem para danar, os donos da casa esc olhessem um casal distinto para romper o baile. O que danasse de luvas incorreria na mais grave das faltas de cortesia. Os compndios de civilidade crist, no entanto, condenavam severamente os bailes ass emblias diziam os mesmos que se fazem noite para esconder o que de indecente se passa nelas. Isso pela poca dos minuetes e da pavana, em que as figuras da mulher e do homem s e moviam separadas, uma vasta saia de arame, em curva, de permeio. E, em afirmando tal coisa, no se esqueciam, os puritanos, de citar Santo Ambrsio, que chamava a dana uma excitao a paixes vergonhosas... Cortesia epistolar A falta de instruo do povo Uma opinio de Oliveira Martins O que aconteceu ao grande Humboldt por ocasio da sua vinda ao Brasil Como se devia escr ever uma carta Como se supria o envelope O estilo das missivas Outras regras de elegncia e bom-tom. Cortesias e obrigaes III E o captulo da cortesia epistolar? Que no se pense encontrar, com certa facilidade, na casa colonial, papel, obrias, pena de pato, o potiche da tinta e areia para a secar. Nunca se escreveu to pouco no Brasil, como ento. E disso prova tira o pesquisador que esgaravate os nossos alfarrbios em busca da luzinha dos assuntos. Lembremo-nos que assim tambm era em Portugal, onde, segundo Oliveira Martins, ape sar de todos os sbios que o Marqus de Pombal importou nos fins o sculo XVIII, a ignorncia continuava na mesma. Quando o grande Humboldt andou pela Amrica honrando a cincia de seu tempo, certa v ez, na capitania do Gro-Par, recebeu o governador, capito-general D. Francisco de S ousa Coutinho, um ofcio do Reino e que comeava assim: O Prncipe Regente Nosso Senho r manda participar V. S. que na Gazeta de Colnia se publicou que um tal de Humb oldt, natural de Berlim, havia viajado pelo interior da Amrica de onde mandou obs ervaes grficas que serviram para corrigir defeitos de mapas e cartas topogrficas, t endo feito uma coleo de 1.500 plantas novas, e que se determina a seguir para o M aranho... Pois para o grande cientista, que na linguagem oficial vinda da Metrpole passa a ser um tal de Humboldt, ordem vem para que o cacem, proibindo-se-lhe rigorosame nte a permanncia nestas terras, atendendo a que isso seria sumamente prejudicial aos interesses da coroa de Portugal. Esse papelucho histrico, espelho repolido o nde se reflete a cultura dos dirigentes portugueses de ento e que traz a data de 2 de fevereiro de 1.800 e a assinatura do Conde de Linhares, foi publicado, na nt egra, no livro de Augusto de Carvalho O Brasil, e no volume 6 das Farpas, de Ram alho Ortigo, onde largamente comentado. verdade que, se o Estado no ocupava de instruir o povo, os jesutas mantinham pelo pas algumas escolas. Algumas, no muitas. Foram elas, no entanto, mais centros de c atequese religiosa, centros onde apenas era ensinado o que convinha Igreja que o povo soubesse. Havia na cidade, pelo ltimo ano do sculo XVIII, apenas dois mestres de ler, segund o se v pelo Almanaque de Duarte Nunes, e duas livrarias... Quereis saber, porm, o que elas vendiam? Catecismos, vidas de santos, oraes, regis
tros, escapulrios e bentinhos. L uma vez ou outra aparecia um livro, assim com est e ttulo: Dirio crtico sobre os erros das falsas filosofias, seguido de um mata-hor as-aborrecidas. Ou ento: O Piolho viajante, publicao peridica que, em 1806, pelo liv ro de Balbi, j estava no seu 120o nmero; uns formulrios de medicina e nada mais. O prelo que existia nos tempos de Bobadela foi mandado quebrar pelo Sr. Marqus de P ombal. S os homens da alta burocracia e dos altos negcios e mais alguns oficiais d a tropa sabiam ler e escrever. Mulheres? Todas analfabetas. Prenda de estimado v alor; na hora de casar, verdadeira garantia de paz conjugal: Menina que sabe muito menina atrapalhada, Para ser me de famlia Saiba pouco ou saiba nada. Por isso, no entanto, seja dito de passagem, no deixaram no tempo de ser escritas , mal ou bem, algumas cartas, fossem elas de amor, de negcios, ou de simples etiq ueta. que se instruo nos faltava, sobravam os que viviam da corretagem das letras. Havia o famoso secretrio, homem sempre de tima caligrafia, embora de imaginao rudim entar e que, mediante propinas razoveis, supria a ignorncia do que no soubesse escr ever. Valiam-se todos eles do livro de Francisco Jos Freire Secretrio Portugus ou mtodo de escrever cartas por meio de uma instruo preliminar, obra que tem tido, conforme se l no prefcio, grande aplauso e boa aceitao, no s porque at agora no sai luz o no gnero, mas tambm pelo nome de seu respeitvel autor, bem conhecido entre os liter atos que honram a nossa nao, como a doutssima e religiosa sociedade de que foi mem bro e que tanto lustre deu os seus mui avultados talentos e consumado desabuso . No livro de Jos Freire explica-se que sobre a carta em meia folha de papel (papel de Holanda) fechada pr-se- sinete, que ser pequeno se a pessoa for superior, maio r alguma coisa se for igual e grande se for inferior. Quanto ao sobrescrito devia ele ser posto ao longo, de sorte que a obria ficasse para baixo, isso para as pessoas da terra. Para os outros, sobrescrito ao alto e a obria para a parte direita. No havia envelope. Dobrava-se a carta, fechando-a s obre si mesma e escrevendo o sobrescrito nas costas. Pitoresco a valer o estilo um tanto engurgitado e palavroso das missivas da poca. De uma carta de psames: Enxugue Vossa Merc as santas lgrimas, que essa morte foi triunfo. A bondade do Senhor acolher em graa a alma santa do irmo defunto. Obria pr eta, letra tremida e o papel, se possvel, borrifado d'gua, dizendo a inteno de lgrimas , que se podiam muito bem ter existido. De uma carta apresentando algum: Tomo o gostoso empenho em apresentar a Vossa Mer c... Respondia-se: As recomendaes de Vossa Merc so para mim gostosos preceitos... Pelo dia do Natal, a carta era do mais rigoroso bom-tom e muito principalmente se ia acompanhada de um casal de leites: Meu amigo. Todo o meu desejo est empenha do no gosto de que Vossa Merc tenha festas to prsperas que nem eu nem Vossa Merc te nhamos a desejar. E fazendo aluso aos leitezinhos: Que benignamente aceite Vossa Merc estes sinceros efeitos da minha considerao. As cartas de amor foram, entre ns, rarssimas. No obstante, ainda nos vieram s mos alg umas. Comeavam, em geral, por um Minha mui querida santa do meu corao e assinava m-se do fiel, submisso, reverente escravo at a morte Fulano. Ou ento: Meu amor e meu tudo um caramanchel de beijos de quem ainda h de morrer por ti Beltrano. Mais: Deusa do meu amor desv elado deste que com veras, h de ser teu para toda a eternidade... Sicrano. De outras etiquetas menores nos d notcia a literatura do bom-tom do sculo, muitas d elas transcrevveis pelo delicioso pitoresco que encerram: No se esto roendo as unha s com os dentes ou servindo das mesmas como palito. Jamais se escarre longe e c om fora ou sobre os ombros, mas para os lados. No suspire que se oua, nem se arrote, diz um professor de etiquetas, que logo acrescenta se for possvel... Quando se fala, no se est lanando a lngua de fora da boca, dando estalos com ela ou enchendo as bochechas de vento e borrifando com cuspo as palavras e o ro sto das pessoas com que se trata. E ainda: pouca cortesia queixar-se um caval
heiro a um senhora de mazelas que ataquem a intimidade do seu corpo ou das que, no sendo, inspirem nojo, muito principalmente se isso for nas horas da comida. No manual de Porta Siqueira aprendemos ainda que no se fazem aes com a mo fechada. Havia regras de etiqueta para o rap, vcio que foi elegantssimo. A pitada devia ser sbria, de sorte que no casse sobre o assoalho. Sorv-la de manso. Limpar primeiro os dedos no leno de Alcobaa, no o passando pelo nariz seno duas vezes: Vai ele e o alforje enxuga Na volta seca-o de vez. No era, entretanto, de bom-tom, andar-se de leno mo nem de tabaqueira mostra. Em sinal de elegncia, entrava-se num salo a tinir os berloques e os sinetes, que, em geral, vinham pendentes da casaca ou da vstia. De bom-tom era o sorriso que se aprendia diante de um espelho e que consistia em arregaar os lbios, muito de leve , mantendo os dentes cerrados... Elegantssimo, o falar afetado, em falsete, como a choramingar, como falam as crianas manhosas, por vezes, numa toada meldica, quas e a cantar. E quanto mais chorado mais elegante.
Prazer das reunies em famlia A opinio dos que conheceram a Lisboa dos tempos de D. Maria Hbitos caturras da sociedade portuguesa Solares de l e solares de c A socieda de carioca do tempo dos vice-reis Dolorosa informao que dela nos fornece o Sr. Con de da Cunha Com que gente se fazia uma assemblia de mote e msica na residncia do bi spo ou do Vice-Rei. Assemblias I
Os sales de Rambouillet, que haviam reagido de certa forma, em Frana, contra a prti ca casmurra da vida social de ento, criando o prazer das reunies em famlia, a pales tra de bom-tom, o torneio das idias e o culto pelo prprio idioma, no tiveram imitad ores em Portugal. At com D. Joo V no trono, a copiar as casacas, as ligas, as peru cas e at os vcios de Lus XIV, o portugus continuava como na Idade Mdia, macambzio e so mbrio, isolado no seu prprio ambiente, e, como o mouro esquivo, fazendo, da pobre mulher, uma prisioneira da casa e do preconceito. Com D. Jos, depois, e em tempo s da Sr D. Maria I, embora os hbitos alfacinhas se tornassem menos speros e caturr as, a sociabilidade ainda no era de natureza a tornar-se notvel. Laura Junot, a Duquesa de Abrantes, em suas alentadssimas Memrias, no se esquece de mostrar a sociedade de Lisboa como uma coisa morna e retrada, sem sombra de meno r vida e esplendor. Falando da casa do General Lannes, avana: cette maison etait une des mieux arranges de Lisbonne, except celles de M. Arajo et de la Duchesse de Cadaval, surtout pour l'occupation habituelle, chose que les portugais n'entendent pas de tout. E acrescenta que no viu na cidade, onde longo tempo viveu, palcios de residncias pa ra os nobres. Posto que Lisboa seja tamanha, no tem palcio algum burgus ou de fidalgo que merea considerao quanto matria, j diziam Tron e Lippeomani em 1580. Tais afirmaes, na verd de, combinam com o depoimento de Costigan, quando diz que os fidalgos portuguese s habitavam casares inconfortveis, armados de pontos d'Arras cheios de buracos. Explica Jacques Murphy, na sua Viagem a Portugal, impressa em 1795, as razes natu rais dessa quase indigncia, afirmando que, se a nobreza tinha vastas terras, no er am elas, no entanto, de natureza a garantir rendimentos apreciveis. As opinies de outros viajantes nisso pouco mais ou menos se resumem. No obstante, por amor ao pitoresco, arrancamos correspondncia do grande Beckford um trecho datado de 1787, onde ele nos descreve o ptio de um grande solar portugus, o do Marqus de Marialva um dos mais elegantes, dos mais apurados e mais ricos fidalgos de Portugal: As seges velhas que eu vi no ptio de entrada faziam-me lembrar uma estao de malaposta, em Frana, lembrana ainda mais avivada pelo aspecto pouco interessante de m
uitos montes de resduos de animais malcheirosos, por entre os quais fizemos a maior parte do trajeto at atingirmos a escada principal da casa, tendo quase tropeado numa gr ande porca e nos seus numerosos porquinhos, que se dispersaram por entre as no ssas pernas, com tremendos grunhidos. E, se era esse o ptio do famoso solar dos Marialvas, imaginemos o que seriam, fin almente, os dos outros, para, depois disso, pensar ento nas residncias dos notveis no Brasil. A insociabilidade do tempo explica, entretanto, tudo isso. Os anos, naturalmente, foram, depois, aos poucos, corrigindo esses aspectos da mundanidade portuguesa. Pretendem, porm, alguns escritores, quando falam do faust o setecentista dos filhos de So Paulo e Pernambuco, que o da nobreza da Metrpole no o sobrepujava. Por muito precrio que fosse o luxo lisboeta, de qualquer forma el e tinha, fatalmente, de ser bem maior que o existente em qualquer parte do Brasi l, nessa poca. Neste particular, preferimos ficar com outros autores que nos pare cem melhor documentados e que disso discordam, entre eles Alcntra Machado, que r eduziu s suas verdadeiras propores a lendria fortuna da sociedade paulista no sculo X VIII. Quanto ao Rio, a verdade era esta: no tempo do Vice-Rei Conde da Cunha, os que e nto se chamavam pessoas nobres viviam retirados, pelos arrabaldes distantes, sem aparecer, nem ter com qu. Quem assim diz o prprio conde, acrescentando: Pelo que se v, esta cidade, que pela sua situao e porte deve ser a cabea do Brasil, e nela a assistncia dos vice-reis est sem ter quem possa servir de vereador, nem ser vir cargo autorizado; s habitada de oficiais mecnicos, pescadores, marinheiros, mulatos, pretos boais e nus e alguns homens de negcios, dos quais muito poucos p odem ter este nome. Que havia, precria embora, no Rio beato e fedorento da atrasa dssima colnia, uma sociedade constituda, no h disso a menor dvida. De que elementos, p orm, era ela constituda? O panach social formava-se com a figura central e aurifulg ente do Vice-Rei e a de outros menos flgidos, que foram os desembargadores de jus tia, os maiores da tropa, os altos burgueses do funcionalismo pblico, senhores do Senado da Cmara, a ainda os casca-grossa enriquecidos no comrcio. bom no esquecer, ainda, o bispo, outras dignidades eclesisticas e a fradalhada metedia dos convent os: superiores, oradores e confessores as savas espirituais da poca, surgindo semp re, quando menos se esperava, nos lugares onde houvesse alegria, acar e mulher. Co m essa massa que se fazia uma boa assemblia de mote e msica no palcio episcopal da Conceio, com cnegos cantando lundus da Bahia e, talvez, castrati sopranizando rias da escola italiana, um sarau de dana no pardieiro da residncia vice-real, ou alhur es, com poetas rcades disparando sonetos alucinantes e o Sr. Marqus de Lavradio a lamber, com o olho de stiro apaixonado e ardente, o decote exagerado das mulheres , que descia, no tempo, at quase aos tornozelos... Essas inocentes funanatas, porm, reunindo pessoas da mesma famlia e at alguns estran hos de certa intimidade, s comearam, realmente, a existir entre ns, l para os ltimos anos do fim do sculo. Por esse tempo ainda foi que nas foruras da Nova pera, de Man uel Lus, comearam a aparecer as primeiras senhoras de sociedade, as mesmas que, no s dias de procisso, em vez de arriscar um s olho pela frincha da rtula de pau ou de urupema, arriscavam mesmo dois, de tal sorte reagindo contra o preconceito rein ol que teimava em transform-las em ndias coelhas reprodutoras, entaipadas e esquec idas no crcere sombrio da odiosa casa colonial. Para que possamos melhor sentir os primeiros vagidos da sociedade carioca, na poc a dos vice-reis, deixemos, num coche de arruar, com sota, cocheiro e criado de tb ua, o nosso solar do Catete. Solar? Solar, sim, senhores, porque os tivemos tambm , como Portugal, embora fossem, certamente, ainda mais casares e com panos d'Arras ainda mais cheios de buracos. No vamos, a correr, como pensais, ao pao episcopal da Conceio, onde o Sr. Bispo Cast elo Branco, que tambm d saraus, repousado e feliz, digere, agora, o leitozinho da dieta, nem tampouco ao palcio do Vice-Rei marqus vazio de S. Ex, que e st nas barraquinhas da Glria, vendo a feira de seus desvelos e autoria, mas, para a casa do Tesoureiro-Geral do Real Errio, Manuel da Costa Cardoso, homem de muita honra e de muito segredo, como dele se dizia ento, e que nos espera para uma fes ta de truz.
No tempo, o Catete campanha, cajual, pitangal, com a areia vindo quase aos camin hos, onde hoje se apruma a fachada do palcio do governo. Pela acidentada altura d a rua que ora se chama Santo Amaro, h uma ladeira que sobe em direo ao centro da ci dade e se divide em dois caminhos: um que nos leva ao outeiro da Glria e outro ve reda da Lapa. No necessrio, para iluminar a estrada, lanterna ou archote. A lua pr opcia e os cavalos, atentos. Camos no Passeio Pblico, dobramos a Rua das Belas Noit es, com as suas chcaras viosas, e os seus jardins cheirando a jasmim-do-cabo e man ac, Barbonos, Ajuda... A casa de Costa Cardoso percebe-se, de longe, iluminada, enorme. Na rua, como em feira agitada e alegre, cadeireiros, liteireiros, sotas, serpentineiros, criado s de sala e tbua, estribeiros, archoteiros, lanterneiros, de envolta com veculos d e toda sorte, a falar, a discutir, a rir e a cantar. E por entre o crivo das gel osias discretamente cerradas, sem luzes, apenas o vagalumiar curioso dos olhos da vizinhana regalada e feliz pelo espetculo para ela absolutamente interessante e novo. Ficamos porta da residncia do Tesoureiro, onde dois escravos, porteiros, n os conduzem do vestbulo escada, que sobe ao andar da festana. Um sarau em famlia Aspecto do salo principal Os convidados Como se separavam os me smos pelos sexos Jogos de prendas A hora da dana O minuete francs e o minuete port ugus Hora de comer e de beber. Assemblias II FALar da residncia, onde se v de p o ncleo mais representativo da famlia, paramos. Fa zemos o nosso cumprimento de mergulho, tricrnio ao peito e o busto em queda perpe ndicular e certa. Chegam um pouco tarde, diz-nos o anfitrio, informando. E pena! O poeta Joo Incio, escrivo da Intendncia do Ouro, j recitou uma versalhada supimpa, e m estrofe virgiliana, cantando Ceres e a colheita do trigo. Houve ainda soneto e m latim do padre Bota da Silveira. O cnego de meia prebenda D. Francisco de Moura , alm disso, disse trs charadas magnficas. Um sonho! Faz-se neste momento um joguin ho de prendas. Queira fazer o favor de entrar... Entramos no salo principal, amplo, todo forrado de damasco vermelho, mostrando se is janelas de rua, que esbarram numa grade de pau espessa, e muito alta, tocando quase a cimalha do prdio. As casas coloniais so gaiolas gentis. Apenas o ambiente abafa em demasia. Para re frescar a papada eclesistica de Sua Reverendssima o Sr. Deo da S, a diluir-se numa c ascata de suor, manda-se que se abram algumas gelosias de esguelha. Abre-as, dis cretamente, a criadagem. Sua Reverendssima, porm, que para os lados das frinchas r econfortadoras arrastou a sua cadeira de jacarand, ainda arfa, ainda bufa, ainda queima, mas diverte-se, o rosrio entre os dedos, a bondade no olho besuntado de t ernura. No h, em todo esse recinto vasto e povoado, uma s cortina, um s tapete, um s mvel de e stilo, uma esttua ou um quadro. uma lstima. o interior brasileiro no sculo XVIII. Nas paredes vazias e tristes, apenas, como decorao, uma estampa do Santssimo num e nquadramento de jacarand, pesado, feito em estilo rococ, algumas cruzes trifoleada s, em prata macia, uma aqui, outra ali, outra acol. Do teto, ao centro, um lustre vastssimo de trinta e seis velas. Um delrio de luz! O padre Bota da Silveira compa ra-o ao Febo e cita uma de Horcio. Como mobilirio, renques de cadeiras colantes s paredes, e mais ou menos nesse meio estilo que no era bem o Queen Anna, o Chipandale ou dos Luzes de Frana, do XIII ao XVI, mas obra vaga do marceneiro da terra, coisa grosseira e sem vestgio de meno r arte... Numa reentrncia, coincidindo com o vestbulo a ostentar os sentimentos religiosos d a casa, um oratrio com todas as suas velas coloridas, acesas, e os seus santos mu ito bem desempoeiradinhos, muito bem enfeitadinhos, muito bem arrumadinhos, num
tufo de flores, ramos de mangerico e habilidades em papel de cor. Um cravo, para a hora da solfa e, sobre ele, uma serpentina de prata com mais luzes. As senhoras vestem merinaques amplos de sedas espalhafatosas, os formosos pente ados de alta forma, subindo ao teto. E todas muito bem pintadas, brunidas, retoc adas, mostrando o rosto sarapintado de sinais de tafets de todos os feitios em di sco, em losango, em meia-lua. Trescalam a gua-de-crdoba ou erva-de-santa-maria, so rriem e mostram os dentes que so os de uma poca de precrios dentistas, mas esconden do-os logo, atrs da asa das ventarolas ou dos marotinhos. Os homens, do outro lado, nas suas casas policrmicas, conversam, entre as roupeta s marrons dos frades e as redingotas negras dos padres, tanto uns como outros, m ostrando cabeleiras de peralta, naturais, amplas e polvilhadas. Peraltas, scias, frades e padres, j se divertiram larga. Entramos justamente quan do se vai formar a roda para o jogo das prendas. Combina-se que se comear pelo jogo do papagaio, o mais fcil e conhecido de todos. Ao meio da sala, esgrouvinhado e atento, est o mentor do folguedo, vigia severo d a hora do engano e da paga de prenda, que dialoga com um frade ndio e de nariz ru bicundo: Papagaio? Senhor! Foste ao Campo? Ao campo fui. Que viste l? Uma ave. Que ave era? Gralha. H um silncio pela sala. O diretor do brinquedo espera um pouco. Ningum responde. No h gralhas em toda a roda. E ao frade de novo: Papagaio? Senhor... O frade acaba pedindo, como ave, a jandaia. a filha mais moa do Sr. Provedor-Mor da Fazenda, D. rsula Benedita. D. rsula, porm, atnita, sorri e no responde, a tempo e ao papagaio, como devia Senhor! O presidente do jogo avana, a destra em riste, para reclamar, depois de uma corte sia de mergulho, a prenda de D. rsula. Pague vossa merc... D. rsula entrega-lhe uma pulseirinha de coral e a brincadeira continua. Vem depoi s o jogo do cascavel, novidade chegadinha de Lisboa: Prestai todos ateno Ao jogo do cascavel, Quem no acertar com el Ponha a prenda na minha mo. Para depois passarem ao jogo do s casado? s casado? E com mulher. E eu tambm. Como se chama? Maria Flora. Tal qual a minha. Filhos tens? Trs. E eu outros trs. Sero guapos? Brios tm. De onde s? Da Praia Grande. De l sou eu. Onde moras? Em frente igreja Perto da minha casa. Como te chamas? Condeo.
No te conheo. Agradam imenso o jogo da cidade de Roma, e o jogo do vai e vem: Se vai vem fosse E viesse, Vai e vem ia; Como vai vem vai E no vem, Vai vem no vai l. E o jogo do belisco sem me rir, to engraado! E o do galinha-cega que passou para os nossos temos a ser o da cabra-cega? E o do Pero Pedro Crespo, o do sopro e dou-te acesso, o do contrabando, o do anel e tantos mais! Findo o jogo, voltam todas s suas paredes. O mentor ento anuncia que vo comear as da nas. Pelos corredores, por alcovas, por vos, pelos cantos de sala e quarto vem-se os es cravos colocando mesinhas, cadeiras, banquetas para os baralhos de cartas, dado s, tabuleiros de damas, de xadrez e de gamo. Carnia para velhos, que o reumatismo nunca fez liga com Terpscore. Como os jogos de cartas, joga-se o fara, o voltarete, o espenifre, o boston-sueco, os trs-sete, a bisca, o bresl, o piquete, o revezinho, a guimbarda , a guingueta, o chincalho, o trinta-e-um e o pacau. Como se v, no era por falta de jogos de cartas que se queixavam nossos avs. J a rabeca, porm, atira pelo ambiente os seus primeiros e meldicos ganidos, enquant o o capito de milcias Fortunato Cabral, discpulo de Jos Mauricio, toma lugar diante do cravo indefeso e franzino para dele arrancar, a punhaladas violentas, o minue te de abertura. Parny, que nos visitou em 1773, fala do minuete como da nica dana conhecida no Rio de Janeiro. Claro que ele se refere dana de salo, acrescentando, o que era uma ve rdade mal terminada a dana, e sem trocar a menor palavra, os pares se separam ho mens para um lado, mulheres para outro. O que Parny, porm, no informa que aqui se danavam duas espcies de minuete: o minuete francs, dana nobre, simples, graciosa, bailado todo feito de reverncias, de sutile zas e douras, e o minuete portugus, que era uma adaptao meridional brejeira e violen ta, caricatura do bailado de Frana, e que coreograficamente se resolvia em saltos rtmicos e sapateados escandalosos. O minucioso Beckford, registrando, em sua correspondncia, impresses da Lisboa sete centista, assim no-lo descreve exatamente: O General Forbes retirou-se e o velho Marqus [referia-se ele ao Marqus de Penalva ], inspirado por um adgio pattico, atravessou a sala de repente, num passo que ju lguei ser o comeo de um bailado herico, mas que depois vi que desandou num minuet e em estilo portugus, com todos os seus sapateados e requebros. Minuete de sapateados e requebros: isso mesmo. Por sinal que os requebros deviam ter ido do Brasil. No Rio de Janeiro, porm, o minuete saltado e sapateado, conco rdemos, estava mais de acordo com o esprito das delicadezas coloniais do que em L isboa, onde tanto vicejou e esplendeu. So duas da madrugada. Os escravos do Tesoureiro Real Errio penetram no salo, mostra ndo os seus fardes de veludo espesso, recamados de placas e lantejoulas, retintos , envernizados de suor, os ps indefectivelmente descalos. Sopesam largas bandejas de prata com sangrias, cajuadas, alus, bolos de caju e de mandioca puba. As mulheres vo logo aos refrescos da terra; os homem, s sangrias. Todos, porm, gulosamente, comem os bolos de caju e de mandioca. Os frades, comovidos, agitam-se e, gulosos, devoram o que encontram. H um rudo in tenso de cadeiras que se arrastam, de bocas que dizem enfim! de gente que murmur a, que fala, que grita, que conversa, que se expande, gralhardamente, ruidosame nte. Psst... No acordemos, porm, o Sr. Deo da S, de papeira j refrescada, e feliz, dormindo sobre
a sua cadeira de jacarand. Ainda porque o quadro no ficaria completo. Nas reunies coloniais, tanto os padres como os frades formam trs grupos distintos o dos que falam, o dos que mastigam, e o dos que dormem... Sejamos generosos para com estes ltimos, que so, naturalmente, os mais amveis. Psst... A mulher, prisioneira da casa e do preconceito Zelos e cuidados mouriscos A auto ridade paterna nos tempos coloniais O dspota familiar perante as Ordenaes do Reino Casos edificantes A trgica histria do ilhu Pedro Vieira Pais de outrora e pais de hoje. Namoro e Casamento I C est a casa no silncio da rua melanclica, com a sua parede acaliada e fria, toda for rada de grades de pau. Aproximemo-nos. H um clarozinho que vem de dentro, que a gente sente atravs do grad eado da porta de rtula. Repare-se bem. um clarozinho que cintila como uma jia... Filhas do sculo do aeroplano e do rdio, mooilas de hoje que tomais, em movimento, a uto-nibus vertiginosos, caminho da cidade tentacular, buscando o escritrio, a fbric a, a oficina, ou a escola, cariocas de 1932, que discutis questes sociais e polticas, maneiras de fazer coquetel em grupo s, com rapazes, pelos halls dos Palaces, pelos bares, pelos cinemas, naturalment e, desembaraadamente, vs que sabeis ainda escolher, sem sugestes de famlia, aquele a quem vos deveis entregar por toda a vida, raparigas da minha terra, raparigas d e hoje, a luzinha cintilante, que palpita atravs dessa portada de rtula, vem do ol har aflito de, aquela que foi a vossa irm no sculo XVIII, quase to infeliz como a q ue, anos atrs, s trs vezes podia sair rua em toda a vida: a primeira para batizar, a segunda para casar e a terceira para enterrar. Esta, que nasceu pelo governo do Sr. Conde de Bobadela e tem pela poca do Sr. Con de de Azambuja os seus vinte e dois anos de idade, no sai muito, mas, afinal, sem pre sai. J no se pode dizer que vive num claustro, seqestrada vida, que deve ser, para ela, assim mesmo, uma coisa muito risonha e muito dourada. Vai missa das cinco da man h em So Bento; na quinta-feira santa, pelo crepsculo da tarde, vai beijar o Senhor Morto na Catedral do Rosrio, e, quando h cavalhadas promovidas pelo Senado da Cmara , no Campo da Alampadosa quantas vezes em dez anos: uma, duas, trs? leva-a o papa i a ver a sorte das cabeas, o jogo das canas, do basto e do estafermo. Querem mais ? No pode ser. Uma menina recatada e de famlia no pode andar por to desavergonhado sc ulo, de saracoteio pelas ruas cheias de mulatas de capote, de ciganos, seguida, cheirada, devassada pelo olhar dos bandarras e dos frades, apetecida como uma cmi ca ou desejada como uma mulher-dama. Que se o sculo de atrevimentos e de audcias, tambm de zelos e cuidados. Zelos e cuidados mouriscos. A donzela uma flor de estufa que nasce, esplende e se fana sombra da sua morada conventual. O sculo, entre ns, no do cinturo de castidade, nem dos castelos feudais com pontes l evadias, mas o sculo da mantilha, da grade de urupema, e, o que pior, do cime, um c ime selvagem que encarcera, escraviza e inutiliza a mulher. Nunca se defendeu tanto a virtude feminina como por essa poca. Em compensao, nunca tivemos tantos pais e maridos enganados. O lar era uma priso mourisca, onde a mul her, alheia ao mundo, mais ou menos feliz, mais ou menos conformada, vivia, amav a, tinha filhos, criava-os, sorria, chorava, at que a morte viesse e lhe cerrasse os olhos. Na casa colonial passava a existncia entre um oratrio de jacarand, uma rede, uma es teira, fazendo rendas, bordados, cosendo, engordando e aprendendo a falar mal co m os escravos...
Quando passeava, o que raro afinal acontecia, destreinada em movimentos, movendo -se com a desgraciosidade dos palmpedes fora dgua, era na fileira da famlia, guarda da, vigiada pelo pai, pela me, pelo irmo, pelo marido, pelas mucamas de estimao... E a mantilha sempre tapando-lhe o rosto, escondendo-a, isolando-a arrogncia, ou a simples proximidade dos homens. Coisa que na fase do tempo afidalgava muito. Sin al de recato, nota de pureza, mostra de fidalguia. Mulher que viva fechada! Sem grade ou mantu que a escude, Era uma vez a virtude... Naturalmente dava-se com a desgraada o que se d com o champanhe ou a cerveja. O te mperamento fermentava, desafiando a percia do rolheiro, e um belo dia, catrapuz.. . Estourava, com a rolha, o drama familiar. Justia? A de portas adentro. Para as cadelas, como ento se dizia, o convento, o ve rgalho, ou o punhal. Perdoar era vergonha. Castigar, virtude crist. Para isso, er guia-se a figura onipotente da autoridade paterna. O pai colonial! O chefe da famlia era, pela poca, uma espcie de patriarca bblico, dono absoluto de t oda a populao vivente sob o teto de sua moradia. Senhor de fato e de direito. A casa era um pas, com fronteiras definidas, naozinha social e politicamente organi zada, embora sem bandeira e sem hino, mas agitando-se submissa e reverente ao gu ante de um ditador. Era ele, ao mesmo tempo, que poltica, administrao, justia e fora armada. S no invadia as prerrogativas do poder espiritual atribudo ao confessor do lar que era, finalmente, quem acabava muitas vezes mandando mais do que ele prpri o, com a sua lbia, muita pacincia e alguma religio. As Ordenaes do Reino davam ao pai de famlia dilatadssimos poderes. O chefe da casa p odia castigar o seu escravo, o seu criado, os seus filhos, e at a sua prpria espos a, castigar e emendar de ms manhas, diz o texto da lei. Era o prprio Estado, portanto, a atribuir ao pater familias prerrogativas judiciri as. E por pater familias, naturalmente, a abusar, como homem e como juiz. Esses abusos, no Brasil, tomaram, como era de prever, vulto extraordinrio, subret udo nas regies afastadas dos centros mais ou menos povoados. O dspota familiar mandava, quando queria, matar, ao mesmo tempo que um cabrito, d ois escravos e a prpria mulher, ou o filho. E a cousa ficava por isso mesmo. Entre muitos casos que a nossa histria guardou desses exageros do poder paternal, h, por exemplo, o que conta Pedro Taques, do Coronel Antnio de Oliveira Leito. Ess e coronel, s por ver nas mos da filha um leno que se agitava no ar, quando a mesma o levava a um coradouro, tomando o manejo por sinal feito a qualquer namorado, a rma-se de uma faca e atravessa de lado a lado o corao da pobre rapariga. Vernica Dias Leite, ainda em So Paulo, s porque vieram dizer-lhe que a filha fora v ista janela da casa, crime inaudito para o tempo, mata-a sem que o fato causasse extranheza ou provocasse a ao da justia pblica, como, ao narr-lo, comenta Afonso de Taunay. O mais curioso e o mais feroz, porm, de todos os casos explicados pelo abuso de a utoridade paterna no Brasil de outros tempos, o que est revelado numa memria arqui vada no Instituto Histrico desta cidade, escrita por Tristo de Araripe. Note-se que o episdio ao qual nos referimos, ocorreu sete anos depois da nossa in dependncia, isso quando, ao sopro da civilizao, que comeava a entrar no Brasil, os poderes ditatoriais do pater familias vinha singularmente diminuindo. Horrvel caso. Pedro Vieira era portugus das ilhas e tinha um engenho em Canavieiras. Sobravam-l he recursos. E temperamento. Um tanto velho, pai de filhos j casados, j av, vivia, entretanto, entre as suas canas-de-acar, como um stiro feliz a caar ninfas negras. Ora, acontece que, um dia, o veterano e caprino caador, babando luxria e raiva, em meio sua diverso mitolgica, descobre que, justamente, a ninfa preferida de seus d esvelos havia cedido a outro, e logo a quem? Ao filho de sua prpria carne! Como pai e juiz, pensa um pouco no caso e resolve, tranqilamente, mandar mat-lo. Q uer, porm, faz-lo com requinte. Para isso manda chamar outro filho, o mais velho.
Chega este e humildemente indaga do pai o que deseja. Tens contigo a garrucha? Tenho, Senhor pai! Pois trata de aperr-la melhor, e com ela mata o infame de teu irmo que, de mat-lo e u prprio, at me enojo. E j. So ordens. Parte o outro. Volta, entretanto, momentos aps. Mataste-o? indaga o homem ignominioso ao filho trmulo, que chega, baixa os olhos e fala: Ainda no, Senhor pai. que o mano manda pedir a vossa merc perdo, e diz ainda que se compromete a desaparecer, fugir, abandonar o lugar e a provncia, com ele levando , apenas, desde que vossa merc assim consinta, a mocidade e a vida. No. No quero. No perdo. Ele ter que morrer. a minha vontade, diz o pai. Volta. Mata. E o outro voltou... No dia imediato, Carlos Augusto Peixoto de Alencar, padre coadjuctor da pequena freguesia de Canavieiras, recebeu uma carta do ilhu. Essa carta, que consta da me mria de onde se extraem estas notas, comeava assim: Reverendssimo Senhor Padre Coadjuctor. Como Deus foi servido que eu mandasse mata r meu filho, rogo-lhe o favor de chegar hoje at a esta sua casa, a fim de assisti r ao enterro do rapaz... No seu caixo singelo, um Cristo de prata entre dois crios trmulos, l estava o corpo do infeliz cercado das lgrimas de toda a famlia, inclusive as de sua prpria esposa e mais as de duas filhinhas menores de dez anos. O quadro , na verdade, horrvel. Pois a autoridade paterna no Brasil, durante os tempos coloniais, foi, pouco mai s ou menos, isso, sem tirar nem pr. Que diferena, na verdade, entre esse sinistro pai colonial, que a gente sonha gue delhudo, cheio de speras rugas pela testa, o sobrecenho em borrasca, tremendo, au stero, e o gua-morna do pai de 1932, na boca dos filhos o velho, o camarada, quas e o trouxa!...
O nascimento da criana Desconsolos de um pai Festivos anncios A me-preta Educao enina Sua triste infncia Religio Superstio Cantigas de roda e para adormecer A do pecado e a necessidade de um Confessor Sculo de mulheres gordas. Namoro e Casamento II Quando ela nasceu, a parteira curiosa, uma de grandes quevedos de couro, que mais parecia um fsico-mor, a primeira cousa que fez foi ju rar que o horscopo dava para as meninas nascidas sob to amvel signo os melhores tes ouros que Eva podia esperar sobre a face da Terra. Na alcova colonial, sem ar, s em luz de sol, apenas alumiada pelo claro amarelado da serpetina de prata, ouviuse, porm, um suspiro como sinal de desapontamento e tristeza, suspiro do papai, d esafogo de imo peito, desabafo de alma prtica, e que logo todos traduziram por es ta frase naturalssima: Antes fosse homem! Mil vezes, na verdade. Uma escrava trouxe a bacia de prata embeiada e velha, que, seguindo a tradio da faml ia, lavara j trs geraes de umbigos; outra, a toalha de linho, metida em goma dura co mo um pau, e mais a saboneteira de loua. E a menina foi lavada com todos os preceitos da Luz das Comadres e Parteiras, de Sebastio de Sousa, livro que, desde 1725, iluminava a sabedoria das aparadeira s de ofcio ou de curiosidade. Veio depois a cerimnia do enfaixamento, do enfardela mento, do entrouxamento da pobre creaturinha transformada em mmia, envolta em cam braias, fitas bordadas e rendas, espetada aps entre dois travesseiros como uma bo
neca hirta, rubra, congesta, a boquinha fendida, aberta em , os olhinhos de bbada rolando nas plpebras arroxeadas de chorar. Que gracinha! A essa hora j o mais rpido dos negros mochilas da casa, apertando na mo as alvssaras do sineiro, meia pataca em moeda de cobre polido areia, corria caminho da igrej a prxima, a fim de que o sino, jornal da cidade, que contava, a todos, os sucesso s mais importantes do dia, j tocando simplesmente, j dobrando, j repicando, lanasse, sem demora, aos quatro ventos, a nova daquele parto, daquela filha, ou daquele desgosto... Tangiam, no tempo, pelo nascimento dos meninos, nove badaladas, e sete pelo nasc imento das meninas. Por onde se v que j por essa poca as mulheres nasciam fazendo m enos barulho que os homens. A bisbilhotice urbana sabia tudo isso de cor. E enquanto pela voz do bronze a notcia voava clere como um p-de-vento, na casa da p arturiente, diante do oratrio todo iluminado e festivo, a famlia de joelhos, piedo samente, erguendo preces ao Senhor, reunia-se, pedindo venturas para a alma desc ida dos cus, enquanto que, pelas portadas, pelos corredores, terreiros e mais dep endncias da morada, a sobra dos escravos mostrava alegria, cochichava, rindo, rez ando, pedindo tambm a bno do cu para Sinhazinha, que mal desabrochava para a vida! Rescendia o alecrim, a alfazema, em rolos msticos correndo a casa, afugentando o Tinhoso, rompendo os crivos da urupema da rtula, a anunciar, fora, na rua ao que passasse, a novidade palpitante: Gente nova! Gente nova! As jarras do oratrio j estavam cheias de rosas frescas. Os pedintes do Santssimo, d e faro afiado e vivo, de instante a instante vinham bater porta, vidos de gorjeta , as escudelas da esmola arreganhadas generosidade beata da famlia. Chegavam velh as devotas tambm a ver o que arrancavam sovinice da casa: uma moeda de cobre, uma cdea de po, um Deus te favorea... Que a notcia corria a enfiar-se pelo ouvido da vizinhana, at a mais distante. Sabia -se sempre onde tinha sido o parto; mais, que o recm-nascido era uma menina ou um menino, muito esperto sempre, a cara do pai, forte, choro, bonito como qu! No mesmo dia pensava-se nos bilhetes de dar parte, que eram feitos pena de pato, em largas folha de papel de Holanda, obreados a cor-de-rosa, bilhetes para as p essoas de alta considerao nas relaes da famlia e escritos, todos eles, naquele estilo de grande gala, que foi uma das cousas mais pitorescas do tempo: Dou parte a V. Exa. em como foi Deus todo-poderoso servido desse minha excelent e mulher luz uma filha... participaes que eram respondidas, pouco mais ou menos, p or esta forma no menos retumbante: Em muita obrigao me deixa Vossa Merc participando -me to grata e regalada notcia. Queira Deus, de futuro, possa dar-nos a amantss ima esposa de Vossa Merc contentamentos iguais a este, porque de rvore to auspicio sa devem ser esperadas infinitos pomos. Que o dado hoje se faa maduro, conserva ndo as virtudes dos pais. Vossa Merc que aceite estes meus gostosos desejos como ofertas sinceras da grande obrigao que devo a Vossa Merc, a quem Deus guarde por m uitos anos. S muita intimidade permitia visitas pessoais por tal motivo. Pudores naturais do tempo. No quarto da parturiente s entravam as mulheres casadas e as velhas. As raparigas solteiras e os homens ficavam no salo de visitas. Mal nascido, aquele pedao de carne cor-de-rosa resvalou logo do seio moreno da ma m para a peitarra ebnica da escrava. Mamou, ela, assim posto, da negra, o leite e o instinto. sombra da gaiola colonial, morrinhenta, clortica, ranzinza, sob o des velo direto da me-preta, viveu, depois disso, da esteira para o colo, do colo par a esteira, at que um dia a levaram igreja da Lampadosa, onde foi receber, com os santos leos, o pouco amvel nome de rsula rsula Frutuosa Anastcia Benedita do Monte Se rrate e Maia. Para o ato solene convocou-se toda a parentela e alguns amigos do peito. No terr eiro da casa como da praxe, em vsperas de festejos de truz derrubada, em massa, d e gordos perus de roda e anafados leites. Em frmas complicadas preparam-se para ma is de quarenta qualidades de doces. No dia decidido para o batizado, logo cedo, veio a cadeirinha com pinturas, que se foi alugar loja do Silva, Rua da Cadeia. Nela meteram a boneca risonha, envol ta toda numa vasta toalha de rendas, e mais a ama negra.
Atrs da conduo ligeira, a p, os da famlia e da amizade, at igreja distante onde Sinha inha se cristianizou, recebendo no lbio cor-derosa um pouco de sal e na moleira o leo sagrado do ritual cristo. O brdio correu por trs dias, alegre, ruidoso, a mesa armada no quintalejo, sempre renovada e farta de cobertas e acepipes. Depois... cresceu ela entre a sala tranqila do oratrio e o terreiro que olhava a senzala,onde os negros viviam seminus, gralhando speros dialetos africanos; negro s que tocavam o berimbau, a marimba, o mutungo, e cheiravam a almscar. No lhe ensinavam a ler. Ler! Para qu? A mame, que era filha de fidalgos, lia, por a caso? Ento! Ensinaram-lhe a rezar, isso sim, a ter medo de Deus, como de um malfeitor. Vem ainda, como contrapeso para aquela alminha tmida, a notcia de vrias abuses: Ai, o uivo horrvel que vai l fora! Que horror! o lobisomem a correr o seu fado! Lo bisomem avantesma que nasce ao crepsculo da tarde, metade homem, metade lobo, e q ue anda a saltar encruzilhadas, perseguido, assobiado pelo vento, pelos galhos d o arvoredo, pelos ces... L vai ele, l vai espera de espinho, dente ou espada que o lobo e o homem fica... E o Saci-perer? E a Mula-sem-cabea, o Tutumarambaia, a Me-d'gua, e o Canhoto? O Canhoto ! monstro com o dom de transformar-se em cavalheiro capaz de seduzir a melhor da ma, mas sem poder dissimular dois ps de pato, amplos e feios, duende explosivo qu e arrebentava, em cacos, diante de qualquer cruz, deixando, com o estampido muit o grande, uma nuvem azulada e um cheirinho de enxofre... Na cabea da pobrezinha t odas essas bobagens entravam e ficavam justas como uma gaveta numa cmoda. Quando a me queria fazer a sesta e ela com a sua vozinha de criana comeava a rir mu ito, a palrar, a mexer nos bilros da almofada da renda ou a subir pelos mveis, a ver se ainda havia no covilhete da credence um restinho de alu, era posta no terr eiro. Que fosse brincar com as crias, para longe, e a deixasse em paz, um poucoc hinho... Ah! O que vale que o terreiro era vasto e as cantigas que as molecas lhe ensinavam, fora do batuque e dos reizados, eram sempre muito bonitas e engraadas: Canivetinho Do pintainho Que anda na barra Do trinta e um. de bo bo bo bo de bo bo bo bo. Mingorra, Mingorra, Ficaste forra! Ou Uma, duas angolinhas, Finca o p na pampolinha, O rapaz que jogo faz? Faz o jogo do capo... s seis horas fechavam-se-lhe as plpebras de sono. Dormir, assim, que isso, Sinhazinha? E a orao a nosso Senhor? Vamos, olhe que este castiga... E l ia ela, a pobre, cabeceante, para o oratrio, medrosa do castigo da quele Deus, para ela to exigente e to mau que nem perdoava s criancinhas que tm sono . E, engrolando mecanicamente palavras que no sabia o que queriam dizer, punha-se a rezar: Padre nosso que estais no Cu... Tombava de sono, e de tal sorte que quase no ouvia a cantiga de adormecer, que lh e cantava a negra. Senhora Santana Quando andou no monte Por onde ela andava Deixava uma fonte. Vieram os anjos Beber gua nela; Que gua to limpa, Que fonte to bela! Senhora Santana Ninai minha filha, Vede que lindeza E que maravilha! Esta menina No dorme na cama, Dorme no regao Da Senhora Santana. Aos 13 anos deram-lhe um confessor. No fosse aquela alminha do cu sujar-se no peca
do do mundo sem ter quem a lavasse com misericrdia. No houve para isso grande trab alho. J havia, portas adentro, um padre. Na poca, no havia casa que no tivesse o seu padre, como no havia padre que no tivesse a sua comadre. Esse era do Faial, um gordo, vermelho, muito devoto da Senhora do Rosrio e das bo as tigeladas de marisco. Santo homem! Alm disso, grande tocador de viola. Santa v iola! E que modinhas, as que ele cantava! Quando havia vinhaa da ilha, bebia semp re o seu meio odre. Aos poucos. Arrancava a redingota, a vstia, e no deixava mais o instrumento, muito vermelho, o olho langue todo envernizado de suor. s vezes tinha derrios com as mucamas, e era, principalmente, para a aia da garota, sabia-se, uma negra de Moambique, de mamaa vasta e venta arrebitada, o versinho q ue ele cantava, sempre, com a msica de um lundu vindo dos tempos de Bobadela: Pois tirana no te abranda Do meu peito a amarga pena? Dize, ingrata, esquiva Almena Que farei pra te abran dar? O fato que a escrava gozava o verso, escancarava a boca de orelha a orelha e s no corava porque era preta demais. Por isso mesmo, em tempos em que o marisco era v asqueiro, no esquecia jamais de lembrar, nos dias do padre, logo de manh cedo, com solicitude, senhora, no fosse ela esquecer a tigelada de Sua Reverendssima... Entre a viola, o oratrio, os resmungos da mam e os maus exemplos da escravaria tra penta e rude, toda aquela mocidade estiolavase, consumia-se, secava. Aos 20 ano s, quando ainda no havia casado, que os casamentos se faziam por vezes, aos 14, a os 13 e at aos 12, a menina, em geral, era uma senhora dona, de ar matronal, cev ada pela indolncia e falta de exerccio. Cresciam-lhe a papada, o ventre e o trasei ro. Era um odre. Perdia a graa de andar, marchava como marcha o marreco num grama do. O reinol, porm, mordido pelo sangue mouro, achava-a um encanto; babava-se todo po r aquela bola de sebo, por aquele dilvio de banhas. Que lindeza! A donzela carioca no sculo XVIII Tempo de raros casamentos Razes da anomalia Proli ferao de amsias e de bastardos A roda da Santa Casa e as crianas abandonadas Casamen tos por convenincia Critrio para escolha de um noivo ou de uma noiva A vontade sob erana do Papai. Namoro e Casamento III Acrnica do tempo dos vice-reis fala-nos bem pouco da mulher carioca. No obstante, difcil ser arranc-la de seu sculo. Como todas desse tempo, tinha que ser inculta, beata, indolente e volutuosa. Volupt! c'est le mot du XVIII sicle. C'est son secret, son charme, son me! Il respire la volu pt, il degage la volupt... A tirada dos irmos Goncourt, mas a verdade no nova. A centria, que foi do mais embravecido e frentico amor, entre ns, saiba-se, no foi, como talvez se pense, de muito casamento. Razes da anomalia? Mltiplas. Uma delas, para comear, o preo verdadeiramente exorbita nte das custas eclesiticas. Por haver de se casar um homem so trabalhos, so despe sas e demoras inexplicveis; preciso que haja um dote tal que faa sustentar o dese jo de casar to firme que possa vencer estes obstculos; no sendo assim, ficam aman cebados com as mesmas ou com outras toda a vida. que a Mitra no se contentava, apenas, com a liberalidade devota da massa que a co bria de donativos, por vezes sacrificando as exigncias do prprio estmago, enchendo -se com a receita larga da bacia de prata que sempre deu e de sobra, para manter no mais alto grau de opulncia os cerimoniais do culto exterior; a Igreja sugava, a Igreja escorchava, a Igreja exauria o fiel, sempre que ele procurasse a Casa de Deus para dar provas de sua piedade ou devoo. Se por preo excessivo cobrava ela um casamento normal, pense-se agora o que cobraria quando o mesmo, em circunstnci as extraordinrias ou especiais, ocorresse.
Sabe-se por acaso quanto custavam as licenas para casar primos com primas, tios c om sobrinhas e qui parentes ainda mais prximos? Roma no negava jamais tais licenas, p or mais condenveis que fossem as ligaes projetadas, l isso verdade, mas, em compens ao, pelas letras apostlicas do despacho na Cria Romana, pedia o que bem lhe parecia. No meado do sculo, as pretenses do gnero e que se faziam por intermdio do Cardeal P atriarca de Lisboa, custavam novecentos milris. Novecentos mil-ris! Para a poca, um a verdadeira extorso. verdade que D. Joo V, o stiro fogoso do Convento de Odivelas, que morreu acreditando ter negociado em Roma, com o ouro do Brasil, a entrada mais cara que j custou a alma de um rei devasso no reino magnnimo do Cu, fe z negcios piores, no h sobre isso a menor dvida; bom observar, porm, que nem todos ti nham, como ele, ao alcance da mo, tesouros to fceis de oferecer. Para evitar delongas na burocracia eclesistica, embora sem garantias de fazer dim inuir as custas da ganncia papalina, Vicente Farguini estabeleceu-se na capital p ortuguesa com uma agncia de desempedimentos, mantendo corretores diligentes junto Dataria da Santa S. Havia, ainda, dificultando o natural prurido de casar, o preconceito de muitos p ortugueses contra os naturais do pas, preconceito ensinado pela prpria lei portugu esa durante certo tempo, uma vez que infames foram por ela considerados os que s e ligassem chamada raa desprezvel dos caboclos. A vida de recluso que a pobre mulher levava, acrescida pelos zelos exagerados da famlia, era ainda nova dificuldade, novo tropeo, para os que desejassem escolher u m noivo ou uma noiva. Contrariando os empecilhos fatais de mil modos gerados pelas convenes sociais, pel a bazfia dos homens e pela prpria religio, a cidade enchia-se, felizmente de filhos , como os campos de madressilvas e capim melado. Amava-se como nunca mais se amo u sob este bendito cu do Cruzeiro, violentamente, fogosamente, denodadamente. At o s padres e frades, particularmente ativos e sempre da melhor boa vontade no ass unto, atendiam s necessidades da terra boa, que era muito grande e tinha pouca ge nte. verdade que alguns, na sua diligente atividade, por vezes deploravelmente se excediam: No Engenho Velho modernamente foi superior o padre Lus Cardoso, o h omem mais prostituto que jamais se viu. Poucas escravas lhe escapavam... (Rela trio do Padre Cepeda, arquivado no Instituto Histrico do Rio de Janeiro, onde se e ncontra, ainda, este trecho interesssante): A quinta de So Cristvo foi uma Sodoma principalmente nos tempos que ali deram filo sofia os padres Manuel de Arajo Cardim e Francisco de Faria cujos discpulos, sem temor de Deus, nem vergonha dos homens, pelas cercas, pelos valados e matos gastam o dia com escravas e outras mulheres que para esse fim mandam vir da c idade. Falando do superior padre Manuel de Arajo, diz ainda Cepeda, no citado man uscrito, que, sendo velho, era depravadssimo, para logo acrescentar: Segue-se dep ois dele no superiorado o padre Jos Xavier, monstro de lascvia, cujos escndalos. .. Citar-se-iam centenas de milhares de casos idnticos. Com tais exemplos, como e ra de prever, o nmero de casamentos tinha que ser cada vez menor. Formidveis exemp los! A cidade transbordava de amsias e bastardos. Criavam-se dificuldades e empecilhos aos anseios fatais da natureza? Pois empecilhos e dificuldades se venciam pela astcia e pelo ardil. E ningum casava. O Governo da Metrpole, certo dia, quer pr um p aradeiro a esse estado de cousas: assina um alvar com fora de lei, datado de 1756, mandando suspender a infmia que atingia o que se casasse com ndia, a ver se aulava os celibatrios inativos. Nada consegue o alvar. Anos depois, o Sr. Conde da Cunha , impressionado com a atitude de seus governados moos, toma providncias mais radic ais, obriga-os a casar ou servir na tropa... Quase nada arranja. O casamento con tinua difcil. E a populao crescendo, crescendo... E a roda da Santa Casa a receber as crianas abandonadas que de toda parte vinham... Felizmente as Ordenaes do Reino previam o caso: As crianas no morram por mngua de criao, as mandem criar custa dos bens dos hospitais ou albergarias que houver na cidade, vila ou lugar. Na falta de albergues e hospitais, eram os mesmos criados custa das rendas do Conselho. E , no havendo Conselho, custa de fintas lanadas sobre o povo. Portugal era um pas de
pouca gente. Precisava defender a vida de seus filhos. Verdade que, no Brasil, para que a instituio da Roda fizesse parte das cogitaes gove rnamentais, foi preciso, e isso quase no final do sculo XVII, o grito do Governad or Antnio Pais Sande, impressionado pelo nmero de crianas que via morrer abandonada s ao relento pelas vielas esconsas da cidade, ou devoradas pelos ces. Na melancolia da cidade colonial, a Roda, quando caam as sombras da noite, no para va de girar recebendo, com o suspiro das mes, centenas de corpos e de vidas. L fic avam. L cresciam. Eram os enjeitados. De onde vinham eles? E o nome dos pais? Que importava saber! Eram colonos novos, vida e alento roda viva da colonizao. Apesar de todos os contratempos, muita gente houve que, podendo, casou. O casamento por inclinao, porm, que pela poca foi coisa que mal se suspeitava que ex istisse. Menos resultado de um sentimento recproco que a conseqncia de um negcio de famlia, era o casamento feito sempre revelia dos mais interessados, o noivo ou a noiva... era o genro. Antes de escolher o marido para a filha o que o pai escolhia Meu genro, que mora no que dele e que de suas proprie-
dades tira proventos de que vive, ou: Meu genro, que descende em linha direta do s Canastres de Azajuras, ou dos Pomboleiros dos Freichais... a sua filha tinha fe ito um casamento de truz. E os reinis que mandavam buscar, Metrpole, noivos sob medida para as filhas: loiro s rapages, altos, sabendo ler, escrever e contar, e quando calhava doutor por Coi mbra? Isso ocorria em geral com os comerciantes, quase sempre analfabetos, que p rosperavam e que queriam ter em casa gente de confiana, capaz de cuidar, tanto da correspondncia, como da escrita. Os namoros do tempo foram, assim posto, todos eles sem a menor conseqncia. Namorav a-se por gratido, por divertimento, por vcio, nunca para casar. A regra geral, pelo menos, quase sempre foi essa. E sabia disso sinh-moa? Se sabia! E namorava ela assim mesmo? Se namorava! Por que no havia de namorar? Ora essa! Expandia-se, coitada, desacoitava-se desabafando, desafogando o temperamentozinho meridional e bravo, na nsia de sentir e de pro var, de qualquer forma, a doura e o encanto daquele engano d'alma ledo e cego que a fortuna no deixa durar muito. No entravam no critrio dessa escolha, porm, preocupaes de sade, carter ou idade dos c ges. O que se queria era saber se havia, em primeiro lugar, dinheiro, em segundo lugar, sangue nobre ou situao social de relevo. O resto no interessava. Impunha-se , s vezes, a uma criatura jovem, de quinze anos, um velho de oitenta, com dez ou vinte prdios em Mata-Cavalos; um fidalgo morftico ou turbeculoso era timo partido para uma mooila de excelente sade, mas de famlia modesta ou sem recursos, e assim p or diante. Desde que o pai pudesse dizer, em conversa, fazendo saltar os sinetes e os berlo ques da sua rendigote de seda. Namoros de gua benta A pantomina dos adros de igreja Ttica de namorados Velhas his trias de gavies e de pombas Namoro de escolta e de estaca O fungadinho e a cigarra Alcoviteiros Como acabavam todas essas histrias de amor. Namoro e Casamento IV Um adro de igreja, antes ou depois de qualquer solenidade religiosa, foi sempre, pelo tempo, entre ns, uma interessante vitrine de namorados. Por ocasio das missas ditas de madrugada, por dias de calor ou sol, chuva ou lama , de relmpago ou trovo, quem descobrisse em stios alcandorados como o morro de So Be nto, Glria, Santo Antnio e Castelo, um perfil de capela, uma escadaria de igreja o u a porta iluminada de um templo, havia de ver logo, em torno e perto, sombras i rrequietas que cruzavam, que saltavam, que esvoaavam. Eram os namorados, em revoa da, eram os gavies do amor, em bandos numerosos, irrequietos, chasqueando das pre venes dos pais , zombando das ordens severas do Vice-Rei, desobedecendo at s pastora
is do Bispado, que particularmente fulminavam e proibiam esses namoros de adro e de gua benta. Ali ficavam eles, os almofadinhas do tempo, muito bem escanhoadinhos, muito bem pintadinhos, cobertos de sinais de tafet, na moldura das cabeleiras empoadas, as capas de embuo soltas ao vento, os olhos verrumando a sombra espessa da madrugada , nela indagando, farejando, descobrindo vultos de mulher, merinaques de mulher, mantilhas de mulher, aos saltos, aos ais, suspirando, sofrendo, sorrindo... As famlias vinham para as cerimnias do culto em monomes guiadas pela lanterna ou pelos archotes dos negros escravos. Na chefia do troo familiar punha-se o chefe frente, todo envolvido num capoto de s aragoa, sumido no seu panejamento de embuo, tendo sob as dobras da fazenda, em uma das mos, a espada, no raro nua, e, noutra, o rosrio de Deus. Atrs dele os rebentos as sinhazinhas e os sinhozinhos, e sinhsmoas, e as sinhs-donas , e, logo a seguir, sinh-velha, a matrona, fechando a bicha familiar. Vinham as m ulheres, pouco habituadas a exerccios de marcha, como espessos domins, gorduchonas , gelatinosas, danando os traseiros, estremecendo os ombros, deselegantes e tarda s, ajustando a barraca das mantilhas de renda, bufando, suando, ofegando, a segu ir penosamente as pernadas compridas do senhor. S ento, fechando o couce da solitri a, as amas, as mucamas, os escudeiros, os pagens e outros escravos de estimao. Enquanto no chegam as famlias, o mais curioso apreciar as atitudes lricas desse fan toche do sculo, que o gavio, nas escadarias do adro, sentimental e atento, espera ndo que nas curvas da estrada surja a nota sangnea de uma lanterna, porque sabe qu e quem diz lanterna, diz monome e quem diz monome diz sinh-moa. L est ele. Olhai-o. Nem se move. uma esttua. um ser em transe medinico. Mostra um ol ho a dessorar tristeza, olho de carneiro morto, olho de fim de tocha, quase infe liz. Infeliz por qu? Porque o gavio deve mostrar-se sempre desgraado, uma vez que e le sabe que a desgraa humana inspira simpatia e que pela simpatia que sempre comea o amor. No o tiremos da fatigante posio em que se ps, que assim ele se indica, ele se mostra, ele se oferece, quase a dizer entre os dentinhos esfregados raiz d'alfa ce: Ento, no haver, por a, quem escolha este palerma? Que no tempo era a pomba que escolhia o gavio e nunca o gavio que escolhia a pomba . Isso na hora do namoro, que na hora do casamento quem escolhia, sempre, era o papai... Escolher! E como escolhia ela? Lanando o seu olho langue e aucarado sobre o olho aucarado e langue do gavio de seu agrado. Dois segundos e via-se logo uma centelha . Zs! Era como num curto-circuito... Desse choque nascia a chama que havia de enlev-los, a deliciosa labareda, aquele fogo milagroso que arde e no consome, que brilha e no ofusca, purifica e no abrasa. .. Nesse dia, tanto um como outro, s viviam daquele instante breve e magnfico. No prximo encontro, porm, o namorado consciente de seu dever, abandonando o terren o das especulaes lricas, entrava a agir no terreno das possibilidades prticas, que o sculo, afinal, foi muito pouco de sonho e platonismo... Assim, no suspirado dia da segunda missa, o gavio, logo que percebia, prximo escad aria do templo, o rancho familiar numa manobra instintiva, afastava-se lateralme nte, que o necessrio era fugir sempre s vistas do pai, e tratava de tocar a vangua rda do grupo, de tal sorte tentando um movimento envolvente. Nesse ataque, o que se fazia mister, era que o assaltante tocasse a fileira humana quando bem na po rta do templo, lugar de povo, de confuso e de aperto, provocando, assim, o deseja do e natural encontro. Que podia ele fazer, entanto, nesses dez ou quinze segundos de proximidade com a criatura dos seus sonhos? Coisas enormes. Coisas extraordinrias. Emparelhado com a pomba, o gavio podia, por exemplo, fulmin-la com tremendssimas p iscaes de olho; enlev-la, com aflautados e melfluos suspiros; impression-la, embriagla, confundi-la com frases mais ou menos rpidas, mas profundas; frases que ele ar rancava ao fundo do corao esbraseado, e as atirava como labaredas vivas e incendir ias. Tiradas como esta: Desgrao-me por ti! Ou: Meu amor e meu martrio! Ou ainda: T
u me apunhalas, tu me trucidas, monstro gostoso da minha vida! S? No. O milhafre, se realmente era homem do seu sculo, agia com mais positividade, p ara no dizer com mais sem-vergonhice. E assim que teramos de v-lo na prtica irrevere nte de um vezo herdado ao reinol, que o adquiriu, talvez, nos tempos do seu comrc io com o mouro ardente, ardente e velhaco, em matria de amor. O que o ndio da selva braslia, ingnuo, desconhecia, e o portugus nos trouxe para ser logo pelo gavio apressadamente adotado e seguido, foi a mania insolente de belis car a mulher do prximo por toda parte onde ela se encontrasse distncia de um brao. Diz o Sr. Jlio Dantas, num dos seus formosos livros, que no correr do sculo XVII, os portugueses encheram de ndoas o corpo das mais lindas mulheres de Castela. E, mais, que as nias holgonas de Toledo ficaram chamando a tais beliscos, mimos de Portugal! Pois ns beliscvamos tambm no sculo XVIII, sempre que podamos, graas a Deus, e se deixa mos de beliscar algumas vezes, saiba-se, menos foi por falta de mulher que de vo ntade. O gavio avisado, portanto, quando dava por findo o estgio do olho melfluo, do suspi ro elegaco e da frase melosa, realizada com proveito a sua manobra de flanco, abr ia logo dois dedos em forma de pina, dois dedos desaforados, dois dedos terrveis e zs atuava na polpa do brao, do colo ou da anca da rapariga, de tal sorte provando -lhe o temperamento e amor. Ficava uma ndoa preta na carne de sinh-moa, porm outra lhe ficava, cor-de-rosa, na a lma! Desejado belisco, pincho cobiado, mimo de Portugal, que fizeste a ventura e o consolo das nossas avs; como, numa impulso atvica, por vezes, ainda danais, hoje n a ponta dos nossos dedos, muito principalmente quando pela nossa frente deslizam , distncia de um brao, certas formas gentis... Ao namoro de gua benta, que era o de porta de igreja, santo namoro! seguia-se o n amoro de escolta, que consistia no acompanhamento da namorada feito pelo namorad o, distncia, pelas ruas, por ocasio das raras vezes em que ela sabia. Para tal, o gavio, no intuito de proteger o seu anonimato, garantindo-se contra a s possveis curiosidades da famlia, enrodilhava-se todo na capa, a enormssima capa d e muitas dobras, virava uma trouxa de pano, derrubava sobre a testa o chapu cuscu zeiro, pondo apenas, do lado de fora de toda aquela pea de fazenda, um olho em bu galho, um olho terrvel e que iluminava a rua como um farol. Com esse olho ciclpico seguia ele as pegadas de sinhazinha, platonicamente, silenciosamente, de longe, conformado e feliz. Na sua irreconhecvel indumentria que o namorado habilitava-se, ainda, ao que se ch amou namoro de espeque e que no tempo do bico Auer e da sobrecasaca, os nossos a vs conheceram pitorescamente pela denominao de lampio de esquina. O olho posto nas frinchas das grades de pau ou da urupema, espetado no ngulo da r ua, ou em frente morada da menina, o gavio mostrava-se, mas, sem ver a namorada, adivinhando-a apenas. E era assim que, por vezes, cocado pelo prprio pai da rapar iga, o infeliz, sem saber por quem era visto, denunciava-se todo, relevando com seu olho cheio de ternuras a sua audcia e a sua desfaatez. Situao essa perigosssima, e que, no raro, terminava numa tunda de pau. Os mais precavidos, portanto, s faziam a estaca mediante certa garantia dada pela namorada. Para isso obter, o gavio passava pela rtula e pigarreava. Um pigarro fe minino tinha que ser a esperada resposta. Alm do pigarro, como senha amorosa da po ca, houve, ainda, o fungadinho. Tanto um como outro, faziam um rudo algo prosaico , o rudo que fazem os endefluxados quando se aliviam. Tambm houve como gnero de avi so o que se chamou cigarra, que era um assobio levssimo, entre os dentes, feito d e fora para dentro da boca. A cigarra, porm, s entrava em cena quando o papai no es tava em casa, porque era um tanto escandalosa e j muito conhecida. Conhecida at do s conventos: Eu sei de senhores frades Que so cigarras e chiam Sem ser vero, pelas grades. E quando o papai no estava e os namorados eram dois, e as namoradas eram duas, at ravs da mesma grade de rtula? A grade, a, chiava como chia uma mangueira quando o s ol tomba nas grandes tardes de calor, pelo estio. Chiavam, da rtula, as cigarras de casa, atrevidas e satisfeitas; chiavam da rua a s cigarras de carrapito e espadim dourado, calando sapatarras de salto alto, agi tando as asas de pano de Saragoa, voando de felicidade, de uma esquina para outra
Chiiii... Por vezes, a janelinha da rtula afastava-se e uma mo nvea e formosa surgia trmula, c om um fruto ou uma flor, sinal que queria dizer mais ou menos vale um belisco. N o sculo, no se fazia nada sem um aperto de carnes. O mouro ainda pesava, fundo, no nosso sangue. Se havia trevas e era noite, abusando da ausncia da iluminao na cidad e, o mais prudente parava e o mais afoito... enfiava pela rtula. No esquecer nisso tudo a figura indefectvel do moleque, onzenrio e patife, velha cr iao colonial, e que era o agente de ligao entre essas epidermes que escaldavam ansio sas de contacto e de amor. Um belo dia, porm, todo esse enlevo era desfeito. A rtula emudecia, o gavio abalava , o romance chegava ao fim. Sinh-moa ia casar. Casar com outro! Vontade do papai.. . Sinh-moa desatava em pranto. Sinh-moa sofria. O pai, porm, dava-lhe logo dois berro s: Ora esta! Choros! Se calhar, a menina andava-me por a, embeiada por qualquer troca -bolas. Era o que faltava! A menina, porm, enxugava logo as lgrimas, sorria contrafeita... E tratava de ser f eliz.
Os antecedentes Cozinha do sculo XVIII Taillevent, o sapientssimo Graxas e molhos pirotcnicos O deslumbramento dos repastos Quantidade Variedade De Lus XIV a Lus XV Naturais refinamentos Os comiles do tempo Estilizao portuguesa da cozinha de Frana apetite portugus Escola de galfarros e gastrnomos. Cozinha e Mesa I Diz um escritor lusitano que em Portugal sempre se comeu muito, com a agravante, porm, de se ter comido muito mal. Parece que h nisso uma pontinha de exagero. Dur ante o sculo XVIII, pelo menos, no velho reino, comia-se como se comia em toda a Europa. E a Europa para comer reclamava, exigente, as frmulas culinrias que eram a s da mesa do Rei Sol, representando nada mais, nada menos, na poca, que a mais sbi a codificao de velhas, mas reputadssimas, receitas organizadas por esse sapientssim o Taillevent, que foi o cozinheiro de Carlos VII. No merece, portanto, censuras o portugus, que, nesse ponto, e como raros, soube honrar Epicuro, comendo to bem co mo os que melhor comiam no seu tempo. O que se pode acusar, isso sim, a cozinha de ento, a cozinha spera do sculo, pesada , toda feita de graxas e ferozes condimentaes, cozinha de artrticos, opulenta em txi cos, quase explosiva, garantidora, no raro, das mais autnticas dispepsias. Enfim, sendo, como foi, toda a poca de inslito apetite, maior era o nmero de galfar ros que o de gastrnomos. Comia-se copiosamente, brutalmente, como nos tempos de R oma ou nos de Philippe-le-Bon. A mesa deslumbrava pela opulncia dos repastos. Quantidade. Variedade. Cem ou cent o e cinqenta pratos de iguarias, todas diferentes, num banquete, no seriam nunca d e mais. E que cuidado na apresentao dessas comezainas! Que raes! Eram porcos inteiros, vitel as inteiras, javalis, sem faltar pedao, armados em carretas ou em vastas ptenas de preo, espetaculosamente postos numa decorao de folhagens, de flores e de frutas. E m pratarrazes largos, perus que se equilibravam, quase ressuscitantes, a fazer g lu glu, de apetitosos nichos de agrio ou de alface; codornas trufadas em atitudes idlicas, a repousar sobre canteiros de salsa... Natureza morta e paisagem. Carcia dos olhos e do estmago. Desses manjares imaginosos, de uma alegoria, por vezes, pitoresca e imprevista, restava-nos, at pouco, o prato-chefe das ceatas elegante s em famlia, pelos dias de batizados ou casamentos, o famoso leito de forno, obrig ado a farfia, ndio como Vitellius, coroado de louros, olhos de azeitonas e uma roupagem de rodelinhas de limo a recamar-lhe o dorso dourado pelo fogo; boca a batata da pragmtica, slida e precursor
a das que teriam de vir, depois, por ocasio dos brindes e discursos de sobremesa. .. Tais iguarias brutais, compreende-se, eram mais devoradas que comidas, mais engo lidas que saboreadas. De resto, essa cozinha de alarves no podia ser de natureza a inspirar gastrnomos. Um homem como Luculo, por exemplo, se tem vivido no sculo X VIII, talvez no morresse fome. Com certeza no morreria, mas havia de morrer de ver gonha, diante desses repastos to falhos de imaginao, to barrocos de aspecto, e sem a menor sombra de requinte e de graa. verdade que pelo correr do sculo, com Lus XV no trono, a arte de comer apurou-se u m tanto, espiritulizando-se, se isso se pode dizer. E triste dela se assim no fo sse. Que para alguma coisa haviam de servir os Lancret e os Boucher pintando em ouro e rosa; Versalhes; os ourives cinzelando, no apuro desvelado de artistas, ji as esquisitas que representavam guirlandas e laarotes; Marivaux tangendo o seu pl ectro amaneirado e sonoro; Mozart compondo a solfa encantadora de Don Giovanni.. . Como se podia compreender, na verdade, por essa poca de boudoirs de seda e laca , do minuete e do sorriso de Madame Pompadour, a cozinha planturosa de labregos, que havia quase cem anos vivia a empanzinar e a empanturrar o mundo inteiro? Melhorou, no h dvida, melhorou bastante, embora continuasse um tanto pesada, mas j s em o delrio agressivo das graxas e dos molhos pirotcnicos. Sem essa amvel evoluo no se poderia justificar, na verdade, a gastrologia de certos homens de esprito do tempo, muitos deles notabilssimos. Que, sem falar no garganto Verdelet, que ficou na histria por haver comprado, de u ma s vez, trs mil carpas, para delas arrancar as lnguas, com as quais mandou fazer o mais esquisito dos manjares, pode-se ainda citar Buffon, que no se limitava som ente a estudar a natureza, seno, ainda, a devor-la com amor, naquilo que ela tinha de mais saboroso e apetecvel. E Montesquieu? E Marmontel? E Savarin, depois, o esteta que escreveu a Fisiologi a do Gosto s pela curiosidade de penetrar nas razes que justificam, atravs dos sculo s, os prazeres da mesa e a sinceridade dos seus adeptos? Uma troupe luzida, como se v, e toda ela, de qualquer forma, provando que, se nem todos os homens de espr ito so gastrnomos, pelo menos os gastrnomos so, quase sempre, homens de esprito. E Que a pana a mola em que descansa O movimento do mundo... Para provar que a cozinha portuguesa, que bastante influiu na nossa alimentao colo nial, repousava, toda ela, nessa cozinha de Frana, procure-se ver as duas mais co nhecidas bblias glutonas impressas em nosso idioma durante o sculo XVIII, em Portu gal: a Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues, e o Cozinheiro Moderno, de Lucas Rigaud. Cpias perfeitas dos ensinamentos da culinria francesa, esses dois livros foram os melhores plenipotencirios da cozinha dos Luzes de Frana, em Portugal. O pas, de rest o, j passara a idade das criaes pessoais, que ficaram com as descobertas, com o man uelino e com o poeta Cames. Comeava a importar de outras partes, embora com certa dignidade e elegncia, o que a imaginao da raa j no produzia, j no dava. De onde vinha s cabeleiras de empoar, as etiquetas da corte, a arte, em todas as suas modalida des, os vcios e outras idias menores? De Paris. Se assim era, por que no havia de vir, tambm, o processo de melhor fazer-se um fra ngo de cabidela ou a maneira mais racional de preparar-se um porco de cebolada? No obstante, as receitas que chegavam atravs dos Pirineus, iam-se nacionalizando, j pelas interpretaes pessoais dos textos culinrios, j pela diversidade ou carncia de c ertos adubos no Reino. Por interpretao, portanto, assimilao, deturpao, fosse o que fos se, essa cozinha peninsular evolua, ganhando aspecto novo, mantendo embora nas l inhas gerais o esprito da chamada arte francesa de bem-cozinhar. Assim posto, o prosaico bacalhau com batata, o caldo verde, as tripas moda do Po rto e o caldo da cozida, nada mais eram, como ainda nada mais so, no fundo, que u ma mera estilizao lusitana de motivos culinrios que vieram de Taillevent, com esca las pelo refeitrio dos reis de Frana. No comeram mal, portanto, os portugueses colaboradores importantes da cozinha bra sileira. O estmago lusitano havia muito vinha sendo uma vscera exigente e violenta. E estma
go do povo, estmago de reis. D. Manuel, enquanto espera pelo descobrimento do Brasil, empanturra-se, farta-se com viandas pesadas de especiarias do Oriente e passa histria como um rei comilo; D. Joo IV come de causar surpresa ao embaixador Southwell; Pedro II inventa a glr ia de Domingos Rodrigues, o cozinheiro que rompe, mais tarde, o sculo XVIII coroa do como um gnio; D. Joo V, epicurista formidando, o homem de quem o desembargador Brochado afirma que comia muito, no fazia exerccio e passava o dia a ouvir histria s da carochinha; Dom Joo VI, afinal, era aquele reizinho ventrudo, palerma e amvel , que devorava frangos como uma raposa e que, no contente de devor-los mesa, ainda os metia na algibeira para com-los fora dela. Exemplos magnficos de apetites hericos tambm tivemos ns, como se v, que no era apenas na arte de bem-cozinhar que aqui vinham os portugueses instruir-nos, seno ainda n a de muito comer para que honrssemos, de tal sorte, o apetite e o estmago, vscera b rutal que Deus nos deu. A mesa carioca Como comia o filho da terra Cozinha de caboclo Preferncias do rein o Como se alimentava um negro O nosso estmago visto atravs das estatsticas do sculo Casas de pasto As ceatas de Lus de Vasconcelos e as crticas do tempo. Cozinha e Mesa II O povo, a grande massa obscura que no pertencia ao que se chamou, no tempo, a nob reza da terra, a mafra annima da cidade, o branco sem regalias, o mazombo vulgar, o mameluco, o cafuz, o cabra, o caboclo, o mulato de capote e outros tipos desp rezveis e fulminados pela arrogncia e pelo orgulho imprudente dos senhores do mome nto, toda essa gente, formando espessa maioria ao lado do privilegiado europeu, mantinha-se fiel alimentao do av ndio. E era relativamente sbria no comer, como o silvcola, que vivia de caa, de pesca e d e outros produtos da terra, notadamente o aipim e a mandioca, prazer e base de t odo o seu simples, mas slido, mantimento. Lry espantou-se ao ver, nos arredores da Guanabara, antes da fundao da cidade pelos portugueses, essa delcia braslica, o po da Amrica, em grossas razes, to grossas com o a coxa de um homem e longas de p e meio. Eram as mulheres que as preparavam transformando-as no que o reinol pitorescamen te conhecia por farinha de pau. Depois de passados em raladores, que eram feitos de um pedao chato de madeira sob re o qual se incrustavam pedras curtas e pontudas, iam tais razes, j em fub branquss imo, ao preparo da torra, postas ao fogo vivo ou ao do moqum, dentro de vastas fr igideiras de barro, com capacidade para mais de um alqueire cada uma. A fim de t ostar por igual a farinha, mexiam-na, ento, constantemente, com cuias e longos ma deiros. De tal forma obtinha-se o que se chamava uhi-antan, resistente fub, e o u hipon. O primeiro demorava mais no fogo, e por isso era mais escuro e spero, o se gundo mais cru e mais macio, dando-nos a impresso muito aproximada do miolo do po de trigo. Dessa farinha faziam os tamoios vrias papas que chamavam mingaus, ligando-as no ra ro ao arroz, ao suco de carnes e de ervas que na cozinha braslia de hoje tradicio nalmente ainda se conserva e se conhece por piro ou por angu. A qualquer desses alimentos, porm, fossem mingaus, pires e angus, o av carioca no esquecia de juntar a farinha seca, que ele comia de arremesso, atirando boca, aos punhados, com qua tro dedos da mo. O autor da famosa Viagem feita s terras do Brasil, Lry, que gozou o pitoresco da prtica malabarstica do silvcola, afirma que da poro atirada, de longe , goela gentia, nada se perdia da mandioca, no tombando um s gro fora do alvo desej ado. Acrescenta o viajante que, a tentar o mesmo, um bisonho qualquer, no exercci o da curiosa habilidade, arriscar-se-ia, no mnimo, a ver a farinha espalhada tod a pelo rosto. Este hbito primitivo e pitoresco de comer ainda se encontra em certas povoaes dista ntes do litoral. As carnes do tatu, da paca, da capivara, do jacu e demais caas abundantes por tod o o bravio matagal que bordava as margens desta famosa baa azul, bem como o peixe , quando no se comia aps assado ao espeto, eram preparados em conserva para suprim
ento de dias a vir. Essas conservas eram obtidas, sempre, no moqum, sob a ao do cal or lento. A cozinha do povo era, assim posto, no fundo, a cozinha tamoia, que a colonizao ia , embora aos poucos, transformando. Paocas, pires, farfias, canjicas, angus, beijus, peixe e caa supriam a mesa do povilu carioca. No se levava muito em conta a vianda da terra: o boi, o carneiro, o porco e a prpr ia cabra. Assim comia a gente do pas, regaladamente, gostosamente, dando largas ao seu apet ite semibrbaro entre goles da boa linfa da terra ou da aguardente de cana. O funcionrio do rei na governana da cidade, o nobre, o bispo, padre ou frade vindo s da Metrpole, o mercador com porta de loja aberta Rua Direita ou Ourives, a ofic ialidade de galo da tropa e todos aqueles, enfim, que usavam espadas com punhos d e Limoges, sinais de tafet e bofes de renda da Inglaterra, esses comiam mais ou menos europia, reclamando as caldeiraas lubrificadas de graxas espaventosas, as carnezinhas pingantes e suculentas do porco, do boi e do carneiro, cobertas de v iolenta especiaria. E po de trigo, em vez de farinha. Resta falar do negro, a pobre besta humana escravizada e que comia o que lhe dav am. Por esprito de srdida economia, atendendo ao preo verdadeiramente irrisrio, na poca, das nossas frutas, os senhores, em geral, alimentavam os seus cativos com laranj a, banana e farinha de mandioca. Comida de negro brabo: Quatro laranjas num gaio, Uma cuia de farinha, Cinco pon ta de vergaio. A populao do Rio de Janeiro, pelo tempo do Sr. D. Lus de Vasconcelos e Sousa, devia orar por umas trinta e oito mil almas. Pois existiam para toda essa gente apenas 14 casas de vender po e 13 aougues. E no se diga que o po no havia por falta de trig o, pois at o produzamos. A carne de boi, porco e carneiro, outrossim, tampouco da predileo do filho da terra, pelo tempo, sobrava, e tanto que era baratssima. Que pr ova isso? Minoria e sria de europeu, j por esse tempo neste Brasil de caboclos. Pr eponderncia notvel do filho da terra sobre o reinol. O peo que no tinha famlia, ou no fazia, ele mesmo, a sua cozinha, ia comer s casas de pasto, nome pelo qual eram conhecidos os restaurantes, que se espalhavam, ento, pelo centro da cidade. Apesar dos hbitos patriarcais da populao e da ausncia de outro estrangeiro que no fos se o portugus, fechados, como se achavam, os nossos portos, ao mundo, possuamos, e m 1789, 14 casas de pasto; em 1792, 17, e em 1794, 18. Pode-se calcular o que seriam essas srdidas lojas de comer, instaladas nos baixos dos velhos prdios coloniais, freqentadas por oficiais mecnicos, aprendizes, cigano s, mariolas, mendigos e mulatos de capote. Nelas, entretanto, havia sempre dana, msica e lcool: modinha, lundu e cachaa. Para chamariz da clientela, o clssico cego d a sanfona ou da rabeca, porta, e no alto das mesmas os distintivos da fazenda, u m galho de louro: uma ave morta, uns frascos lembrando vinagreiras, e a tabuleta do costume escrita em fontica ortografia: Cumidas e Vinhos. Para os elegantes houve, pela poca da inaugurao do Passeio Pblico, um restaurante de escol com umas clebres ceatas de arroz com camaro, notvel e apreciadssimo crustceo, pitu dos desvelos de Afrodite e muito da particular predileo do bulioso Vice-Rei D. Lus de Vasconcelos. A virtude do tempo, porm, no viu com bons olhos essa curiosa inovao de casas de past o, embora elegantes e quase ao ar livre. Camaro e pimenta entraram logo para o in dex das coisas proibidas. As beatas de mantilha, quando voltavam, pelo crepsculo da tarde, do terrao do Sou t il ainda brincando, aps gozar a brisa fresca da barra, dando com os pavilhes de co mer j armados com toalhas de linho e serpentinas de vrias luzes acesas, iluminando o azulado das porcelanas da ndia, embora sem ver o camaro da estroinice, persigna vam-se rosnando doestos, mastigando ultrajes, suando desaforos, furiosas com os
desavergonhados que no se pejavam de comer em pblico... No eram assim os tempos saudosos do Sr. Conde da Cunha, que era um vice-rei auste ro, diziam. Nem mesmo a tanto se havia chegado com as audcias do Sr. Marqus do Lav radio, o Gravata! Era preciso que viesse vice-real governana um homem como o Sr. D. Lus de Vasconcelos e Sousa, monstro que consentia Manuel Lus inaugurar um camar ote de frades entre as foruras da Nova pera, bargante que achava natural o deo da S andar de sege sem cortinas, desav ergonhado que, usando cales de estalar, havia inventado, ainda por cima, ceias pbli cas com camaro, pimenta, vinho, e at mulheres de qualquer cor... Nas trguas da cozinha cabocla Cardpio reinol Olhas, caldos e sustncias Molhos compl icadssimos Pratos de vaca, de porco e de carneiro Tempo de poucos legumes A hora da sobremesa Vinho, cerveja e gua Consolo dos tristes.
Cozinha e Mesa III Na spera cozinha do caboclo, ao passarmos cozinha laudvel do mazombo, veremos que ela nada mais era que uma assimilao da do reinol, sujeita, apenas, s contingncias am bientais. Os repastos abriam-se, em geral, com potagens: sopas, sustncias, caldos e olhas. Postas em fundas tigelas de barro ou porcelena, essas sopas, quando levadas aos lbios, eram sorvidas ou viradas, no raro de uma s vez, como se vira o contedo de um a xcara ou de um copo. O gesto de elegncia foi mais ou menos o de sculo, precrio em colheres. O guardanapo, quando havia, que salvava a integridade dos bofes e das gravatas de renda, da vstias bordadas seda frouxa e o cetim das casacas. Sobre ta is pratarrazes, onde o galhozinho de manjerico ou hortel eram de pragmtica, nadavam sempre os coalhos espessos da procurada gordura, a exalar os mais desamorveis od ores. Caldos e olhas coloniais que cheirastes to mal, mas que fostes a alegria de tanta s pituitrias e a volpia de tantos paladares! Muito se lembra, hoje, de vs, o nariz incauto que, atravessando certas vielas srdidas da Sade ou da Gamboa, se dilata di ante daquelas baicas, que vendem iscas e bacalhau, com cardpio cantado em falsete, e onde homens de catadura plebia digerem como boas, aos haustos, aos arrotos, o olho avidralhado de cachaa ou de verdasco, slidos e untuosssimos jantares. Como, porm, se preparava uma olha? A olha podrida, to da predileo dos nossos querido s irmos de alm-mar, era feita desta sorte: Ponha-se em uma panela a cozer um pedao de vaca muito gorda, uma galinha, uma per diz ou pombo, um coelho, uma lebre, havendo-a uma orelheira, ou p, se for tempo de porco, um pedao de larco, chourios, lingia, e lombo suno, tudo misturado com nabos se os houver, ou rabes, trs cabeas (no dentes) de alhos, das grandes, duas ou trs dzia s de castanhas, sal, cheiros; como estiver cozido mande-se mesa. A receita cortada a um manuscrito do sculo XVIII. Havia, alm dessa, outras: a olha fina, que chamam de Moura, a olha entrida e mais olhas, todas, sempre, complicadssimas de condimento, no raro com acar, com canela, com manteiga e mais adubos do tempo. Os adubos do tempo! O anglico caldo que nunca faz mal a doente, o simplicssimo ingnuo caldo dos nossos dias, era, pela poca, culinria desprezvel e quase indigna. O que se queria era sent ir, na gamela vasta e pesada, o lameiro da pitana, prenhe de adubagens e gorduras, atoucinhado, atutanado, e, sobretudo, farto, transbordante . Quando se destampavam os sopeires das mesas setecentistas, as narinas, em vez de se contrarem diante da agresso inslita de to imprevistas emanaes, ao contrrio, dil tavam-se de prazer, contorciam-se de volpia. As moscas, no ar saturado de indmitos odores, danavam assanhadas sarabandas e, como as humanas narinas, rejubilavam-se tambm, em delrio, deliciadas, brias e felizes... Passemos, porm, das potagens, aos peixes. Pouca variedade na receita portuguesa d o tempo. O escabeche tinha relevo especial. Pouco bacalhau. S os reinis aqui o imp ortavam de Lisboa, nostlgicos das panadas patrcias, apesar da abundncia e da excelnci a do nosso incomparvel pescado. Tambm de l vinha (imagine-se!) a pescada portuguesa em salga, de qualquer modo inf
erior a qualquer das mltiplas variedades do mesmo peixe que possuamos. Vinham, com o vinham at pedras para construes de vulto, neste pas de estupendos mrmores e ainda m elhores granitos. Passemos, porm, do peixe carne. Lucas Rigaud, no seu Cozinheiro, na parte consagrada vaca, diz que, sendo ela to comum quo necessria para alimentar os homens, foi preciso imaginar-se diversos modos de a preparar. Apesar dessa formidvel sentena, os modos que apresenta so bem poucos. Salvava a pob reza do receiturio carniceiro a multiplicidade verdadeiramente fenomenal de molho s, resolvendo o problema capital da variedade. Molhos os mais surpreendentes. Havia o molho alemoa, o molho arlequim, o molho C onde de Saxnia, o remolada, o bexamela, o molho de marfim e o de laranjas (em que entrava uma colher de cli, vitela, presunto, manteiga, casca de laranja e um pou co de sumo espremido...). Molhos para todos os paladares. Nessas composies absurdas, de uma aparncia por vezes apenas decorativa, empregaramse adubos os mais exticos, muitos vindos das partes mais remotas do Planeta: a no z-moscada, o gengibre, a canela, o cravo, o louro, o aafro, o cominho, o pixerril, a manjerona, o aipo, o tomilho, a salsa, o ourego, a pimenta, o alecrim, o cli, a hortel, a alcaparra, a alfavaca, a cevada, o acar-cande... O tomate, bsico nos temperos da culinria de hoje, no aparece nos livros de cozinha portuguesa da poca. At 1813, pelo menos, Morais ainda no o classificava no seu Dici onrio, seno como legume de cheiro forte. E poderia ter acrescentado, sem medo de e rrar de pouca ou nenhuma extrao. Em alguns papis do tempo, encontramos referncia vaca alemoa, denunciadora de sua p rocedncia germnica e que era feita com salchichas e repolhos entesados e espremido s, postos mesa com pimenta inteira. Havia ainda a vaca em manguito, furada a pau e recheada de um cabo a outro com toucinho picado, salsa, cebolinha, cogumelos, alhos, chalotas e pimenta. Com designaes pitorescas vamos encontrar, ainda, a vitela em caixa, a vitela em poo ... Preparava-se um carneiro, que se chamava em roupo. Havia ainda o carneiro verde ( com molho de salsa) e o carneiro amarelo, que no era o carneiro morto de ictercia, como talvez se pense, mas coberto com molho de gemas de ovo. O porco no teve l muita variedade de apresentao. O leito assado, entretanto, passou, no tempo, quase dignidade de prato nacional. A farfia acompanhava-o sempre. Cheg ava a enternecer o bicho nas suas aparies espetaculosas, grvidos de recheios da ter ra, nadando em molhos acepipados, a manchar de escuro as bandejas de prata. A galinhola e o frango foram petiscos de alguma preferncia nos tempos coloniais, e mbora aqui escassos e carssimos. Uma clebre galinha Ferno de Sousa, feita com carne iro, toucinho, gemas de ovo e complicados adubos, pode ser citado como um dos gr andes pratos da cozinha portuguesa, do sculo, introduzida no Brasil. Notvel bocado ! Foram os famosos galinceos Ferno que comprometeram a velhice daquele bom Vice-Re i que se chamou Conde de Azambuja, que Deus haja. Havia ainda a galinha em p que, por sinal, vinha mesa deitada, a galinha agrodoce, a galinha de alfitete, outra mourisca, galarotes alabardados, franges estrelados... O perum de salsa real foi pitu de primeira, bem como o famoso perum em botinas, assim chamado por trazer a s coxas recheadas de salpices, trutas, molejas de vitela, tudo cortado em dadinho s. Comiam-se pombos de salsa negra e em compota, patos de piverada com golpes de v inho branco, noz-moscada, pimenta e louro; ganos em caperota, com queijo. Os ovos serviam-se provenal. Havia mais: ovos a capote, ovos verdes, ovos de coma dre, ovos de senhora e ovos pedrados. Pouco amor aos legumes. Variedade relativamente pequena. Para a hora da sobremes a j havia o pudim, bem como os sonhos de massa, pes-de-l, compotas e gelias de fruta . Queijo e manteiga nunca faltavam. O vinho, pouco e s do Reino. Cerveja apenas conhecida. A gua, feli zmente, tima, gua do veio da Carioca, mesmo com todos os seus micrbios do tifo. A aguardente de cana, porm, rescendia melhor. E era barata. A cachaa amiga, cor de topzio, consolo do colono infeliz, alvio do triste, desafogo d'alma em pena, raio d e sol que entrava no pobre crcere colonial... Como a amaram nossos avs! Fazia esqu
ecer. Fazia sonhar.
Interior de uma cozinha colonial Salas de jantar que eram verdadeiros corredores O desconforto na mesa setecentista Com baixelas de ouro e prata no fundo das ar cas, comia-se com a mo Razes de tais hbitos Como comia o Sr. D. Joo VI Moscas, comp nheiras sinceras e inseparveis do homem nas velhas mesas coloniais. Cozinha e Mesa IV Penetramos a cozinha colonial j colocada, como hoje, ao fundo das casas, em cho de terra batida, ampla e de telha-v. O ambiente desagradvel. As paredes acaliadas esto negras pela fumaa e lustrosas pela gordura. Em torno, o bafio do sculo. L est o fogo, pea baixa, enorme, indo quase de parede a parede, tendo ao lado o forn o, de propores respeitveis. A um canto esto os assadores de ferro e madeira, instrum entos de maior relevncia e responsabilidade, diploma e grau dos cozinheiros da poc a. Que um bom mestre assador foi sempre personalidade muito importante nesses la boratrios de Epicuro, onde um frango era tostado ao fogo com tanta arte, que o ar tista incumbido de mov-lo ao espeto at poderia depois assinlo, como um pintor assin a um quadro ou um escultor, uma esttua. preciso ter em mente o preceito de Brillat-Savarin: on devient cuisinier mais on nait rotisseur. A mesa de servio, que se reduz a uma simples prancha, longa e larga, est colocada sobre dois cavaletes, e to negra e to destratada como a parede ou como o cho dessa cozinha imunda. A madeira slida, mas a tbua gretada e escura pela umidade e pelos resduos dos comestveis. H sobre ela, em terrvel mistura: aves mortas, peixes, carnes, legumes, adubos fres cos, em rumas oscilantes. Dentro de potes de barro, loua, caixetas de pau, frasco s de vidro, gamelas e cuias, mil qualidades de especiaria. H tambm colheres de met al e madeira, esptulas, tenazes, tridentes, escudelas, alguidares, conchas, raspa dores, passadores, peneiras, jarros, bacias, foles, todo o arsenal indispensvel p ortentosa oficina criada para alegria do gosto e aflio da sade. Um pouco sobre o cho e sobre a parede, tachos enormes de cobre espelhados a areia , obesos e austerssimos caldeires, reluzentes e embeiadas frigideiras, ralos tortos , talhas, frmas, utilidades de toda sorte e de todos os feitios. Ao centro, o grande pilo de madeira, com a sua mo grande e a sua mo pequena, a boca escancarada e vida de temperos, recendendo, violentamente, a alho, a pimenta e a tomilho. O poo fica do outro lado, com a sua corda, a sua caamba e a sua grande u tilidade. Prepara-se o almoo da famlia. A cozinha uma forja de fragoroso labor. Um escravo p reto, encarapuado de branco e ar feroz dirige o movimento. Tem que ser homem o di retor desse servio. A mulher, contrariamente ao que se v hoje, foi, por todo o tem po colonial, repudiada, tida e havida por imperfeita no servio. Os graduados da ajudncia, nas cozinhas, eram, todos eles, negros, jamais negras. Quando muito, incumbiam-se as escravas de procurar, fora, os mantimentos indispe nsveis ao labor das cozinhas. Iam a compras, de sambar ao brao ou de balaio cabea. Para uma famlia de doze pessoas, com trinta escravos, vemos na cozinha, alm do coz inheiro-mor, seis ajudantes. O chefe, metido no seu longo e aparatoso avental, um tanto injuriado pela gordur a, pelo fumo e pelo tempo, um dspota, que ordena aos berros e tudo dirige a grand es gestos, tendo na mo forte a concha da prova e do comando. Pela terra batida do cho, de envolta com ces, gatos, cabras e at sunos, vindos do fundo do quintal, h mol ecotes de mama, fugidos da senzala, que gritam pelas mes ausentes, de rastros com o reptis, deixando, pelo solo j mido, o sulco das suas necessidades; h mochilas que cruzam, escudeiros, mucamas, pagens, crias, empregados em outros que fazeres da casa, afora os que fazem do ambiente ponto de distrao ou de descanso. A cozinha u m dnamo, cheia, movimentada, ruidosa. De nada valem os gritos do chefe, os protestos da pretalhada da ajudncia contra o s intrusos, desde a famulagem encarregada do servio chamado de dentro, ao porcino
invasor vindo do chiqueiro de fora, numerosos, estorvadores, anrquicos e bulhent os. O tumulto no pra, a confuso no diminui, o labirinto referve. O fogo, no obstante, continua tranqilo a sua grande obra de criar a iguaria supimpa, que h de fazer, d entro de poucas horas, a alegria de todos. E j que se fala em alegria, no esquecer a das moscas, em nuvens compactas, completando o atavio e a majestade do quadro ... Algumas casas coloniais possuam salas de jantar. Algumas. Eram elas, em geral, s imples e acanhados corredores, tais como ainda se vem nas plantas de Debret, plan tas essas, no entanto, feitas j nos fins do primeiro quartel do sculo XIX. A maior parte da populao, porm, comia pelos terreiros, pelas cozinhas, e por outros aparta mentos da casa, ambulatoriamente, sem a preocupao de fixar-se num ponto certo. De resto, assim foi em Frana por todo o sculo XVII. Alfred Franklin, nas Varieda des Gastronmicas, isso nos explica, afirmando que o pobre no tinha sala-de-jantar, bem como muitos ricos. Ainda hoje, em certas populaes do norte da Frana, notadamente na Bretanha e na Norm andia, o lugar de comer a cozinha, na casa do pouco abastado. Lus XIV, em Versalhes, conforme nos informa Saint-Simon, mangeait dans sa chambr e a coucher sur une table carre que l'on installait en face d'une fentre. Nos dias de grandes banquetes, escolhiam-se as maiores salas do palcio para serem transformadas em refeitrio. Se assim foi no pas do Rei Sol, de onde irradiavam com a civilizao, as idias de conf orto e de bom gosto, pense-se um pouco no que seria em Portugal, e, sobretudo, n o distante e abandonado Brasil... No sculo XVIII, para comer, sentavam-se as pessoas em torno s mesas toscas, apenas muito bem atoalhadas, sobre bancos ou banquetas, no raro simples e improvisados assentos compostos de rsticos caixotes e tbuas. A inconfortabilidade, alm de ser do prprio sculo, era um pouco ainda da simplicidad e natural de um povo, que nunca teve a menor noo do verdadeiro progresso europeu. Os nossos avs, no tendo a menor idia de conforto, tinham, entretanto, certa preocup ao vaidosa de luxo. Em arcas de couro ou pau guardavam eles baixelas de prata e o uro. No obstante, a existncia de tais alfaias entre ns justifica-se, na maior parte das vezes, pela necessidade de capitalizar o cruzado ganho. No existindo no pas b ancos ou outras caixas de depsito pblico, essa fortuna mobiliria representava um re curso certo para momentos difceis. Se as casas bancrias j estivessem em voga, ou se j existissem aes de fbrica ou de cam inho de ferro, em vez de baixelas, as arcas de jacarand encher-se-iam, certamente , de cadernetas e ttulos. Houve um tempo, entretanto, em que tal processo de capitalizao foi seriamente ame aado por uma ordem do Reino: a que acabou com o ofcio de ourives entre ns. Que era em demasia o ouro trabalhado que ficava no Brasil, quando dele, afinal, tanta ne cessidade havia na Metrpole. Oficinas de ourives foram fechadas, confiscadas, e s eus artfices, sem trabalho, obrigados a procurar outra vida. Para desamassar a as a de um bule de prata tinha o carioca de mand-lo a Lisboa. Acabaram-se os ourives, mas as baixelas existentes ficaram, embora mais enterrad as, mais sumidas, no fundo das velhas arcas. Os inventrios do tempo esto cheios de las. S por ocasio das grandes festas em famlia eram as mesmas atiradas profusa e espetac ulosamente mesa a fim de dar aos convidados idia da grandeza da casa e da importncia de seus donos, luxo esse que importava geralmente num grande sacrifcio pa ra todos, obrigados como se viam, ento, a comer, por causa dos talheres sem o con forto da mo raspando o fundo das tigelas, ou do dente a arrancar, aos nacos da en gordurada ossaria, a carnia recalcitrante e gostosa... O sculo, com efeito, que foi de pouco talher, foi, entanto, de muitssima toalha, u ma toalha que vestia por completo a mesa e tocava (era chique) o cho, como a saia das mulheres. Precrio foi ainda, entre ns, o uso do guardanapo. No tempo dos gove rnadores, entretanto, eles j apareciam nas mesas oficiais. Fala-nos deles referin do-se mesa do Conde de Bobadela, o astrnomo De La Caille, que aqui esteve em 1750 . E por sinal que fala muito mal, dizendo que os que viu distribudos aos comensai s do banquete, no palcio da governana, eram sujssimos. Impertinncias de astrlogo habi tuado, talvez, s brancuras da Via-Lctea? No se sabe. O que se sabe que De La Caill
e devia entender tanto de estrelas como de guardanapos, uma vez que Arthur Young , no seu livro de viagem Frana, escrito no sculo XVII, j dizia que era ridculo a um francs comer sem guardanapo, acrescentando que um simples operrio carpinteiro, em Frana, tem sempre, hora de comer, o seu, bem como um garfo. O guardanapo j estava, com efeito, na Muse Royale, que data do meado do sculo XVII . Ce linge proprement pli En cent differentes figures. Nas casas mais abastadas, em dias que no eram os de grande cerimnia, todo talher c onsistia apenas em uma ou duas facas postas ao centro da mesa, para o servio de c ortar os grandes pedaos de carne. Em geral, com o dente cortava-se o alimento mais slido; com a mo substitua-se o gar fo. A etiqueta mandava que no se empregassem mais de trs dedos nesse mister. O cov ilhete, seguro pelas orelhas, continente das olhas e de outros alimentos lquidos , fazia as vezes da colher. Num prato, no raro, comiam dois. E, em muitas casas, as gamelas de estanho ou alg uidares de barro eram recipientes para muitos, que nelas mergulhavam as mos, sabe Deus se bem lavadas, no mister de revolver, de delir, de tirar o que, em seguid a, comiam. Apesar da divulgao do talher na Europa, o Sr. D. Joo VI, entre ns, por co modidade e conforto, ainda comia patriarcalmente com a mo. A nobreza da poca, que em tudo imitava o Rei, no podia comer de outra sorte. Havia quem trouxesse na algibeira da vstia ou da rendigote, como hoje se traz um canivete, uma faquinha para a hora da mesa, em jantares, at nas casas de certa ce rimnia. Faca de ponta afiadssima e que ao mesmo tempo servia de palito. Hbito tambm, e velho, foi o de cortar-se no prprio prato um pedao de carne e, como s inal de amabilidade, oferec-lo a um companheiro de mesa. Entre os viajantes estra ngeiros, que surpreenderam a vida do pas em to remoto tempo, Koster descreve o cas o e com ele o seu espanto: Ns fomos, como era natural, surpreendidos ao receber, de diversos convivas, pedaos cortados de carne de seus prprios pratos. Essa gentil eza, etc. O garfo, a faca, a colher, bem como outras utilidades domsticas, no escasseavam ap enas por todo o tempo dos vice-reis. Muita falta nos fizeram ainda mesmo no rein ado do Sr. D. Joo VI. Diz Afonso Taunay que a escravido da monarquia lusitana ao industrialismo britnico era a causa da exagerao dos preos e da natural deficincia desses objetos dos mais i ndispensveis nossa vida civilizada. E no esquece de citar Lindley, que achou o Brasil completamente desprovido de sem elhantes utenslios de uso dirio mesmo nas casas mais abastadas. A observao procede. Portugal no tinha indstria e a do ingls, por preo realmente exorbitantes, era-nos in acessvel. noite as mesas eram iluminadas, por ocasio dos repastos, com serpentinas de vela s de cera, na casa do rico, e com almotolias de azeite, na casa do pobre. As horas de comer foram, pouco mais ou menos, estas: s sete, almoo; do meio-dia at uma hora, jantar; de cinco s seis, ceia. Merenda era uma refeio ligeira, tomada for a das horas marcadas para as refeies habituais. Na hora da mesa, sentava-se cabeceira o dono da casa, que era quem servia. Falava-se pouco. Comia-se muito. E apressadamente. A copeiragem era enorme. Sete, oito, dez escravos, por vezes, em torno a uma mes a de oito a dez pessoas. No esquecer, ainda, os negros que, armados de palmas lar gas ou de espanadores de papel, faziam a tarefa de afugentar as moscas, inseparve is e sinceras companheiras do homem na mesa colonial.
Porta Siqueira e a sua Escola de Poltica Cortesia a observar nos banquetes de cer imnia As cobertas Maneiras de comp-las Cardpios curiosos O caso do Conde de Ana ranscrio, sem grandes comentrios, de um texto de Melo Morais Pai Um bolo que passou Histria. Cozinha e Mesa
So Joo de Nossa da Porta Siqueira, na sua Escola de Poltica ou Tratado Prtico de Civ ilidade Portuguesa, impresso em Lisboa, edio de 1786, saindo das oficinas de Antni o lvares Ribeiro com licena da Real Mesa Censria, livro que era para ns o orculo da civilidade do tempo, pela simples razo de no existir outro orculo, dizia que, convi dada para algum jantar ou banquete de cerimnia, a pessoa devia apresentar-se chei a de agrado e de alegria, de sorte que o vestido o desse a conhecer. Riso, portanto, flor dos lbios cor-de-rosa, casaca verde cor de pensamento, vstia a marela manteiga nova e calo cor de alecrim, que eram as cores mais frescas e alegres d a poca. Em caso de luto pesado, devia-se alivi-lo. O de luto aliviado podia apresentar-se de roupa preta, mas que fosse de veludo ou seda, e com os cabos brancos. Era assim, dando provas de contentamento e louania, que um convidado devia penetr ar a intimidade da casa, que se preparasse para um brdio. No diz Siqueira o momento protocolar dessa entrada, como no diz, ainda, mas sabe-s e, que na hora de ir mesa, quando o convidado chegava ao lugar da refeio, via semp re trs negros vestidos dos mais imprevistos uniformes, indefectivelmente descalos, apresentando: um, uma bacia de pau cheia d'gua; outro, a tigela de sabo, e um terce iro, mostrando, no cabide de antebrao, uma toalha de linho de Guimares, bordada ou toda aberta em renda. As ablues faziam-se, entretanto, rapidamente. As ablues do tempo. Mais etiqueta que asseio. bom no esquecermos a frase dolorosa que est no dirio de Rose Freycinet, qua ndo ela nos fala do Brasil que viu no comeo do sculo XIX: a sujeira geral, e levad a ao cmulo onde h nobres. A sujeira de punhos de renda e de espadim dourado. O que faltava, porm, em matria de asseio, sobrava em matria de religio. Antes de sen tar-se mesa: sinal-da-cruz benedice do po, vrias e tocantes oraes, antes e depois d comida, tudo para provar, mais aos circunstantes que a Deus, a pureza das alminhas incapazes de malcia e pecado. As senhoras ficavam todas de uma banda, na mesa; os cavalheiros de outra. Quando os convivas se sentavam, j estava posta para ser servida, toda a primeira coberta. Depois de sentados, mais uma vez: Em nome do Padre, do Filho, do Esprito Santo... De muitas cobertas compunha-se um repasto por um dia de festa. A coberta era uma reunio de numerosos pratos mais ou menos do mesmo gnero, postos mesa de uma s vez. Uma coberta podia constar at de 30 ou 40 recipientes com iguarias todas diversas . O melhor deles vinha sempre como um grande astro, ao centro, no sopeiro de maior etiqueta, mostrando, em redor, os menores, todos com as suas tampas. Em ltima lin ha que ficavam, ento, os pratos dos convivas, muito bem cobertos com o guardanapo dobrado por cima, quando havia guardanapo. No esquecer a sarabanda de moscas, em torno, furiosas todas pelas medidas de defesa tomadas e que as impediam de goza r as primcias das suculentas iguarias. O nmero de cobertas variava de acordo com as necessidades de momento. Domingos Rodrigues, na sua Arte de Cozinha, organiza desta forma um banquete com trs cobertas: PRIMEIRA COBERTA Trs pratos grandes de perdizes lardeadas, guarnecidas com lombo d e porco de conserva. Coelhos de celada, guarnecidos com paios. Frangos assados, sobre sopas de camoeses. Peruas assadas, com salsa real. Pombos assados, guarnec idos com lingia e po ralado. Peitos de vitela recheados sobre fatias alabardadas. Polegares de vitela assados francesa. Lombo de porco assado com tordos, e galinh ola sobre sopa de amndoa. SEGUNDA COBERTA Trs pratos grandes de perdizes de peito picado, guarnecidas com s alchichas. Coelhos de gigote, guarnecidos de natas. Galinhas de Ferno de Sousa, g uarnecidas com pastelinhos de galinha, falsos, sem massa. Perus recheados, guarn ecidos com mos de porco alabardadas. Aves extraordinrias sobre sopas de peros camo eses. Franges fritos de conserva. Trouxas de carneiro e ovos, guarnecidos com lngu as de carneiro. Pernas de porco estofadas em vinho branco com pexirril e alcapar ras, guarnecidos com achar de cabea de porco. Vinha, porm, ainda uma terceira.
TERCEIRA COBERTA Trs pratos grandes com trs pasteles de todas as carnes. Covilhete d e folhado. Trs tortas de massa tenra de presunto agro e doce. Empadas inglesas. E mpadas de vitela salchichadas. Pastelinhos de galinha, fritos. Empadas de espeto ao lombo de porco. Tortas de fruta e ovos de folhado francs. Pastelinhos de vaca de dama, manjar real. Fruta de manjar branco. Ficava no lugar de honra da mesa o senhor da casa encarregado da tarefa de servi r os convidados, bem como de dar, com bonomia, os maiores informes sobre a compo sio e procedncia do que estivesse a servir. Esta olha levou dois arratis de toucinho de porco, afora outras gorduras aprecivei s, mas sintam como foi tima... De ver a volpia que uma notcia dessas causava assistncia... As narinas ansiosas ren iflavam, como as moscas... Mandava o bom-tom que todo aquele que recebesse do dono da casa o prato que lhe era destinado, fizesse uma leve inclinao de cabea, uma leve meno de beij-lo. Siqueira da Porta quem melhor nos orienta sobre todas essas etiquetas da mesa. a ssim, por exemplo, que ele lembra que no se faz, ao comer, saco com a boca, nem s e mastiga com estrpito, nem se esto mexendo muito os queixos. Proibio expressa de p itada ou de cheirada de rap. Era de bom-tom, com o guardanapo alimpar a boca ante s de beber e no deixar vinho no copo. Quanto ao manejo de colher, informa o auto r da famosa Poltica: grosseria lamb-la, deitar nela caldo ou o molho do prato ou da tigela. Maneira de comer: nunca estejamos enxugando com o miolo do po, apanhando at a ltima gota do molho, que mostra gulodice, antes poltica deixar nele alguma coisa do ma njar que se tirou, que no digam, depois, que o alimpamos. Quanto ao palito, diz o mestre de etiquetas: no parece muito grave palitar mesa. As dentuas, portanto, podiam ser esgaravatadas vontade. A ordem era de Siqueira d a Porta, nico professor de etiqueta com que contava a raa. O que se achava de mau-tom era, depois de palitar, se o palito era de pau, guardlo para as refeies seguintes no cabelo, atrs da orelha ou espetado na casaca. Parece que se achava, pelo tempo, Porta da Siqueira muito exigente, com todo o s eu livrinho e com toda aquela cortesia de que no prlogo ele faz meno, dizendo dela depender a paz da Repblica e a boa harmonia da sociedade. O fato que boas maneiras no as tnhamos. As vocaes da poca, pelo menos, no foram bem a roveitadas. Nem podiam. Francamente. Veja-se, por exemplo, Melo Morais Pai, o pr obo e meticuloso historiador, documentando o que narra. Heri do caso o Conde de A nadia, fidalgo da melhor estirpe e que, de Portugal, veio com o prncipe D. Joo, qu e dele fez seu ministro da Marinha Ultramar. Por sinal que bom ministro. Certa vez, o Dr. Francisco Leal, mdico do primeiro hospital militar do Rio, e que na cidade mantinha uma posio de alta elegncia social e relevo, convidou o Conde pa ra uma merenda em sua casa. L foi o Conde. Seja dito de passagem: esse fidalgo, que muito aparece nas Memrias de Laura Juno t, na sua qualidade de homem de esprito, que o foi e de verdade, detestava, muito naturalmente, a choldra que isso por aqui era. Detestava a morrer. Detestava so frendo. Pobre Conde de Anadia! a Amrica sufocava-o. Tudo aqui lhe era hostil: a t erra, o cu, o sol, o clima, a gente. Gente, ento brbara, mescla de branco arrogante , de mulato pernstico, de ndio rude e negro selvtico. Mil vezes, portanto, a Lisboa usurpada por Junot, com o Joanico falando em francs, e outras humilhaes bem menore s, certo, que a de viver em rinco to ingrato, a reboque uma corte de papelo dourado , ao lado de um rei que era a vergonha de uma monarquia. Mil vezes! O Conde de A nadia, era, na realidade, um homem de esprito. O Conde tinha, depois disso, justas e naturais ternuras pelo seu estmago, vscera n acionalista, e naturalmente idiossincrata dos produtos da nossa terra. O dio com que ele fulminava todos os fubs e mingaus da cozinha silvcola, comida de cabloco repelente e chambo! Na sua casa, o cozinheiro era vindo de Lisboa. E s qua se de conservas portuguesas se nutria, pois muito pouco das coisas do Brasil qu eria, enfim, saber. Por isso, no ia ele comer casa de qualquer. Resguardava a vscera. Defendia-a desse s repastos brbaros, cheirando a cubata ou a taba. No ia a brdio caboclo. Ficava em famlia, empanturrando-se de pescada em salga e bacalhau seco, vindos de l, esmoend o a sua raiva, rafinando as suas blis, esperando, de punho fechado contra o Po de
Acar, que Junot voltasse de novo a Paris, desentupindo o beco lisboeta onde morava . Era um homem assim. No se sabe, portanto, por que razes foi Anadia casa de Francisco Leal, que era bra sileiro, e mais, sentar-se sua mesa, a menos que nela houvesse em sua honra olha s especialssimas moda lisboeta, salpices recm-chegados do Porto, uma pescada portug uesa de escabeche ou algum prato de bacalhau em chamusco. Ora, o que se sabe que o Sr. Conde de Anadia, um tanto empanturrado e feliz, pel o fim do repasto achou-se, de repente, diante de um prato completamente novo. Era um bolo esquisito, de um azulado vago e de aspecto excelente. Que isto ? Indagava ele, entre curioso e gluto. Prove V. Ex, diz uma senhora, a do Dr. Leal, que de outras senhoras ainda se ench iam vrios lugares da mesa. O Conde meteu um pedao de bolo naquela boca que s falava mal do Brasil e gostou. Bom, excelncia? Indaga outra senhora, conhecedora da brasilofobia sistemtica do Co nde. O Fidalgo no pode responder porque comia, entalava-se, mas fez, com a cabea, um si nal que queria dizer sim, muito bom e, com os olhos, arregalando-os, outro sinal que queria dizer: timo! No podia ser melhor! Foi quando algum, ao lado, com todo respeito, informou: Pois V. Ex goza de um doce feito de goma de mandioca, produto desta Amrica... E ia acrescentar: Folgamos todos por ver, to sinceramente, V. Ex reconciliarse com as coisas do Bras il, quando o fidalgo se ergueu numa rajada impetuosa, o olho congestionado, chei o de uma bravura que, certamente, no foi a de seu maiores e... (transcreva-se, ag ora, palavra por palavra, o texto do historiador Melo Morais): para mostrar a s ua repugnncia, fez jogo do resto do bolo que comia pela janela, mostrando-se arre pendido de o haver comido, a cuspir, como enjoado. Entreolharam-se os presentes, estupefatos. As senhoras, ante o gesto de nova e alta cortesia do fidalgo de mais alta linhagem, quedaram-se imveis, petrificadas. S se ouvia o voar das moscas coloniais... O Dr. Francisco Leal, embora filho de uma das melhores e mais ricas famlias da t erra, era um simples mdico do exrcito d'el-Rei, sem pergaminhos e sem escudos. Parec e que, como resposta de maior convenincia e propsito, sorriu. Sorriu e quedou silencioso. Sorriu tambm a dona da casa. Sorriam os convidados. Todos, enfim, sorriram e trataram de esquecer, natu ralmente, os destemperos do fidalgo. Nesse instante, porm, o bolo do Conde de Anadia tinha penetrado a Histria...
Antecedentes O teatro em Portugal no sculo XVIII Baixa comdia D. Maria I e o escrpu lo dos seus confessores Triste fim de um teatro O mais antigo teatro pblico do Ri o de Janeiro Palcos de pera improvisados por ocasio de festas populares.
Teatro I Enquanto na Pennsula, pelo correr do sculo XVIII, a Espanha ainda conservava um te atro com certo cunho de originalidade estouvada e galante, em Portugal os ptios d a comdia desmoronavam, desluzidos, aviltados, sem escritores, sem atores, quase s em pblico. Diz Tefilo Braga, que com a decadncia geral da nao portuguesa o teatro atrofiara-se de tal sorte que chegou a ponto de querer extinguir-se. Concorda essa afirmao com as opinies expendidas por vrios viajantes estrangeiros, entre outros, o Duque de Chatelet Le Thtre portugais est, au dernier degr, parmi les thtres de l'Europe. A tr dio dos autos quinhentistas havia desaparecido, bem como as tragicomdias, to do peit o dos jesutas. Nem mais restavam as farsas gentis trazidas aos palcos de Lisboa n o tempo dos Filipes. O teatro corrompera-se, deprimira-se, degradara-se, tornado em espectro daquilo que um tempo fora. Todo ele se resumia ento na cpia reles, no
decalque grosseiro da comdia estrangeira, sem a menor sombra de adaptao nacional, sem o menor caracterstico que no fosse o da chulice obscena, degenerando, at quase ao crepsculo do sculo, em espcie de sarjeta mal varrida, onde extravasavam os humor es e as dejees morais de uma sociedade que deliqicia. Joo Salgado, na sua Histria do Teatro em Portugal, lembrando certos tipos grotesco s e decadentes que tanto faziam gozar as platias na trama dos entremeses, diz que o povo inconsciente ria sem saber que ria, escarnecendo de si prprio. As obras-primas do grande teatro estrangeiro, as comdias, os dramas e as tragdias de Shakespeare, de Corneille, de Molire, de Racine, de Goldoni, de Caldern de La Barca ou Lope de Vega, no conseguiam nunca impressionar. O que a platia iletrada q ueria era a chalaa grossa e pimpona, em linguagem crua e boal, se possvel com a pim enta acre da pornografia, raspando as insolncias e as chamboces de calo. Tudo o qu e fosse chato podia vir, tudo, contanto que no obrigasse o crebro daquela gente a discernir ou a pensar. Os que q uiserem ter uma idia desse teatro licencioso e grosseiro atravs de uma eloqente tra nscrio que no feito aqui porque nos falta coragem para tanto leiam no livro de Raul Brando, Rei Junot, pg. 115, o trecho de certa farsa que comea assim: Ento no me compra estes caes? Mil vez es as pornografias de Bocage que, ao menos, eram feitas com mais graa e mais tale nto. Nisto se resumia tal teatro: entrecho frvolo, situaes picarescas, linguagem dissolu ta. As personagens das passadas farsas: a moa casadoira, o elegante ridculo, a ve lha intrigante, o fidalgo pobre... A figura faanhuda do Diabo tambm era bastante reclamada. Arrastavam-no cena. E l vinha ele, o pobre, tinto de verde ou rubro, sempre chifrudo e amofinado, de unhas rapaces e de cauda em rosca. Diziam-lhe no mes, apupavam-no, assobiavam-no, arrasando-o com formidveis e estrondosssimas pate adas. Isso tudo era um gozo! Foi precisamente a esse teatro que a crtica, mais ta rde, achou de denominar e com toda a propriedade baixa comdia. Baixssima... O teatro em Portugal, por essa poca, desceu tanto que passou de arte a cio. Com ef eito Nobre cio foi a legenda que o famoso Joo Gomes achou de dependurar no pano de boca do Teatro da Rua do Salitre. Aumentando to triste decadncia, uma ordem da rainha D. Maria I, urdida pela beatic e funesta do seu confessor, o Arcebispo de Tessalnica: nos ptios de comdia, no mais poderiam representar as mulheres, aquelas as quais, mais tarde, o famoso padre L agosta acabou chamando boas vasilhas e melhores reses. E as mulheres no mais repr esentaram. Para justificar a nova medida, recordavam-se as rixas contnuas que em nome das co mediantes, no raro, transformavam os gostosos e alegrssimos entremeses em pungente s e tristssimas tragdias. Na verdade, por elas, sempre andaram como por todo o scul o, as durindanas no ar. Acabou-se enfim, com a Senhorita de Comdia, quando mais fc il seria acabar com as durindanas. Passaram, assim posto, musculosos e barbudos cavalheiros a viver os corpos vapor osos das ingnuas. Ins de Castro, nos teatros do Bairro Alto, com a barba por fazer ! Ou a loura Adriana do Labirinto de Creta, com voz de bartono, ouvindo os derrios de Teseu: Na pura neve Dos teus candores Os meus amores Se alteiam mais... Balbi, falando dos atores desse tempo, lembra um famoso Filipe, tido como o de m aior talento, de uma fealdade notvel, de idade avanadssima e que ainda representava papis de damas galantes... Tambm acabou a Sr D. Maria I com as cortinas nos camarotes, e com a entrada na pl atia das mulheres de porte duvidoso que vo servir de escolho virtude, como se a ca stidade do sculo de h muito no vivesse naufragada. Nesse particular, as ordens rgias no foram l muito eficazes, uma vez que a escurido das salas passou a suprir a cortina dos escndalos, enquanto que a mantilha salvav
a das vistas do Sr. Intendente da Polcia mulher que servia de escolho virtude. E menos por elas, agora, que pelas ingnuas masculinas o tablado, recomearam as ri xas de novo. Era positivamente um escndalo. Se fosse possvel inventar um terceiro sexo capaz de pr paradeiro a tais contendas, mas qual! Vem-nos a memria a frase do grande Antero pintando a poca O Esprito peninsular des cera de degrau em degrau at o ltimo termo da depravao. S havia um meio para acabar com to srios desatinos que faziam o Sr. Arcebispo de Li sboa pensar nos castigos de Lu em vsperas, talvez, de cair sobre a nova e incorrigv el Sodoma: mandar fechar os teatros e desterrar os cmicos e cmicas. Foi o que se f ez. E, assim, acabou, um dia, em Portugal, essa arte to dignificada pelos gregos e que a Renascena da Europa sobremaneira enobrecera e amara. Pergunta-se, agora com um teatro desses, na Metrpole, que poderia haver no Brasil ? Dava-se com ele o que se dava com todas as outras artes: Portugal que, sob o p onto de vista artstico, nada tinha para nos dar, nada nos deu. Alimentando, porm, a trivialidade desse movimento intelectual, ns vamos encontrar o Brasil fornecendo Metrpole, um pouco antes da era dos vice-reis, o esprito do ma ior escritor de teatro da lngua portuguesa durante o sculo XVIII, Antnio Jos da Silv a, o Judeu, nascido nesta herica e leal cidade de S. Sebastio do Rio de Janeiro e queimado pelo Santo Ofcio, ainda moo, no Campo da L, em Lisboa, o mesmo Antnio Jos qu e arrancou pena de Camilo Castelo Branco esta tirada pattica: Seio altssimo, se no te abrisses quela alma criada ao bafejo da tua, que seria de ti, Deus? Que seria de ti, palavra? No era um gnio da comdia. O Brasil nunca produ ziu gnios. No foi um Molire, um Goldoni, ou um Lope de Vega. Sufocado pelo ambiente de decadncia em que vivia, fez, entretanto, o que pde. Noutro pas, talvez fosse, h oje, um nome universal. Talento no lhe faltava, esprito de observao, nem aquela espo ntaneidade humorstica que tanto fez rir os homens de seu tempo. No Rio de Janeiro, depois do ensaio tentado pelos jesutas, o teatro vai aparecend o associado aos grandes festejos oficias, incorporado s encamisadas, s cavalhadas , s touradas e s luminrias com que se comemorava a data do nascimento, do batismo o u casamento das pessoas de sangue real, em festas magnficas de pompa imposta pelo s governadores ao povo, que as pagava sempre. H notcia, ainda, de peas representada s em conventos, que os tivemos to divertidos como os de Portugal. Teatro pblico, o mais antigo nesta cidade, parece ter sido o da pera dos Vivos, is so no tempo dos governadores. Morreu Vieira Fazenda, o grande pesquisador de coi sas cariocas, sem desvendar, por completo, o mistrio desse teatro que tanto o pre ocupava. At a pera do Padre Ventura no se fala, na verdade, em outro teatro, a no ser no que se fazia em palcos improvisados nas praas e ruas desta cidade por ocasio dos grand es regozijos oficiais. Quando aqui se recebeu a notcia da proclamao de D. Joo IV, Salvador Correia de S e Be nevides ordenou que se construsse um palanque para servir de teatro no Terreiro da Pol. Em 1762, por ocasio das festas pelo nascimento do prncipe da Beira, diz-nos a Epanfra festiva que se deram ao povo trs peras num palco construdo junto residncia dos governadores. Por ocasio da chegada a esta cidade do Marqus do Lavradio houve , ainda, conforme se l na sua correspondncia particular, trs dias de pera alternados com trs dias de outeiro. Quando subiu forca, em 1792, o alferes das milcias de Minas, Joaquim Jos da Silva Xavier, o Tiradentes, em sinal de regozijo pelo desaparecimento do grande heri, o s portugueses organizaram festas espantosas. Pois no foi esquecido um palcozinho erguido junto igreja da Cruz...
A Casa da pera, do Padre Ventura A histria verdadeira de um incndio que passou Histria O teatro de Manuel Lus O dia da inaugurao do famoso teatro Cenas edificante . Teatro
II Quem saltasse a linha da Vala, que o Sr. Conde da Cunha mandou fazer para que nela corressem as sobras das guas que vinham da Carioca, no lugar que hoje corresponde ao Largo do Capim, havia de encontrar, pelo meado do sculo XVIII, a Casa da pera, do Padre Ventura. Esse padre, que melhor servia a Tli a que ao bom Deus, numa amvel transferncia de sacerdcio, era um pardavasco maduro e feio, de enorme corcunda e, ao que se diz, de maior vocao para a msica. Foi o fundador do teatro. Era seu empresrio, diretor de cena e regente de orquest ra. Por vezes ainda trepava ribalta, na unha adestrado o instrumento dos seus de svelos, o violo patrcio, deliciando o auditrio com uma virtuosidade acentuadamente nacionalista, que se recomendava por um repertrio composto s de modinhas brasilei ras. Bougainville que, pelo governo do Conde de Cunha, conheceu teatro e padre, infor ma, entretanto, que ali ouviu peas de Metastsio por uma companhia de mulatos. E ac rescenta que havia msica italiana, por sinal que m e regida pelo prprio eclesistico. Devia ser uma orquestrazinha cheia de boa vontade, entretanto, formada com elem entos regionais colhidos entre os mesteres, que, como se sabe, timbravam por ma nter filarmnicas adestradas para os dias em que punham na rua o estandarte do ofci o, a engrossar a cauda devota das procisses. O teatro do padre era um teatro popu lar, sem pretenses a ser o melhor da cidade, embora o fosse, pela simples razo de nela no existir mais nenhum. A sua prpria colocao, fora dos muros da urbs, afastada do melhor ncleo da sociedade do tempo, explica a sua inteno modesta. Naturalmente, l iam, por vezes, o vice-Rei, o Ouvidor, o presidente do Senado da Cmara, o Juiz d e Fora e alguns notveis do comrcio ou da tropa. Essa Casa de pera acabou um dia numa apoteose de labaredas, quando nela se repres entava a pea do patrcio Antnio Jos, Os encantos de Media. Ha quem afirme que o portug us, irritado com a nota nacionalista do padre, invejoso ainda dos sucessos de tea tro, foi quem mandou mo criminosa atear-lhe fogo. Injusta acusao. Injustssima. Apesar das velhas prevenes e da constante irritabilidade existente entre portugueses e filhos da terra, tudo leva a acreditar na casualid ade do desastre. Basta, para isso, ler com demorada ateno a pea de Antnio Jos, repres entada nessa noite. Na cena V, da primeira parte da pea, h uma tramia, como se dizia ento, que, por si s, justifica o infortnio do padre. quando, para um jardim, onde, segundo a rubrica, estar um velocino que um carneiro de ouro, entra Jaso, cavalgando Pgaso, que traz asas e que se detm em face de um drago. Fala o personagem ao monstro todo cheio de escamas prateadas, naquele jardim mis terioso a vomitar, tranqilamente, fagulhas pela goela: Horroroso drago, espantoso aborto do abismo, apesar das sombras e do furor com qu e conspiras, hei de domar a tua fria cegando-te, primeiro, com o chiflito do meu a nel e, ao depois, tirando-te a vida com o penetrante desta espada. Esclarece a rubrica. Mata o drago que, em urros, se meter por um buraco do tablado, de onde sairo chamas de fogo. Ora, vamos todos acreditar no triunfo de Jaso sobre a fera mitolgica porque, enfim , da pea e, se a fera no desaparece o fio do drama se modifica. Mas, para salvar o portugus da pecha injusta de incendirio, com todo o nosso senso de deduo e de lgica, vamos pr em dvida a proficincia do pirotcnico incumbido de organizar o fogo, que ac abaria por sair do sulco aberto no prprio palco. A menos que o anel de chiflito, q ueimando o olho ao drago, queimasse tambm o do incumbido de zelar pela tramia, quei mando tudo. O fato que Jaso, naquela trgica cena do jardim, no acabou, apenas, com o drago acabou tambm com o teatro do Padre Ventura, bem digno de melhor sorte. Imp rudente Jaso! Surge depois disso a Nova pera de Manuel Lus. A viola nacionalista do padre calara -se. Substitua-a o fagote reinol do danarino Manuel, que o soprava, dizem, perfeio. De resto, ao jovem filho de Euterpe no sobrava, apenas, aquela embocadura virtuos a com que ele arrancava ao bojo do instrumento predileto o mximo que um fagote co
stuma dar; Manuel Lus, sobre ser inteligente, era esperto. Sonhava as graas do vice-rei. Obteve-as. Ideou um teatro que fosse o mais aparato so da colnia. Conseguiu-o. Devemos-lhe esse grande servio, mais estimvel, pelo menos, que o seu fagote, as su as gmbias bailarinas e aquele talento que ele no pde, ou no quis pr a servio do teatro . Essa Casa da pera era instalada em um edifcio ao p do casaro vice-real, amplo, confo rtvel e at luxuoso. Mostrava, interiormente, duas curvas de camarotes (cortinas) e frisas (foruras). Se havia l pela ltima fila de lugares um camarote ou rtula de fra de, com o clssico crivo de madeira ou palha, no sabemos. Ningum sabe. Parece que no Brasil, contrariamente ao que ocorria na Metrpole, onde o descaramento fradesco tambm era notvel, tanto o frade como o padre freqentavam comdias, livremente, sem os embuos discretos das baignoires. Para o vice-rei haviase marcado um camarote amp lssimo, com sanefas e bambolinas escarlates, o escudo real bordado a ouro no band eau principal. O corrimo era coberto de belbute, para que nele pousassem, na hora do espetculo, as mos carregadas de anis de S. Ex, lustres e candelabros pejados de velas de ceras, num desperdcio nababesco de luzes. Os espectadores da platia assis tiam ao espetculo de p. De resto, no Teatro da pera, em Paris, assim se assistia ao espetculo at fins do sculo XVIII. A orquestra, no local onde ainda hoje se coloca. At a chegada do Sr. D. Joo VI, o teatro de Manuel Lus foi o rendez-vous da melhor s ociedade do tempo, a diverso de maior elegncia e de maior brilho. Por ele passaram os grandes comediantes da cidade. Do seu elenco fizeram parte entre outros: a Lapinha, Joaquina da Lapa, posando c omo ningum em tablas, a Rosinha, que endoidecia platias, desnalgada, sapateando a fofa, o lundum, o sarambeque, o arrepia, o oitavado e outras danas: a Maricas, r esolutssima, que nos programas figurava com o nome de Maria Jacinta, e a Passarol a, de to lamentveis recordaes... Jos Incio da Costa, o Capacho, e o famoso Ladislau o cmico que mais fez rir os noss os avs nos tempos dos vice-reis foram elementos masculinos de maior ressalto. A documentao referente a este assunto pauprrima, motivo pelo qual deixamos de cons ignar lista mais farta de artistas, que sobre o palco do teatro de Manuel Lus pas saram fazendo gals de ponta de cena, segundos gals, pais graciosos, barbas, lacai os e pais nobres, designaes sob as quais ento se conheciam os gneros de diferentes personagens. Os espetculos comeavam cedo e cedo acabavam. As quintasfeiras eram os dias chique s. As peas representavam-se apenas algumas vezes por semana. No se conheciam espe tculos em matins. O dia da inaugurao do teatro de Manuel Lus foi um acontecimento notvel na cidade. As cadeirinhas, as liteiras e as seges de arruar chegavam at ao Largo do Carmo, em fila numerosa e luzida, para repousar dos bamboleios da marcha nos seus pesados correes de couro cru. A turba pitoresca dos negros da conduo, dos lanterneiros, dos criados de facho ou tocha estatelava sobre os caminhos mal varridos, maculando os pesados fardes da etiqueta, abertos desafogadamente, aliviando a alma ingnua. E nquanto os senhores se deliciavam nos espetculos da pera movimentada, dormiam os fm ulos ou ouviam o dedilhar dos violes que os bolieiros dos coches arranhavam do al to dos seus veculos. As alimrias, fora de varais, desatreladas, soltas, vontade, c ontentes, pastavam perto ou espojavam-se, refocilando na terra fresca do largo d o palcio. Era um recreio em famlia. De resto, esse espetculo curioso foi comum, entre ns, mesmo at fins do Primeiro Rei nado. Jacquemont, na visita que nos fez em 1829, dele nos fala, surpreso de hbitos to patriarcais. Para os efeitos da ordem, cruzavam de quando em quando os drages do vice-rei, pir ueteando nos seus cavalos de boa estampa. Que linda noite que foi a da inaugurao dessa famosa pera! O poeta Alvarenga Peixoto deitou soneto. L estavam quase cegos por aquela orgia de luz de que se falou dep ois, durante semanas inteiras, o Marqus do Lavradio, vice-rei, de estado, no seu p omposo camarote de gala, o peito carregado de cruzes e medalhas, fazendo-se rode ar das figuras mais representativas da cidade... Pelas foruras de relevo, que eram as do fundo, estavam os membros do Senado da Cma ra, do Tribunal da Relao, do Juzo de Fora, da Ouvidoria da Comarca, do Juzo da Admin
istrao, da Mesa da Inspeo, da Junta do Real Errio, da Provedoria da Fazenda, da Casa da Moeda, da Casa dos Contos e do Juzo da Alfandega e, em postos mais modestos, n egociantes, traficantes de ouro e pedras em Minas, homens das profisses liberais, oficiais da tropa e mais funcionrios do Estado. Um rendez-vous luzido de mal-alambrados casquilhos metidos em cabaleiras de empo ar, com seus laarotes de fita sobre o dorso das casacas coloridas, bordadas de se da frouxa ou de ouro; vstias berrantes de cor, mostrando peitilhos de renda da In glaterra, espadins de cerimnia, os rostos pintados a carmim e cobertos de sinais de tafet. Viam-se senhoras, embora raras, de saias tufadas em armaes e barbatana e arame, bo judas e monstruosas, calando cetim, os diamantes dos colares grosseiros, pesando na curva dos seios morenos que S. Ex o Sr. vicerei incendiava com o seu olho lasc ivo de stiro, atravs da luneta de cristal. At que subisse o pano, pintado por Leandro Joaquim, conversava-se ruidosamente, b ulhentamente, em altssimas vozes, como se estivessem todos numa grande festa de i ntimidade ou numa feira ao ar livre. Olhe s aquela, senhor primo, como se apresenta na sua guarda-infante! a bujarron a. Que saia! Que exagero!... At parece a Passarola do Padre Gusmo, senhora prima... de ocupar duas seges de uma s vez... A m lngua no descansava: E os peitos da Ouvidora, repare, veja como so grandes de mais para as suas j to lar gas vitrines. Est a pedir o trs-ventos do marido... Os dilogos, por vezes, durante o curso das representaes, estabeleciam-se mesmo entr e os espectadores e atores, em cena. Havia discusses, protestos, chufas, assobios , no raro, pancadaria. Hbitos do tempo. Hbitos exticos, como aquele de beliscar as m ulheres sempre que uma oportunidade aparecia, vcio portugus que levava o prprio D. Joo V, como nos ensina o Bispo do Gro-Par, a disfarar-se em mendigo, a fim de ir bel iscar, vontade, as devotas freqentadoras de S. Roque. Tambm entre ns, introduzido pelo reinol, o belisco aqui fez poca. Ah, como os aferroa a calhar o Sr. Visconde, Sr D. Brgida. Que arte profunda de beliscar a daquele homem! Que dedos! so tenazes de amor! Devo trazer roxas as ndegas! Bem se e Lisboa. Lisboa amiga, Sodoma amvel, exportadora do estortego de m-tom, mimo de Portugal! Trazem elas Rodelas de tafets Na gracinha dos cares, E em carnes no paralelas Desaforados sinais, Rodelas de belisces... E assim correu o teatro de Manuel Lus at os derradeiros rasil, o Sr. Conde dos Arcos, em 1808. Nem so dedos, senhora, v que est mesmo chegadinho d etiqueta, do pincho, do bo
dias do ltimo vice-Rei do B
Teatro de tteres Tteres de porta Tteres de capa Tteres de sala Um espetculo curi spectadores do entrem Descrio da pea A crtica do Sr. Tesoureiro-Mor do Juzo da Alfndega. Teatro III O teatro de bonifrates supria no sculo XVIII, entre ns, a deficincia de palcos e ca sas de espetculos. Era uma ingnua diverso do povo. Explicando a sua existncia, se outros documentos no possussemos, bastaria a recordao da pera dos Vivos, de que nos fala Vieira Fazenda, e cujo ttulo parece recordar qu e o elenco de tal pera menos era de tteres que homens, mais de vivos atores que de imagens.
Por certa documentao por ns compulsada em Lisboa, chegamos a compreender a existncia de trs grupos distintos desse curioso teatro de bonecos no Rio de Janeiro, pela p oca dos vice-reis: o grupo que se pode chamar dos tteres de porta, improvisado e spetculo vivendo apenas do bolo espontneo dos espectadores de passagem, o dos tteres de capote, ainda mais rudimentar que o primeiro, embora mais popular e mais pit oresco, e, finalmente, o dos tteres de sala, este ltimo j em franca evoluo para o tea tro de personagens vivas e com ares gentis de ptios de comdia. Vamos encontrar em ruelas afastadas do centro, freqentadas pela escumalha das rua s, os teatrides do primeiro gnero. C est um. uma porta escancarada, onde uma colcha de cor escandalosa se coloca lati tudinalmente a dividi-la em duas pores distintas. Na parte superior, que um vo, forma-se a boca de cena, aberta, sempre, ao boneco que aflora e que gesticula animado pelas mos de um homem escondido e que, com o i ndicador, move-lhe a cabea, e, com o polegar e o mnimo, os bracinhos nervosos. No h cenrio. Na parte inferior est a coxia com os seus sobressalentes de bonecos, contra-regra gem completamente fechada aos olhos do pblico. Aqum soleira, o indefectvel cego da sanfona ou da rabeca, zurzindo a corda desafin ada do instrumento. Ao solo, em funo discreta, a larga escudela das receitas, mos trando, ao fundo, sempre, uma moeda de prata nova, posta pela mo do empresrio, des ejoso de encorajar a generosidade do transeunte. A platia pode ser curta, mas sempre atenta e generosa. E no se compe apenas, como t alvez se pense, da massa vagabunda de ambulantes e de escravos, boquiaberta, tod a ela, espera da bexigada final que os h de fazer arrebentar de rir. H muita gente de meia de seda e de culo de punho de ouro, que tambm pra e goza a ingenuidade do espetculo, no esquecendo de escorregar a sua contribuiozinha. Os tteres de capote, que eram ambulantes, andavam pelas feiras, pelos adros de ig reja, em dias de festa, e por lugares de movimento maior. H Te-Deum em So Bento? No adro da igreja, necessariamente, haver, pelo menos, um de sses teatros de improviso, entre os mendigos e as negras vendedoras de cuscuz, d e alu e de laranja. Curioso, porm, ver a boca de cena dessa pera improvisada, feita pelo prprio empresri o com o panejamento amplo do seu capote, traado de ombro a ombro, em linha horizo ntal, de tal sorte formando o campo necessrio movimentao do boneco. Escondido na pregaria da capa, que tomba at os joelhos do homem-palco, est um guri que d ao personagem de pano e massa o movimento necessrio. O homem-palco , ao mesmo tempo, homem-orquestra, pois que, com os dedos repinica a viola da funo, que o capote nem sempre dissimula. Deixemos, porm, o adro de So Bento, que os melhores tteres esto na parte baixa da ci dade, e no so diurnos como os primeiros. A sombra da noite, felizmente, desce. Tom emos em Santa Rita a linha da Rua da Vala e desamos como quem vai Carioca. Ali, Rua do Cano, quase ao chegar casa do SargentoMor Albino dos Santos Pereira, comandante do quarto tero de infanteria dos pardos libertos, est uma casa de cima lha, saliente, com o seu vetusto telhado acaapado e feio, mostrando de um lado o indefectvel culo de cruzeta de ferro, e, de outro lado, uma porta larga, desenhada em curva, pelo arco de ressalva, e de onde uma lanterna de azeite se dependura, soltando no ar um penacho largo de fumo, conseqncia e vcio de uma torcida gasta ou mal cortada. uma pera de tteres, recm-montada, sala de fantoches, teatro de bonecos. ombreira da porta do lado direito, o tricrnio sovado sobre uma cabea encanecida e triste, pra um cego, tocador de rabeca, arrancando s entranhas do instrumento esv anecido os compassos de um minuete que plange. esquerda, o homem incumbido de ve nder os lugares, o cobrador, todo metido numa indumentria de pompa e escndalo, um largo varapau enfitado na mo grossa, ora recebendo as moedas da entrada, ora, em voz rouca, muito srio, apregoando o valor da pera nova que se espeta no cartaz. Para ouvir os guinchos da rabeca, o povilu, junto, se acotovela: so praas livres do s teros auxiliares, de fardo azul-negro e polainas de seis botes, arrogantes e voze irudas, mestios de chapu chamorro derreado sobre o ombro e capote de embuo cingido
em panejamentos complicados, frades, dos que cheiram tudo, de nariz aceso a copzi os do bom tinto, hipocritamente a chocalhar os rosrios de jacarand, mendigos escra vos arrastando as suas elenfantases, mal arrimados em precrias muletas, marinheiro s, meirinhos, ciganos, gente de condio melhor, de ar importante, as mos nas algibei ras esbeiadas das vstias de pano pobre, gozando o minuete, alegrando-se com a lumi nria, comprazendo-se, enfim, com o ver entrar os felizardos que, de quando em qua ndo, desovados daquela massa colorida e compacta, passam pelo homem do varapau v istoso, largando a sua meia pataca da entrada e desaparecendo logo, atrs de uma c ortina vermelha e suja que separa o vestbulo da sala de espetculos. Sbito, vindo das bandas do Terreiro do Pao, uma serpentina que chega em marcha sua da aos gemidos compassados de dois negros, que estacam em meio rua estreita, dia nte da porta da pera, fazendo a patulia virar-se, toda, curiosa. A cadeirinha de luxo pousada de leve. Que a carga preciosa. A besta humana, aliv iada, resfolga. Abre-se, ento, um sulco entre o povilu para deixar passar o figuro, que j rasgou a c ortina do veculo. Ningum mais indaga quem seja porque todos logo o reconhecem. o Sr. Tesoureiro-Mor da Mesa Grande do Juzo da Alfandega, velho amador de bonifrates, que, vestindo d e seda, tresandando a gua-decrdoba, o rosto coberto de sinaizinhos de tafet, vem pa ra o novo entrems, do qual um seu colega do Juzo da Balana falou como sendo obra mu ito de ver e de gozar. Os soldados dos teros auxiliares perfilam-se, os mestios do de ombros, os frades se encapuam, enquanto as mos lvidas dos mendigos se estendem para que nelas tambm tomb e o vintm de Sua Merc. O grande funcionrio rompe a massa e enfia pela casa de espetculo, largando na mano pla do porteiro, que dana uma cortesia de mergulho, a moeda da tabela. Vamos seguir o Sr. Tesoureiro-Mor da Mesa Grande do Juzo da Alfndega, que j penetro u na sala da pera, com as suas paredes brancas e tristes, apenas marcadas a negro , de espao a espao, pelo fumo das lanternas de azeite que ardem em torno, lanando s obre a face do auditrio um claro amarelado e bao. O ambiente no agrada. A gua-de-crdob a do tesoureiro no consegue minorar o bafio nauseante que se espalha pelo ar, hos til a pituitria delicada, bafio insolente e que j pelo tempo se chamava cheiro de natureza... Em face aos espectadores est armado um palco minsculo, onde marionetes de 30 a 50 centmetros devem mover-se em cenrios de papel. O varapau enfitado do cobrador anuncia, a bater ruidosamente no solo, que vai co mear a pera do anncio. J se fecharam as portas da rua, e o cego da rabeca, no recint o da folgana, recomea, no seu desafinado e lgubre instrumento, o minuete tristssimo. Faz a rabeca a ouverture. Cala-se depois. Segue-se um silncio profundo, apenas in terrompido pelo plic-plic das tabaqueiras que se fecham e pelo assoar discreto d e algumas bicancas besuntadas de rap. Numa folha de papel, pendurada guisa de cartaz, l est o nome da pea: O desespero de D. Brites que perdeu na festa da Glria as suas anquinhas de arame ou a escola das novas scias. Incisan Joco-Sria Anatmica e Crtica por Pantufo Gabin da. O ttulo , no entanto, menor que o destempero dramtico. As trs pancadinhas do estilo para o sinal do pano e o homem do varapau que solta um psiu prolongado para que se calem, de vez, os rudos das tabaqueiras e narizes. Silncio! Obedece-se, gostos amente, ao homem do varapau. Pano ao alto. J a pea. O cenrio de papel recorda o Largo do Carmo. V-se o chafariz beira-mar, o casaro do Teles, o palcio vice-real e a baa, ao fundo. Surge D. Brites, seguida do moleque C azu. Atrs dela, D. Sancha, a mame, e o casquilho Vaporim. Os bonecos vestem de pan o, tm a cabea de papelo, movendo os braos de madeira articulados por molinhas de fer ro. A boca de cena do teatro marcada, de alto a baixo, com arames verticais, paralel os, de modo a esconder ou confundir as linhas que movimentam os fantoches em funo.
O entrems desenrola-se ao agrado da platia. Os espectadores riem, gozam as pacholi ces do moleque, os arremessos da velha e os dengues afeminados de Vaporim. S o ho mem do varapau de ar amofinado e gasto que no goza. Embotou-se. Sbito, aparece um frade. A platia gargalha. Surge depois dele o fidalgo pobre da pragmtica. A platia exulta. D. Brites, finalmente, perde os arames da saia. A a sala quase vem abaixo ! O capito Jos de Oliveira Barbosa, da Academia de Geometria, confessa a um cavalhei ro, que lhe fica ao p, que jamais vira pea to engraada. O outro nem lhe pode respond er, a palavra estrangulada na garganta por uma convulso de riso. um desafogo insl ito de gargalhadas gostosas, um contorcer unnime de diafragmas, um jbilo histrico e escandaloso, que chega at a impressionar o homem do varapau enfitado, ali mais p ara os efeitos da receita que para gozo de uma pea, qui por ele prprio escrita e ens aiada. E com mutaes de cenrio, a farsa continua at a cena final, onde D. Bries entra na pos se da anquinha que o peralta descobre e D. Sancha, amolecida pela galantaria do jovem, cede-lhe a mo da filha, que desmaia. quando o cego da rabeca, ento, numa ria que recorda os cantares dolentes dos cafuzos da terra, faz, de novo, a rabeca g emer angustiosa, acompanhando o vozeiro atenorado do empresrio que precipita o fin al com uma toada lrica que muito agrada: Deixa que eu morra Desta ferida: Que melhor vida Morrer por ti. Se me desejas Da morte isento, No te retires, Pois s me alento Com o ver-te aqui. Como no h entrems sem pancadaria, para acabar a pea entram as bexigadas. A turba, de alma feliz e confortada, gargalha, aplaude. E o pano desce lentamente. Afasta-s e a cortina vermelha e suja da porta de sada, por onde se vai escoando a massa es pectadora. A todos agradou imensamente a incisan. A todos? No. O Tesoureiro-Mor d a Mesa do Juzo da Alfndega, conhecedor, a fundo, no s das peras de bonecos como das pe ras de vivos, deu por mal paga a sua pataca. Sua Merc no gostou. As razes explica-a s ele ao homem do varapau antes de sair, metendo o espadim de cerimnia sob o capo te a neglig: Mau de todo esse Pantufo Cabinda, que melhor fora fazer presepes a entremeses. A pea chula. Os cenrios pssimos, quando o Muzzi por a f-los como ningum. Cousa fraca, ulgar. E enfiando pela narina vasta uma bolada de rap: E os versos? Os versos, homem, todos eles surripiados s peloticas do Antnio Jos... Uma moeda perdida!... Causas da decadncia e do atraso da medicina em Portugal Ensino de anatomia em Coi mbra O carneiro esfolado do Dr. Gomes Teixeira Mdicos e cirurgies em Portugal e no Brasil Os licenciados O Dr. Jacinto Jos da Silva Mdicos brasileiros formados na M etrpole Os mais notveis. Medicina I influncia poderosa dos jesutas deve-se a decadncia, o atraso, quase o desaparecimento da medicina em Portugal, que at a poca do descobrimento do Brasil tanto florescera. Tudo porque, para aqueles intolerantes e fanticos loiolistas, o nosso corpo, obra de Deus, no podia sofrer o desrespeito nem o agravo da pesquisa humana. Diante de to inslita e nefasta teoria, que colocou o velho reino quase fora da civ ilizao, embora muito perto do Cu, s restava um recurso aos que se sentiam com vocao pa ra a carreira mdica: emigrar, e num pas, de maior cultura, embora de menor religio, beber o ensino que se lhe negava em Portugal.
No ano de 1750 era assim, com efeito, que se ia estudar anatomia Coimbra. Quem c onta Manuel Chaves, mdico portugus A anatomia daqueles tempos, em Coimbra, era d ada em casa do lente Francisco Gomes Teixeira, que aos alunos mostrava um carne iro esfolado, numa bacia de prata, e dizia-lhes: este o fgado, este o bao, est as as tripas... Com to singulares mentores no podia, na verdade, existir uma razovel medicina na Me trpole. Nem no Brasil. Que possuamos ns, porm, pelo tempo, como indivduos capazes de curar, mas todos, mais ou menos, equivalendo-se na arte de investir contra a vida do prximo? Possuamos, em primeiro lugar, os mdicos e os cirurgies formados em Coimbra, passan do, todos eles, pela bacia de prata e pelo carneiro esfolado do lente Gomes Teix eira, ases famosos da medicina lusitana, e dos quais o desembargador Brochado, q ue era do tempo, dizia que curavam por ignorncia e matavam por experincia. O nmero deles, felizmente, era, entre ns, bem pequeno. Ficavam todos na Metrpole. E tanto assim foi, que o Conde de Resende escrevia em fevereiro de 1799 ao Senado da Cmara, pedindo que se criassem penses a um mdico e a um cirurgio que, mandados a estudar na Europa, pudessem suprir ou contrabalanar a falta de pessoal oficialme nte habilitado e de que aqui tanto carecamos. Frei Caetano Brando, bispo do Gro-Par, porm, no queria saber dessa gente vinda com di plomas para curar: melhor tratar-se uma pessoa com um tapuia do serto, que observ a com mais desembaraado instinto de que com um mdico desses vindos de Lisboa, dizi a ele. E, talvez com razo. Alm desses doutores, havia ainda os licenciados. De acordo com o regimento da Real Junta do Porto Medicato, todo cidado que aprese ntasse um atestado provando exerccio clnico, fosse ele mdico, fosse ele cirurgio, ta nto em Portugal, como no Brasil, era submetido a exame, a fim de receber uma car ta, com a qual podia, desde logo, exercer o ramo da medicina em que se habilitas se. Se o nmero dos primeiros doutores, formados por Coimbra, era insignificante, o do s segundos, em compensao, formou, entre ns, espessa e notvel maioria. O tipo desse licenciado, que a literatura histrica deslembra, mas de cujo pitore sco vivem sempre sorrindo os que se afundam nas pesquisas das cousas de outros t empos, anda a pedir as simpatias e as glrias da novela. E, com efeito, um vulto s ingular, de alto relevo cmico, com toda a importncia de suas exageradas atitudes, de seu ar doutoral, e, sobretudo, daquela considerao profunda, que lhe dava a cart a de ofcio, pedao de pergaminho cor de mbar, mescla de fita, lacre e rabisco, mostr ando as assinaturas dos Senhores Comissrios da Real Junta e mais outras complicads simas chancelas. Depois dos mandes da Mitra e dos mandarins emproados da Coroa, ningum jamais aqui mostrou maior sinal de empfia e prepotncia: Entrava o licenciado pela casa das famlias, dessorando autoridade e valia, impres sionando pela indumentria, expectorando frases em latim, o idioma cientfico da po ca, solene e majesttico. Curvavam-se os incautos figura altiva e apavonada do sab icho da Grcia, como se em lugar dos trs-ventos de castor, trouxesse ele, cabea, o prp rio capacete de Minerva. E era um nunca mais acabar de consideraes e de propinas a dilatar-lhe a algibeira e o prestgio, enquanto que a sabena ia, por sua vez, dila tando a trgica extenso dos obiturios. Ateno, porm, que vou apresentar-vos, agora mesmo, um desses semideuses da centria, o licenciado Jacinto Jos da Silva, que est saindo da sua residncia, Rua do Piolho, p ara ver um enfermo. Olha-o. uma figura melanclica, toda forrada de negro, da cabea aos ps: negro o tricrnio, negros a casaca, a vstia, a capa, o calo, a meia e as sapatrancas de salto raso e boca de bezerro. S o nariz rubro, beque austero, onde se assenta um par de vastssimos quevedos, lunetas enormes, embutidas em pon ta de boi e atadas por fitas de couro atrs da orelha. At parece, o homem, um escaf andro, dentro de tanto couro e tanto vidro. porta, seguro pela manopla solcita do escravo, espera-o o Pgaso das visitaes clnicas, um autntico macho ferrado, de orelhas e caudas longas, e, certamente, com menos
atestados de bito na conscincia. H dois alforjes pendentes da silha do animal, e, d entro deles, com o pergaminho da semidoutorncia, caixas, frascos com medicamentos , uma seringa e vrios objetos de sangrar. Se fosse poca de epidemias, havamos de v-lo numa couraa anti-sptica, um balandrau bra nco, embebido em vinagre e outras drogas tremendas, na boca um dente de alho atr avessado e, na mo sinistra e piedosa, um galhinho de arruda e mais o tero em conta s de jacarand. Para receb-lo o quarto do doente se empavesa. A cama vestese do melhor linho que h na casa. Saem todas as rendas e bordados dos arcazes. Um pedao de pano embebido em aguardente desliza sobre o rosto, ps, mos, pescoo e braos do doente, retificandolhe a brancura. Se o enfermo mulher e o licenciado consegue penetrar o santurio do casal, precata m-se os maridos, dissimulando, quanto possvel, o cime muulmano, com maneiras gentis . Por causa das dvidas, entretanto, so os esposos que examinam, pelos clnicos, as esp osas enfermas. Queira vossa merc, diz o mdico, a apontar para a doente, espetar-lhe o fura-bolos, aqui, na altura da virilha, a ver se lhe di. O marido carrega o dedo. A mulher d um berro. Esculpio faz um movimento de cabea. O diagnstico est feito. Seu Doutor (e isso ele o primeiro a dizer) a est para curar, mas, se Deus quiser, pois a responsabilidade, afinal, no nunca sua, seno quando o doente fica bom. Se m orre, a culpa sempre de Deus. Sempre. Esculpio, ali pe-se de joelhos, arranca os e scanfndricos quevedos, e, erguendo aos cus a voz sumida e trmula, murmura com pieda de: Foi a vontade do Senhor! E todos se conformavam, acreditando que s mesmo a vontade de Deus seria capaz de vencer a medicina formidvel do Esculpio. Quem vingava, indiretamente, a clientela infeliz, l no Reino, era a Santa Inquisio, que os torrava de quando em quando, em piedosssimas fogueiras, sempre que lhes d escobria, nas dobras da pantalona ou da redingota, livros que dissessem idias nov as, sobretudo as dos enciclopedistas franceses. No ficava um s para remdio, um s par a dizer, depois, da clemncia do Sr. Cardeal Arcebispo de Lisboa... O Dr. Joo Toms de Castro, mdico fluminense, apesar de homem profundamente catlico, p or causa de uma brochurazinha dessas, foi queimado vivo... Embora sem escolas, mesmo de primeiras letras, o Brasil, que deu no sculo XVIII, Bartolomeu de Gusmo, o inventor do aerostato, Antnio Jos da Silva, o Molire portugus que encheu a centria com o seu nome, Morais, o primeiro que escreveu o dicionrio d a lngua, e a pliade brilhante de poetas mineiros, havia de dar, naturalmente, mdico s. E os deu, para o tempo e para as escolas onde aprendiam, realmente notveis. Em Portugal brilharam os brasileiros Francisco de Melo Franco, mdico de grande fa ma, freqentador do crcere da Inquisio, e que dos padres se vingou escrevendo uma stir a tremenda que se chamou O Reino da Estupidez. da lavra de Melo Franco, ainda, seja dito de passagem, a primeira obra regular e scrita em linguagem portuguesa sobre higiene. Outros mdicos, entanto, ainda demos , entre eles Jos Francisco Leal, catedrtico de Coimbra e demonstrador de anatomia da mesma universidade, Jos Correia Picano, mdico da Corte de D. Maria I, o que volt ou ao Brasil por ocasio da partida de D. Joo VI, ento prncipe regente, como cirurgiom or do Reino, isso para no citar outros. Se mais notveis deixamos de dar, a culpa foi to-somente devida aos naturais estorv os que se antepunham aos filhos da terra, que tinham a veleidade de amar a instr uo e os livros. Alm de no possuirmos escolas no pas, para a Europa s ia o filho do ric o, e que, em geral, por l mesmo ficava, ganhando, com vantagem, a sua vida, que o s outros, esses, coitados, tinham muita sorte se, em seu caminho, encontravam, p or acaso, uma alma piedosa, que lhes quisesse meter o alfabeto na cabea.
Curandeiros, feiticeiros e charlates Uma estranha receita do Dr. Curvo Semedo O n egro rezador Cura por intuio divina O Caso do Bispo D. Francisco de So Jernimo Barb iros de cortina Os dentistas Os algebristas As parteiras. o Passeio Pblico (Mestre Valentim). Medicina II Que se poderia esperar, num pas de ignorantes e fanticos, como o nosso, cheio de doentes e vazio de mdicos? Que florescessem, como flo resceram, os curandeiros, os feiticeiros e os charlates. Ao bando numeroso pertenciam os caboclos, que empregavam a vaga medicina dos pajs , os negros, com os seus amuletos e as suas ervas africanas, ao mesmo tempo baba las de exgua astrologia e ovelhas do cristianismo, devotos de Ogum e de So Benedito , os ciganos, os bruxos brancos do Reino e os inspirados, que empregavam a cura sugestiva, j por D. Joo IV oficialmente reconhecida, como se v pela penso por ele ma ndada dar ao soldado Antnio Rodrigues, penso de 40$000 por ano pelas curas que te m feito com palavras. Ningum se espante, porm, ao saber que, muita vez, ao lado de tais velhacos e impos tores, juntaram-se homens de reconhecida competncia, como esse mais que conhecido Dr. Curvo Semedo, cubiculrio real, espelho da cincia mdica na Metrpole. Veja-se, a propsito, o que escreveu, ele, nas suas Observaes Doutrinrias. de espantar. Aqueles que havendo sido bem casados, e muito amantes de suas mulheres, passa vam a uma tal metamorfose ou mudana odiosa que nem as podiam ver, nem deitar-se com elas na mesma cama, fiz reconciliar em amizade, mandando que, s escondidas, untassem a palmilha dos sapatos do amancebad o com esterco da manceba, e a palmilha dos sapatos da manceba com o esterco d o amancebado. E daquele dia por diante se converteu em desagrado e aborrecimento de ambos o que at aquele tempo tinha sido cegueira do amor lascivo, etc. Entre ns, o negro rezador era desta sorte que fazia cair uma bicheira: Bicho ou bicha, Cobra ou cobro, Bicho de quarqu nao, Sai-te daqui, Que a cruz de Cristo T sobre ti. Para atalhar sezes, maus-olhados, a prece j era outra: Todo o mal que neste corpo entrou, Ar de nvoa, ar de cinza, Ar de galinha choca, ar de cisco, Ar de vivo em pecado, Ar de morto excomungado, Ar de todo o mau olhado, Seja deste corpo apartado, Deus te desacanhe de quem te acanhou, Deus te desinveje de quem te invejou. Uma espinhela cada curava-se, rezando desta sorte: Na casa em que Deus nasceu, Todo o mundo resplandeceu. Na hora em que Deus foi nado, Todo o mundo foi alumiado. Seja em nome do Senhor Esse teu mal curado. Espinhela cada e ventre derrubado, Eu te ergo, curo e saro. Fica-te, espinhela, em p! Santana, Santa Maria, Em nome do Padre, do Filho e do Esprito Santo. Para dores de dentes havia isto: Naquele monte mal assente, Estava So Quelimente; Nossa Senhora lhe disse: Que tens tu, Quelimente? Di-me o queixo e mais o dente! Queres que to benza, Quelimente? Quero sim, minha senhora. Pe as tuas cinco pulgadas Sobre estas tuas pontadas Que elas sero abrandadas. Padr e Nosso, Ave Maria Paz teco, Aleluia.
Por intuio divina, curaram, no Brasil, bispos, frades e padres, os outros mortais, arriscando-se, estes ltimos, a morrer na forca, quando se insinuavam capazes de curar assim. D. Francisco de So Jernimo, terceiro bispo diocesano, sem ser mdico, curava em nome de Deus, empregando como remdio o que lhe apresentava diante da mo. Assim curou ele a Antnio Gonalves, condenado a perder uma perna, atacada de infeco gravssima, deitando o enfermo sobre os degraus do altar da Conceio untando-o com o azeite de uma lmpada que iluminava a mesma. Dizem que era uma alma bonssima a desse santo bispo, o qual, como rezam ainda cer tos papis do tempo, em nome da Clemncia Divina, piedosamente perseguiu judeus, des cendentes dos judeus e cristos-novos, humildes e inofensivos seres convertidos re ligio catlica, caando-os por esta cidade, como feras perigosas, e enviando-os, depo is, em companhia das respectivas famlias, ao Tribunal da Inquisio, em Lisboa. Outro que curava empregando a teraputica dos fluidos e das preces, era Frei Fabia no, que viveu na prtica do bem e do amor ao prximo. Lembrava Jesus sobre a Terra. Era um frade leigo. No Convento de Santo Antnio, on de morreu e foi sepultado, existe o inqurito rigoroso mandado proceder pelas auto ridades eclesisticas do tempo sobre as suas curas milagrosas. um documento impre visto, verdadeiro requerimento Santa S, pedindo a canonizao de um santo. Os espritas declaram-no um medium desenvolvidssimo. Na rua colonial, por vezes, esbarrava-se diante de uma tabuleta, que dizia assim : BOTAM-SE BICHAS E VENTOSAS. BARBEIRO, CABELEIREIRO E DENTISTA Era o antro do barbeiro de lanceta ou de cortina, sangrador, lancetador, aplicad or de ventosas ou de sanguessugas, que eram asquerosas bichas negra de rabo de rato que se criam e vivem na gua, segundo Barreira, e animal inseto, redondo, de cabea complanada, boca redonda e spera chupando sangue de homem, segundo Manuel Jos da Fonseca. Quando, na hora da sangria, por distrao ou impercia, o improvisado operador cortava algum vaso mais importante, era dos livros: um pouco de esterco de jumento. O s angue deixava, logo, de correr. Para calcular os desmandos desses vampiros de barbearia, que, como os morcegos, viviam do sangue alheio, basta citar o que nos conta Lindley, viajante ingls que visitou o Brasil no comeo do sculo XVIII e que assistiu sangrar um desgraado que a cusava, no sabemos que forte dor de estmago, vinte e uma vezes no curto espao de no ve dias! Para to peritos quirpteros, mais hbeis como artfices da elegncia no esmero d e escanhoar um bom prognata ou compor os cachos de uma cabeleira, a insistncia do remdio supunha a melhor garantia da cura. E era sangrar at ficar o doente curado, quando no morria da medicina. Foram eles, ainda, os dentistas da poca. Na caixa o nde punham a bacia de sangrar, as ventosas e as sanguessugas, havia, sempre, o b otico, uma boa chave Garangeot. Dizia o barbeiro ao povo que as dores de dentes e isso encontramos num curioso estudo feito pelo Dr. Pereira da Silva Revista Odo ntolgica (1908) eram provocadas pela existncia de certos bichos na raiz. Por vezes , as nevralgias faciais desorientavam os improvisados dentistas, que acabavam ar rancando ao fregus partes colossais da dentadura. Verificado o engano, porm, expli ca ainda o Dr. Pereira da Silva, o cliente nada pagava... O Vice-Reinado do Sr. Conde dos Arcos conheceu mestre Domingos, um preto barbeir o e dentista, com reputao firmada, residente na Sade. Carvalho Portugus, o ingls Wart well e o francs Mallard vieram mais tarde. A prtese de ento era muito elementar. Os dentes falsos prendiam-se aos sos por pequ enos grampos de metal. No tinham resistncia, e eram sempre mais decorativos do que teis. A matria-prima buscava-se na boca dos negros sos. Era o dente da escrava moa que ia por vezes florir a dentadura de sinhazinha. E j que se fala em dentista, bom no esquecer os mritos de certo alferes das Milcias de Minas e que se chamou Joaquim Jos da Silva Xavier, o Tiradentes, especialista em prtese, com clientela grande, no Rio de Janeiro. Entre as cortinas das barbearias vamos encontrar, ainda, os algebristas, indivduo s que entendiam de deslocaes e coisas fora do seu lugar, quase todos discpulos de c erto Padre Manuel Coelho de So Paio, que, j em 1736, escrevia o exame do prefeito
algebrista. A obstetrcia era uma cincia enfesada que vivia, em geral, nas mos das mulheres, imp ossibilitados, como se achavam, os homens, de exerc-la, graa aos preconceitos do sculo. Jos Antnio do Couto, s nos fins do sculo XVIII escreveu o De partu humanu quedam com plectes, onde enfeixava teorias que foi estudar em Copenhague e em Londres. Pelas vielas esconsas, no raro, encontravam-se grandes cruzes brancas, sobre as p ortas das casas. Sinal da residncia de parteiras, aparadeiras, solcitas mas ignora ntes comadres, que se valiam mais dos conselhos de velhas mes, que dos livros sob re o assunto, e que eram vendidos quando c vinham ter, por somas fabulosas. A verdadeira figura do parto bom, diz um desses compndios, vir a criana de cabea pa ra baixo, com os olhos voltados para as costas da me. O que no diz o livro, porm, q ue nunca se pde compreender, no Brasil, um parto, sem a parteira dependurar uma e spada nua cabeceira do leito, onde deitava a parturiente, para afugentar os maus espritos: Deus seja desta morada, Deus e o Gabriel, Que o dono desta espada... A longevidade do carioca A propsito de um judicioso conceito do Dr. Cabans Os cab oclos de So Loureno Epidemias Os portugueses, precursores da guerra de micrbios End emias Remdios curiosos. Medicina III Nesse infecto e abominvel monturo, que foi o Rio de Janeiro dos tempos coloniais, onde tudo parecia concorrer para tornar a vida humana amargurada e curta, fato extraordinrio, nunca se morreu to velho! Os macrbios de 120, de 130 e 150 anos cont avam-se como hoje se contam os velhos de 60, de 70 e 80 anos. Tudo indica, porm, que as razes de to surpreendente longevidade apoiavam-se menos n as razes ambientes que naquela razo faceta que a gente encontra no Joyeux propos d'E sculape, do Dr. Cabans, e que diz assim: Si le malade est l'etoupe et la maladie feu, le medicin est le vent que soufle... Diz-se que o ndio nosso av, sempre que podia, morria velho. verdade. H nos arquivos do Convento de So Bento uma carta curiosa, escrita de Guar ulhos, ao Padre Frei Bento da Cruz, onde se fala de uma ndia, que conduziu, em jo rnada de dois meses, sua velha me, que parecia diz o documento ter duzentos anos. Duzentos anos, a idade da Adormecida do bosqu e! Para sustent-la refere a mesma carta a filha mastigava os alimentos que lhe punha boca. Frei Vicente de Salvador ainda conheceu, na Bahia, Paraguau, a mulher de Diogo lva res, que morreu velhssima. O obiturio do Brasil antigo, de resto, cita-nos um nmero bem grande de longevos. M aria Quitria, por exemplo, segundo rezam crnicas patrcias, morreu aos 123 anos, e C ristvo de Mendona, tendo nascido em 1678, morreu no tempo do Vice-Rei Conde dos Arc os, em 1806, com 128 anos, portanto. Andr Vidal de Negreiros, citado at na Human Longevity, de Raston, viveu 180 anos! Com quantos anos morreu Araribia, o Capito-M or Araribia, ndio vencedor de Villegaig non, batizado com o nome de Martim Afonso de Sousa? Sabe-se que morreu com mais de cem anos, e que os seus descendentes foram conhecidos por notvel longevidade. Dizia-se, com efeito, at bem pouco, de um macrbio velho como um caboclo de So Loure no. O ndio, que sempre viveu com o portugus s turras, at parecia que morria velho s para o enfezar, para o desmentir, porque dele foi que veio a lenda de que o ar do Bra sil envenenava a sade, e seus habitantes morriam cedo, lenda essa, entretanto, co ntrariada por Frei Vicente do Salvador, que falando da terra americana, diz que lugar onde raro h peste ou outras molstias comuns, no sem acrescentar que os que ad
oeciam de outras enfermidades o deviam mais s suas naturais desordens, que malcia do lugar. O higienista Plcido Barbosa afirma que os fatores de depauperamento do filho do pas, que sempre foi forte, saudvel e longevo, vieram justamente com o europeu que, aqui introduzindo a civilizao, acabou por introduzir os germens malsos que antes c no se conheciam. O primeiro grande mal que achou de visitar estas bandas da Guanabara, foi a varol a, trazida pelos marinheiros de Villegaignon, e de que no escapou o prprio chefe nd io Cunhambebe. Os objetos pertencentes aos variolosos, por ignorncia, dados aos nd ios pelos franceses, seus aliados, animaram o surto epidmico. Na nsia, porm, de exterminar o caboclo infeliz, batido e escorraado do seu solo, di z o erudito Vieira Fazenda, os portugueses, tempos depois, lembraram-se de arrem essar, para as tabas, colches, travesseiros e roupas dos que nas cidades, vilas e povoaes morriam pela peste. E deste modo o mal invadiu todo o Brasil. Foram eles, assim, por este recanto da Amrica, os precursores denodados da guerra cientfica, posteriormente lembrada e discutida pela civilizao do sculo XX. Depois dessas, outras foram, ainda, as epidemias que assolaram este torro bendito . Felizmente, para o povo inculto e fanatizado, no vinham elas sem prvio aviso, di plomaticamente, aviso posto no cu pela cauda luminosa dos cometas. Cu de pedra ventania; Cometa de rabo, Epidemia. Durante o reinado de Lus de Vasconcelos, por aqui surgiu uma, que foi tremenda, s ob a forma de febre intensa e de natureza nervosa que, quando no matava, deixava deformidades fsicas e srias paralisias. Esse, o terrvel mal que quase manda desta para melhor o pintor Leandro Joaquim. C hamava-se o estranho mrbus Zampirine, nome de uma cantora contratada por Galli, b anqueiro da Cria romana, e que fora a Lisboa como prima-dona da companhia italian a, onde se conservou at 1774, poca em que recebeu do Marqus de Pombal ordem para sa ir do Reino. O mal foi que nos veio de Lisboa, mas no a Zampirine, como j andou por a escrito nu ma crnica sobre o nosso teatro durante o sculo XVIII. No se conheceu, entretanto, teraputica eficaz para enfermidade to cruel. Leandro J oaquim, o pintor, salvou-se dela, prometendo a Nossa Senhora da Boa Morte dizem os seus bigrafos fazer-lhe o retrato... Parece que a Santa desconhecia os fracos mritos do pintor, uma vez que aceitou a transao e o salvou. O retrato existiu, at be m pouco, na igreja do Hospcio. As guas que corriam a descoberto, vindo fonte da Carioca, foram, por vezes, focos tremendos de infeco. O escorbuto, a disenteria e a oftalmia africana existiram s empre na cidade, mais ou menos endmicos e com recrudescncia sempre que aqui aporta vam grandes levas de escravos trazidos da costa da frica. Das endemias desse tempo, porm, a mais grave foi sempre a da lepra. O Rio, durant e os tempos coloniais, foi uma feira impressionante de pstulas e chagas. Em bando s sinistros e abandonados, pelas ruas, havia mais leprosos do que ces. Ao corao bem portugus do Conde de Bobadela devemos a idia da construo do Leprosrio de Cristvo, que o Conde da Cunha acabou por tornar consoladora realidade. Seja dito de passagem a ignorncia da poca sempre confundiu o mal-de-lzaro com os ac identes secundrios e tercirios da sfilis. A tuberculose, as doenas do aparelho digestivo, as erisipelas e, muito principal mente, as elefantases dos rabes, ou p-de-so-tom, degenerescncias da pele, tecido celul ar e vasos linfticos, atacando de preferncia os negros, eram males insanveis e comu ns. Os mdicos de ento tinham por usana dar s molstias, diversamente do que se v hoje, desi gnaes simples e populares, como se verifica pelos formulrios e outros livros de cinc ia mdica do tempo. Chamava-se, assim, a uma cefalalgia, dor de cabea, simplesmente; com muito propsit o, a uma erisipela, a maldita; sfilis, com maior elegncia, mal francs. Enfermo de mal francs Anda h tempos Portugal; E no sara deste mal Porque o curam a revs. s embolias chamava-se estupor. Aos torcicolos, ar. Eram tidos, pelo povo, como c
riaes do Inferno, atacando os mortais para castig-los. Deu-lhe um ar aqui (diziam)... Credo, l nele! Deus me perdoe...
Os formulrios do tempo esto cheios de indicaes para febres podres; ters, tbuas do fga corao d'gua, alporcas, tabardilho, ardor de urina, puxos, afogao da madre, frenesi, bi chas, bicha e bicho-do-p... E os remdios? Particularmente pitoresca a teraputica de toda essa poca. Vejamos. A Pharmacopa Ulysiponense, de Joo Vigier (1766), recomenda contra certo morbo, que a medicina moderna conhece sob o romntico nome de treponema plido, carne de vbora em p. Os ps viperinos e os caldos de vbora eram tambm receitados para a cura da lepr a. A chaga no bofe, a pavorosa tuberculose pulmonar, curava-se com acar rosado que limpa e solda a chaga, em bebedouros e leite de burra, vaca ou cabra. Mamar no bicho de preferncia, em jejum, meio quartilho. Depois do leite nem se dorme, nem se bebe, nem se come, seno da a duas horas. Para epilepsia snea de crnio humano. Contra lombrigas, rasuras de chifre de veado, em tisanas. Uma surdez curava-se com leo de papel e gua-da-rainha-da-hungria. O Dr. Francisco da Fonseca Henriques, o Mirandela, receitava para calvcie manteig a de urso, mosca ou r, queimada, dando, ainda, como eficacssimo remdio, depois de u ma frico de aguardente ou guada-rainha-da-hungria, untar o couro cabeludo com unto de homem, que acabe a vida com morte violenta. Numa monografia sobre os carrascos do Rio de Janeiro, Vieira Fazenda fala-nos da prtica de vender-se ao povo e, por bom preo, o tecido gorduroso dos enforcados. Estamos daqui a ver, no tempo, o rendez-vous de carecas e pelados, que deveria h aver nos lugares onde existisse o suplcio da corda, ansiosos todos eles pela poma da profcua. Pelo livro de Jos Antnio Mendes aprende-se que, para a cura das anginas, era de gr ande valia pescoo de galo torrado e pulverizado, sendo que a ao tpica das minhocas e ra tida como decisiva na resoluo dos panarcios. Para um flato, cheirar leo negro de alambre... O autor da Medicina Teolgica, que desejava, no mnimo, que os confessores soubessem neurologia, e que punha o amor no catlogo das doenas, receitava para os frades e freiras, como preservativo, uma emulso de castidade, onde se encontravam gua de al face, de golgo, de rosas e semente de papoula branca, coisa para se tomar de hora em hora durante oito dias... Parece, entretanto, que esse bem intencionado elixir, pretensiosamente anafrodisa co, no deu sempre os efeitos esperados, uma vez que nunca se sofreu tanto da doena do amor pelos conventos e sacristias como por essa poca de muita beatice e ainda maior poucavergonha. As papoulas brancas, assim posto, nos conventos, onde viviam donzelas, no consegu iam preservar as suas gentis irms, as flores de laranjeira, da hecatombe fatal, q ue transformava as pobres servas do Senhor em servas de Cupido. Quando muito, as comadres solcitas, pressurosas, ao fim de nove meses aliviavam as pobrezinhas, s em, contudo, assegurar, s mesmas, a ausncia de crises prximas... O professor Hernni Monteiro, numa obra recente sobre as origens da Cirurgia Portu ense, fala-nos em chs de percevejos e de escremento de rato para os desarranjos i ntestinais e ictercia, usados em Portugal (professor Hernni Monteiro Origens da Ci rurgia Portuense, obra publicada em 1926), remdios esses que foram, tambm, conhec idos no Brasil, durante o sculo XVIII. Para a dissoluo dos clculos biliares prescrevia-se moela de ema. Por qu? Por isto: p or ter o bucho deste gigante das aves virtude especial para quebrar pedra... Eram remdios: urina do homem ou do burro, cabelos queimados, ps de esterco de co, p ele, ossos e carne de sapos, lagartixas, caranguejos e de outros animais, que co nstituram o estoque muito importante das melhores farmcias. Melancolia curava-se com bom mantimento, beber vinho aguado, purga e banho d'gua da fonte na perna. As inflamaes dos olhos no resistiam s ventosas nas costas e purga d e canafstula. Fonseca Henrique, mdico de D. Joo V, bem como o famoso Joo Curvo Semedo, autor da m uito citada Poliantia Medicinal e Atalaia da vida contra as hostilidades da morte fortificada e guarnecida com tantos defensores quantos so os remdios que no curso
de 58 anos experimentou. Curvo Semedo, dedicado a Jesus Crucificado, fala-nos, por exemplo, no seu livro Medicina Lusitana, socorro dlfico aos clamores da natur eza humana para total profligao de seus males, de mulheres que punham ovos e os ch ocavam, bem como de homens de uma s perna com to grande p, diz ele, que faz sombra a todo corpo. Explica, ainda, as razes que faziam as mos da raposa, penduradas ao pescoo, evitarem o quebranto, e trata das relaes existentes entre os rins do homem e o signo do leo. Esse famoso e muito reputado esculpio foi o que escreveu, afirmando, que os homen s tambm podiam amamentar as crianas. E, como prova, citava os indgenas do Brasil, d izendo que eles davam os seios a mamar aos filhos enquanto as mes cuidavam dos se us servios da taba... O Brasil, que j por essa poca podia orgulhar-se de ser o mais opulento jardim da f lora medicinal existente em todo mundo, possua, no entanto, as mais pobres e desp rovidas farmcias que se pode imaginar. Sigaud, que as conheceu no comeo do sculo XIX, delas dizia: On a de la peine croice que elles ont langui si longtemps abandonns de mains inh abiles, au milieu d'une contre si abondante en richesses vegetales. Velhas boticas coloniais, antros sinistros, onde a maledicncia fazia toca e o mex erico e a malcia eram as drogas de maior procura e extrao! A botica vende tudo Vende da purga ao sudrio. S no vende, por cautela, A lngua do boticrio...
A Justia d'el-Rei Sentenas em vez de leis Primeiros juzes e primeiros cdigos Juzes trrios Juzes venais Juzes ignorantes Uma curiosa citao de Oliveira Martins. Justia I Justia d'el-Rei, mais inspirao arbitrria de convenincias e instintos do que propriament e justia, era o que a manopla frrea do capitomor, ou do governador aqui distribua, p repotente e brutal, ao filho da terra, infeliz. Escola de Pedro, o cru, rei beat o e feroz, que vivia da volpia de punir e que aos assassinos de Ins de Castro mand ou que se lhes arrancasse o corao pelas costas. O tempo ainda era algo batido pelo tufo medieval, a poca de absolutismo e de feroc idade, tanto para os carneiros do rebanho de c, como para os carneiros do rebanho de l. Soframos. Mandava a Igreja que sofrssemos com resignao e humildade. No fizemos outra coisa durante trs sculos. Para o Brasil, a bem dizer, o que havia em vez de leis, eram sentenas. Algumas, p articularmente odiosas. Houve-as, por exemplo, que mandavam arrancar, ao solo br aslio, todas as rvores ndicas, para que no concorrssemos com a riqueza do Oriente por tugus alis muito mais distante e menos segura na mo de seus donos. Outras, proibiti vas das plantaes do trigo, para animar a agricultura da Metrpole, que nunca consegu iu, no entanto, suprir as prprias necessidades do pas; mais outras, que mandavam f echar todos os nossos portos a qualquer estrangeiro, mergulhando-nos no mais ten ebroso dos isolamentos; sentenas proibindo que sobre a Terra algum pudesse escreve r uma s linha revelando o valor das nossas riquezas; sentenas destruidoras de noss as estradas de rodagem, feitas pacientemente durante longos anos pelo brao profcuo do negro e do ndio... E as que vedavam a abertura de novas? E as que determinara m que se trancassem os nossos rios? E as que impediam que se explorassem salina s? E as que mandavam destruir a nossa indstria nascente, confiscando teares e pro ibindo-os de funcionar no pas? E as que mandavam inutilizar a nica e pobre tipogra fia que aqui existia nos tempos de Bobadela? E as que acabaram, entre ns, com o o fcio de ourives? E as que estabeleciam impostos vexatrios, como aquele entre outro s, que se chamou subsdio voluntrio, mas cuja voluntariedade era provocada por impo sies como esta: que se faa saber aos moradores a obrigao que lhes ocorre de concorre rem com um considervel donativo para o casamento de um prncipe e de uma princesa d e Portugal, sentenas que mais de uma vez levaram o povo ao desespero e s armas? E as mais ignbeis de todas as que quebravam o padro da moeda com que se pagava, no Reino, o produto do trabalho no Brasil, em 10, 15 e 20%?
Justia madrasta! Justia feroz! Tempos, na verdade, bem pouco dignos de recordao e de saudade! Para melhor defender-se a terra da cobia estrangeira mandou-se, em 1530, Martim A fonso para nos governar. No fundo do seu malo em couro de Crdoba tauxiado de amare lo, trouxe ele, com poderes discricionrios que se embrulhavam numa carta rgia, fi rmada por D. Joo III, alguma vontade de acertar. Como juiz, sabe-se, que foi o pr imeiro. O que no se sabe se foi dos piores. Iguais poderes so concedidos, depois d isso, aos donatrios das Capitanias. Fartam-se de tais poderes os capites, e, de ta l sorte que, em 1549, Tom de Sousa chega para frear-lhes os desmandos. Traz, alm d e novas ordens, nova carta rgia, um ouvidor-geral e mais um cdigo manuelino. Louvve l inteno. Passa a terra a ter lei escrita. Como o trpico, porm, o den da impertinente traa, que tudo ataca e fura e ri e dilacer a, o pobre cdigo, dentro em pouco, de calhamao de consulta e guia, transforma-se e m uma renda tenussima, onde no se decifra palavra. O ouvidor, por sua vez, perde a memria do que aprendeu. E tudo fica como no tempo dos capites. Cria-se, anos depois, a Casa da Relao da Bahia. Com mais Relao, porm, ou menos Relao, a Bahia ou no Rio de Janeiro, a justia continua irregular e falha, pessoal e fero z, cera que se amolda vontade pessoal do Juiz, que, quando no arbitrria, ignorante , e, quando no ignorante, venal. H excees, claro. Essas, porm, so bem raras. Lus Vahia, que antecedeu Bobadela, pertencia aos da primeira categoria. At chegar loucura declarada, um juiz que amedronta e aterra. Preside a relao aos berros. Qu ando o seu coche de arruar surge na viela colonial, o povo ataranta-se, os homen s caem de joelhos, medrosos, outros mordem humildemente a poeira dos caminhos. u ma espcie de Caim da Amrica, o Ona. Prende, multa, degreda, manda matar... Um dia a mioleira referve-lhe. Tem esgares. o paroxismo da loucura manifesta. De saparece do mundo rilhando os dentes. Vem, depois disso, um perodo longo, felizme nte, e amvel, com o grande Bobadela a governar. Amemos particularmente este homem , que foi um grande e sincero amigo do Brasil. Fez-se, no tempo dele, a justia qu e se pde. A neurastenia do Sr. Conde da Cunha, entretanto, irrompe em 63. Neurastenia e m-c riao. Dura trs anos a rajada desse mando da terra. O conde particularmente violento. Do pitoresco das suas arbitrariedades e impulses far-se-ia um anedotrio curioso. Quem aquele sujeito que tanto me olha? pergunta ele, um dia, das obras que se fa ziam para o governo, no morro da Conceio, ao ver algum debruar-se de certa janela de rtula, envolto num robe de chambre, a cabea toda num escandaloso barrete de cassa com babados. Respondem-lhe. o Sr. Capito Joo Homem. Pois tragam-no at aqui, encarapuado como o vejo, tal e qual, que lhe quero aplicar a justia d'el-Rei. Momentos aps surge, diante do Vice-Rei, o capito, com os seus babados. Fala-lhe o conde. Como que ento, eu, governador do pas e da cidade, j de p, a trabalhar como um mouro por estas horas da manh, e o Sr. Capito Joo Homem ainda em roupas de quarto e com e sses babadinhos cabea! Pois carregue o seu tijolo que o de que aqui muito se prec isa, lembrandose que, de tal sorte, serve a el-Rei Nosso Senhor. E numa indumentria pitoresca, bem pouco do ofcio, teve Joo Homem, logo, de ir dando incio sua pressurosa ajudncia de pedreiro. De outra feita, bate porta do Vice-Rei uma mulher em lgrimas. Vem queixar-se do m arido, que a maltrata. E aoita-me, Sr. Vice-Rei, aoita-me sempre. Venho pedir, ao Sr. Conde, justia. Manda ele que saiam, logo, dois soldados em busca do brutamonte, que arrastado a seus ps. Bato nela, Excelncia, diz ele, mas com a razo do que quer castigar para corrigir. Essa mulher atraioa-me, buscando, em outros braos, o amor que nunca lhe neguei. Tosomente por isso, Excelncia, batolhe, embora nem sempre seja em demasia... Ordena, logo, o ViceRei que tragam sua presena o causador do desconcerto conjugal
. Agora o amante que vem arrastado ao tribunal de improviso e que espera do Conde o fatal julgamento. Ao marido infeliz louva-o o Vice-Rei pela atitude nada sensurvel e, quanto ao com prometedor da honra do casal, resolve: degredo para Angola. E faz logo sair o se dutor. Volta-se para o marido e ainda sentencia: Quanto tua mulher, logo ao chegar casa, desanca-a com um pau, mas, desta vez, co m vontade, a ver se de tal sorte pode ela chegar, um dia, a ser esposa leal. Outra vez, um pobre caixeiro procura-o para queixar-se do patro, alegando que o m esmo, tendo estabelecido certo salrio pelo seu trabalho, alm de no pag-lo, despedira -o. Manda-se buscar o negociante, certo Vieira da Cruz, que chega tremendo presena do Vice-Rei. Desculpa-se o homem de mil maneiras, alegando, afinal, no ter cumprido o prometido por no valer o servio do caixeiro o salrio do contrato. Mete, porm, a mo no bolso e dele arranca algumas moedas, que vai entregar ao queixoso, a dizer: Atendendo a que o Sr. Vice-Rei tanto por ti se interessa, toma l estas moedas, co mo esmola. Aceita, diz o Conde ao rapaz, que, num gesto de brio, quer recusar o que o outro lhe oferece. Aceita. E, voltando-se para Cruz: E agora vai buscar, correndo, o salrio do contrato, que o que acabas de dar, como tu mesmo dizes, no salrio, esmola... Outro juiz arbitrrio e de violncias um tanto simpticas, foi o Sr. Conde de Resende. Tinha fama de mau porque mandou matar o Tiradentes. Injusta fama. Como Vice-Rei no podia dizer outra coisa. H, certa vez, grande falta de farinha em Pernambuco e na Bahia. Os negociantes do Rio comeam a fazer longos embarques para aqueles portos. Tem-se, por isso, que a mercadoria, aqui, encarea enormemente. Pedem-lhe providncias. H um navio cheio del a, no porto, para sair. Manda o Vice-Rei que se apreenda a farinha e que a coloq uem numa barraca, que manda logo armar no largo do Palcio, a fim de ser vendida a o povo da cidade. De outra feita, sabendo que os negociantes desejavam fazer o m onoplio do sal, manda vrios soldados arrombar, a machado, as portas do armazm onde se acha depositada a mercadoria, na Prainha. No poupava os exploradores do povo, os ladravazes do comrcio, da carne, do peixe, da verdura e do cereal, mandava-os meter no pelourinho, sem forma de processo, e bater-lhes. Com a mesma facilidade, com que muitos desses juzes supremos se recomendavam por gestos assim simpticos, excediam-se, depois, em arbitrariedades vultosas. Nas crnicas braslicas pesam particularmente os excessos de to tirnicos senhores. Caldeira Pimentel, por exemplo, no ano de 1728, em So Paulo, queria, quando sasse rua, que os populares se ajoelhassem sua passagem, assim se conservando at que e le lhes desse a bno. Outro episdio, contado por Afonso de Taunay: Bernardo Jos Lorena manda um dia um seu escravo ao mercado comprar peixe fresco. No h mais, no mercado, peixe fresco para vender ao criado de Lorena. No sambur do escravo de certo cnego chamado Patrcio Lobriga, o servidor solicita cinco tabaranas, as ltimas que obraram da banda do peixeiro. Voltando a palcio refere o escravo o insucesso da sua empresa, no sem citar o sambur do africano, garantindo mais, que as tabaranas eram verdadeiramente de apetite. Ordem imediata de S. Sa. para que sejam despachados dois guardas incumbidos de r equisitar o pescado do cnego, e como estivesse. Vm as tabaranas meio fervidas, den tro de uma panela. Do pescado farta-se Lorena, farta-se, mas no devolve a panela. .. Ao fraco valia sempre suportar os agravos dos portentosos, perdoando, esquecendo -os, a articular qualquer protesto. Leia-se, por exemplo, o que se extrai abaixo , da correspondncia particular do Sr. Marqus do Lavradio, sem favor algum um ViceRei manso e quase amvel. Ao terceiro dia de me achar governando, teve um homem o atrevimento de se me vir queixar de um oficial dos da Assistncia do Sr. Conde [refere-se ele ao seu antec essor, o Conde de Azambuja], dizendo-me que a S. Exa. tinha levado tambm aquela q ueixa e que por ele no a ter deferido aguardara para, na minha chegada, se me vir
queixar tanto de um como de outro. Sem mais demora, na presena de todos os que assistiam audincia, o declarei como um perturbador do estado, porque, insultando a respeitvel retido do Sr. Conde, a que m eu tinha a honra de substituir, me insultava a mim mesmo e o lugar em que me a chava, e mandei logo metlo na enxovia, carregado de ferros. Os juzes venais, menos pitorescos, foram, no entanto, mais numerosos. E, quanto m ais altos, piores. Governadores ladres, diz sem rebuos Oliveira Martins, quando fala da justia do temp o, que ele afirma ser um verdadeiro mercado. Que foi Diogo Botelho, governador do Brasil? Por uma devassa provou-se ser ele c ulpado de concusso e venalidade. O Padre Antnio Vieira afirma, ao falar desses supremos juzes, que os que vinham a o Brasil formavam um bando de verdadeiros ladres, disposto a devorar-nos. Resposta que o mesmo padre d ao governo portugus, quando consultado se deve mandar um ou dois capites-mores para o Maranho: Mandem um, que menos mal faz um ladro que dois... Que disse, tambm, o conde da Cun ha, ao Rei, falando dos grandalhes que o cercavam, aqui no Rio de Janeiro? Senhor, todos nesta terra roubam, menos eu! Num relatrio dirigido a Lus de Vasconcelos e Sousa, ao ViceRei, seu antecessor, es crevia, falando dos juzes da terra: No tempo em que aqui residem, vem como podem fazer mais lucrosos os seus lugares, de sorte que, quando se recolhem, possam levar com que fazer benefcio s famlias... E depois: Em onze para doze anos que tenho governado a Amrica, me no constou nunca que um s j uiz procurasse sem contendas acomodar as partes, persuadi-las a que se no arrui nassem com contendas e injustos pleitos, fazendo finalmente o que as leis tanto lhe recomendavam. Do mesmo modo, no achei nenhum estabelecimento til feito por ne nhum daqueles magistrados: alguns que mandei informar sobre negcios desta qual idade os achei to ignorantes e alheios destas matrias que me resolvi a no mais tra t-las com eles. Falando do Juiz de Fora, Jorge Machado, diz que era muito ignorante, embora orgu lhoso de um saber, que no possua, e acrescenta que os seus ridculos despachos servi am de riso e divertimento a todas as conversaes. Diz ele do prprio ouvidor que o servia, que era homem de curtos talentos e que as sinava de cruz os despachos feitos por advogados, que funcionavam nos processos. Curtos talentos! muito parecidos com os daqueles dois desembargadores de Lisboa , citados por Oliveira Martins: um, que no mandava para o Rio de Janeiro notcias d o cerco de Gibraltar porque, estando-se no Brasil mais perto, as novas seriam ma is frescas... outro, que negava entrada na capital do Reino a uma caixa vinda de Gnova por haver peste em Marselha, e isso porque, estudando o mapa de escala red uzida, achou uma distncia, apenas, de meia polegada entre os dois portos... Imaginem, agora, se, em vez de desembargadores em Portugal, fossem eles desembar gadores no Brasil!
Os degredados como matria-prima da colonizao portuguesa no Brasil Os naturais embar aos do pequenino Portugal na realizao de to importante obra A ndole do carioca O cd portugus Crimes, criminosos e prises. Justia II Oliveira Martins d como matria-prima da colonizao portuguesa, no Brasil, entre vrios elementos indesejveis, os degredados pela justia de sua terra. Coisa velha e sabida. A doentia suscetibilidade braslica, no entanto, arrepia-se toda, sempre, ao pensa mento, para ela pouco amvel, de ver o Brasil de outrora eleito para pasto gentil da crapulagem lusitana, culpando os colonizadores, sem lembrar-se de que naes, rec onhecidamente cultas e brilhantes, em pleno sculo XX, mantm, em suas colnicas, pos tos de correo e de degredo.
Lembremo-nos, depois disso, dos naturais embaraos em que se debatia o pobre Portu gal de outrora, desejoso de realizar obra civilizadora em pas que possua uma popul ao selvagem cinco ou seis vezes maior que a sua. To precria, na verdade, era a reser va humana existente no velho reino, que necessrio foi buscar-se, no viveiro da fri ca, o negro, para que, transformado em poderosa ferramenta de colonizao, se pudess e arrancar, como se arrancou, o Brasil do nada. Apesar das espessas correntes imigratrias aqui vindas da Costa d'frica e com as quai s se conseguiu suprir, no amanho da terra, o brao do ndio sempre hostil ao portugus , necessrio tornou-se, ainda, formar ncleos compostos de brancos aguerridos e bem armados, que servissem de defesa e de guarda aos colonizadores e sua obra. Que fazer, portanto, para encontrar esse mesmo patrcio e branco, se Portugal mo strava, s em Lisboa, um oitavo de populao negra, de tal sorte denunciando a sua esc assez de gente? Procurar, descobrir, colhendo, raspando, a varredura social das vielas da capital e de outras cidades do pas, metendo-a depois, no fundo das naus para que viesse ter terra da Amrica. Era, alm de criminosos tarados, toda uma hor da de mendigos, de ociosos, de vagabundos e calaceiros, essa que aqui vinha para r, horda vil, horda infame e procaz, muito embora menos perigosa talvez que a do s bandos de alguns burgueses do comrcio, que para aqui chegavam apenas para tenta r fortuna. Seja dito de passagem, porm, que, ao lado desse torpe e desprezvel rebo talho, gente melhor e at boa vinha. Se somarmos, porm, todos esses brancos europe us, que da Metrpole saam para c, acabaremos por ver que eles representavam, ainda assim, um conjunto de sangue lusitano insignificantssimo entre o de todos esses milhes de caboclos, que ento povoavam e continuavam a povoar o pas, de norte a sul, massa bravia e vigorosa de silvcola, com que se fez o alicerce da nossa nacional idade, tangida e guiada, isso sim, pela mo robusta e laboriosa do civilizado port ugus. No procede o receio de que o degredado pudesse ter infludo como percentagem apreciv el de sangue a correr-nos nas veias, como no procede a balela criada por certos e scritores lusitanos, ignorantes de sua prpria histria ou dos nossos conhecimentos histricos, quando dizem que Portugal, tendo colonizado o Brasil, tambm o povoou. No o povoou. No podia povo-lo, e, pela simples razo de faltar-lhe matria-prima para i sso, como ainda nos repetiu, no h muito, o professor M. Bonfim, no seu Brasil na H istria. O cdigo lusitano, quando o crime requintava e mais dura se devia tornar a pena, e stabelecia imediatamente: degredo para o Brasil. Inteligente e sensato propsito que, arrancando o homem de onde ele s podia causar danos, o punha onde pudesse pr oduzir alguma vantagem. Na Metrpole, s ficavam os rus de pequenos delitos: os hereges, os que levavam barre gs corte, os que vestiam roupas de mulher, os que nos arrudos chamavam por outro n ome que no fosse o d'el-Rei, os que compravam colmias para matar as abelhas, os que davam msica noite, o cristo que dormia com infiel, ou o infiel que dormia com cris to, os que faziam mexericos... Aqueles que conheceram o Rio de Janeiro dos tempos coloniais so quase unnimes em e xternar, sempre, sobre os seus turbulentos habitantes, a menos lisonjeira das re putaes: raa de crpulas e bandidos manchando a natureza sem igual, diz Frei Joo da Boa Morte numa correspondncia datada de 1769 para o Reino. Esta a mais indigna e mal dita canalha de que se pode ter notcia, acrescenta o autor do famoso Dirio de uma viagem pela Costa d'frica e ndias de Espanha, e que por aqui se perdeu alguns anos antes da poca dos vice-reis. Que diz Bulkeley, falando do Rio de Janeiro, conforme citao de Afonso de Taunay? Isto aqui um lugar onde um homem tem que se sujeitar a ser s vezes maltratado, p ois se repele as afrontas corre risco grave de perder a vida. O que no falta por c so malfeitores que se alugam para matar o prximo por preos de espantar. E no se esquece, ainda, de dizer que o Rio a cidade do mundo, onde se assassina por mais baixo preo... Lus de Vasconcelos e Sousa, ao passar o governo da cidade ao seu sucessor, o Cond e de Resende, fala-nos sobretudo de constantes desordens, que necessitam ser pun idas como demonstraes severas que sirvam de exemplo para se coibirem. O Marqus do Lavradio tambm alude a essa turbulncia, embora elogiando simpaticamente a ndole patrcia. Diz ele: Esses indivduos que por si s so faclimos de governar se vm
fazer dificultosos e do trabalho, s por causa dos europeus que aqui vm ter. E explic a, a seguir, dando expanso qui a certas antipatias pessoais, quais so esses europeus : homens do norte de Portugal, gente de esprito muito inquieto e de pouca ou nenh uma sinceridade (relatrio a Lus de Vasconcelos e Sousa). O fato que tinham de que se impressionar seriamente os estrangeiros que visitava m a capital da colnia, e onde, por qualquer coisa se feria, por qualquer coisa s e matava. As facas e os punhais andavam, sempre, fora das bainhas; as sarjetas, empoadas de sangue. Choviam alvars proibindo os capuzes, o uso de facas, de punhais, de chou pas e sovelas. Ningum queria saber de alvars, todos se embuavam, todos traziam entr e as dobras da saragoa, no mnimo, o seu meio palmo de ao brilhante e rijo. No se esperava sequer pela cumplicidade da treva para arrancar a vida ao prximo: luz do dia, sob as janelas do palcio do Vice-Rei, mata-se o capelo do Etoile. Ducl erc assassinado na casa da Rua General Cmara por quatro embuados, apesar da guarda numerosa que o cerca. Turbamulta de desordeiros e assassinos. Os prprios filhos da Igreja so rixentos, i rrequietos, amigos de disputas e banzs. Conta Froger que um indivduo da equipagem do seu navio, tendo uma desavena qualque r com um popular, em frente ao Convento dos Carmelitas, pe mo espada, com o intuit o natural de defender-se. Logo contra ele forma-se um bando enorme. Tentando sal var-se, busca o atacado asilo no Convento. Entra; porm, em vez de agasalho, sente que vrios frades, armados de vastssimos cacetes desancam-no. So os frades carmeli tas. Um h, at, que lhe atira cabea, de surpresa, forte golpe de espada. No eram some nte os roupetas do Carmo os que se avantajavam na hora da desordem. Rixentos, fo ram tambm os frades de So Bento. O Conde da Cunha que deles nos pode dar informes preciosos. E os jesutas? Lus de Figueiredo, segundo nos fala Bento Pinheiro da Sil va Cepeda em seu relatrio ao Conde de Oeiras sobre vrias e graves incorrees dos comp onentes da Companhia de Jesus no Brasil, noite, trocava as suas vestes pelas de marinheiro e ia beber s tavernas, onde armava pendncias, chegando a ponto de procu rar as prprias rondas para com elas lutar. Padres e frades, entretanto, gozavam de privilgios especiais, concedidos pelas l eis. Havia uma justia, uma cadeia e uma impunidade para eles. O sculo foi de indec orosos privilgios. As Ordenaes do Reino respeitavam, alm de outros, os da Fidalguia , os da Cavalaria e os do Doutorado. Quer isso dizer que a lei se aplicava, s vezes, em se tratando do mesmo crime, de modo diferente, e sempre de acordo com as regalias pessoais de cada um. O marido, por exemplo, que encontrasse a mulher nos braos de um sedutor, podia ma tar, licitamente, qualquer dos dois. Apenas, se o sedutor era um desses privileg iados, j a lei mudava, punindo o marido, que matara sem ter olhado a quem. Outro exemplo: o que arrenegasse ou descresse de Deus ou de sua f, sendo fidalgo, pagav a de multa, pela primeira vez, vinte cruzados, pelo crime horrendo. J o pobre peo tinha, pelo mesmo delito, que entregar o couro chibata, trinta aoites ao p do pelo urinho... Nesse texto de lei, que est no Tt. II do Livro V das Ordenaes e que prev vrios delitos de heterodoxia, o legislador estabelece, no entanto, que os que arrenegarem, os que blasfemarem dos santos tenham pena menor que os desacatadores do prprio Deus , de tal sorte provando que hierarquias e privilgios existem, at no Cu. E assim que reduz a mdica coima de dez tostes, apenas, a infrao praticada pelo peo, insultando q ualquer santo, o que at certo ponto no deixa de ser vexatrio para certas figuras sa gradas e de reconhecido prestgio na Corte de Deus. E j que se fala em Deus e em heresias, cite-se o maior crime que um mortal poderi a cometer pelo tempo, contra a religio: o de ser feiticeiro. Qualquer pessoa que em crculo ou fora dele, ou em encruzilhada, invocar espritos diablicos ou der a alg um a comer ou a beber coisas para querer bem ou mal a outrem, morra por isso mort e natural. Os que benziam ces ou outro bicho, sem autoridade d'elRei ou dos prelados, eram tam bm punidos pela lei. O que quisesse mandar benzer uma cadela, por exemplo, a fim de que no lhe entrasse pelo corpo o Diabo, em forma de raiva ou danao, fazendo-a mo
rder e danando incautos cristos, e chamasse outrem que no um sacerdote, pagava, de multa, quantia bem maior que a esprtula que se devia dar ao padre, e arriscava-s e, ainda por cima, a dar com os ossos na Costa d'frica por um ano de degredo. Grandes castigos havia para as adlteras. E toda a mulher que fizer adultrio a seu marido, morra por isso. J o casado que tivesse barreg, o mais que lhe podia acontecer era o degredo para a frica por trs anos. As amancebadas de padre e frade foram, na poca, em tal nmero, que a lei portugues a resolveu castig-las, embora deixasse o mesmo padre e o mesmo frade na mais san ta impunidade. Como pena primeira, estabelecia-se a separao do casal, pondo-se a b arreg fora do lugar em que vivia. Se o comrcio amoroso continuava, separao mais viol enta: barreg fora do bispado. E, pela terceira vez, fora do pas. O ttulo XXXI do li vro V das Ordenaes dizia, entanto, o que se vai ler: Mandamos a todas as nossas Ju stias que no prendam nem mandem prender, nem tenham em nossas prises clrigo algum, o u frade, por ter barreg, salvo sendo-lhe requerido pelo prelado, ou vigrio, ou seu s superiores. Coisa, alis, um tanto difcil de acontecer. Os alcoviteiros que alcovitavam mulheres casadas, ou as pessoas que consentiam q ue em suas casas se fizesse maldade nos corpos das mesmas, eram levadas forca. No obstante, se a alcovitada era freira professa, o alcoviteiro sofria somente p ena de aoite e degredo... (Tt. XXXII, Liv. V, das Ordenaes). Se a justia era, por vezes, particularmente severa, no raro, na sua nsia de punir, conseguia ser bastante pitoresca. Pitoresca e humorstica. Na Histria do descobrimento e povoao da cidade de S. Joo da Barra e Campos de Goit acases, F. J. Martins fala-nos das famosas janeirinhas, que se faziam nos tempo s do Senado da Cmara, citando algumas singularmente interessantes. Uma h, por exem plo, em que se acusa a Leonardo de S Barbosa por chamar muito pelo Diabo; outra, referindo-se a Antnio de Freitas, que deu um sopapo com a mo fechada, e, ainda mai s outra, acusando Paulo Vieira por ter dado dois assobios quando o Senado da Cmar a passava pelo Beco do Rei. A melhor de todas, porm, a que acusa Gregrio da Silva, e que diz assim: Por ter feito mal moa Pscoa, de peitos atacados ao p do brejo dos Tucuns, irm de Alberto Pedro. A ofendida alegou que ia cortar uns gravats e vira o ru embaixo do lucuparim abaixado, de quatro ps e lhe parecia o Demnio. Por isso fe chou ela os olhos, rezando sempre o Magnificat e deixou ele fazer a estropelia. Duas cadeias conheceram-se na cidade pela poca dos vice-reis: uma para os padres e frades, outra para os seculares. Ambas vastas, ambas abarrotadas de gente. Era m dois antros infectos, verdadeiras cloacas, onde os criminosos apodreciam em vi da, infectados pela falta de higiene, rodos por mazelas e verminas. No Aljube, que era a priso dos frades e dos padres, havia compartimentos construdo s para doze ou quinze pessoas, onde por vezes se juntavam cerca de 400! A nota d e um historiador probo, Vieira Fazenda. O cheiro desprendido desses lugares srdidos e tristes por vezes empestava a cidad e, numa rea de quase um quilmetro quadrado. Felizmente, a morte salvava do sofrime nto esses desgraados, ceifando-os aos poucos.
O preso, no regime colonial, no era mantido pelo estado, seno pelas suas famlias, s eus senhores, patres ou seus amigos. Os que no tinham tais esteios, que tratassem de esmolar para no morrer de fome. Ha via correntes enormes que os faziam chegar, por vezes, at ao meio da rua, onde os infelizes ficavam ao sol e chuva, espera das almas caridosas que passassem. Os postos junto s grades que olhavam para a rua, e onde um oxignio mais puro valia co mo uma esperana de sade e de vida, eram disputados pelos mais fortes. S os crceres da Inquisio conseguiram ser mais ignbeis e sinistros. O Santo Ofcio, porm aquele horrendo tribunal, erguido em nome de Deus pela vontade do Papa, infrato r das mais elementares regras do bom senso e da justia, onde os pais depunham con tra os filhos, os filhos contra os pais, e onde o ru no podia comunicar-se com que m pudesse defend-lo; o tribunal que arrancou a golpes de tortura as mais atrozes confisses que a Igreja imaginava e queria, o infame tribunal de D. Joo III, esse, no o conhecemos ns, felizmente, a funcionar sobre a gleba risonha onde nascemos. Aqui nunca queimamos judeus ou cristos-novos pelo crime insensato de descrer da p iedade do Papa, nunca profanamos sepultura para delas desenterrar mortos, queima
ndo-lhes o remanescente das podrides, nem desencarnamos esqueletos para que os se us ossos pudessem assobiar nas cristianssimas fogueiras por tais atos-de-f. O pov o sabia dos horrores do Campo da L, em Lisboa, temia-os, e receoso das apanhas qu e o bispo, por vezes, fazia para envi-las aos inquisidores do Reino, tratava de requintar, ainda mais, a sua santa hipocrisia, papando missinhas umas atrs das ou tras, enchendo de ouro as caixas de esmolas do Santssimo, beijando, dos padres e frades, a mo, o hbito e at as solas dos sapatos... Como se v, corrompia-se o carter na prtica da mais lavada hipocrisia, mas salvava -se a carcaa. A poca era assim. Descrio do pelourinho O primitivo instrumento de suplcio Como recebiam gostosamente s nossos caboclos o castigo do aoite Picota e tronco Um espetculo gratuito Comrcio a varejo nos tempos coloniais A falta que ainda hoje nos faz um pelourinho.
Pelourinho O pelourinho nada mais foi que a moenia romana, introduzida nas Glias, pelo tempo de Csar. Era, entre ns, coluna de pedra, que se colocava em lugares pblicos, geral mente diante das municipalidades, e onde os criminosos recebiam aoites. Tambm nela se prendiam condenados a forca. As pontas recurvadas, de ferro, geralmente vis tas na parte superior, serviam para espetar a cabea dos que acabavam no barao. Uma esfera armilar, smbolo da monarquia portuguesa, rematava a coluna, solenemente, austeramente, qui amenizando-lhe a aparncia trgica com uma linha, at certo ponto, dec orativa e plstica. Muitos pelourinhos constituem hoje, em Portugal, verdadeiros objetos de arte, e, como tais, incorporados ao patrimnio artstico da nao; pelourinhos trabalhados escul toricamente, dignificados, at, pelo escopro de artistas de nome. Na Frana de hoje que os vestgios desse instrumento de suplcio so raros; mas, ainda s e encontram. Por um documento iconogrfico que est na Biblioteca Nacional de Paris, v-se o que fo i o famoso Pelourinho dos Halles. Lembra ele uma torre de uns seis ou oito metro s de altura, dividida em trs partes distintas: uma, a base, espcie de casa; outra, a destinada ao lugar de suplcio, aberta aos olhos pblicos, e a terceira, constitud a pelo telhado. H, na primeira parte, a porta por onde ingressava o ru, e sobre o arco de ressalva dessa mesma porta um oratrio aberto, com a imagem da Virgem, a b onssima Virgem que os homens maus no esquecem nunca de invocar para patrocnio das s uas maldades. Rematando essa porta, um anel de metal ou de madeira, largo de uns setenta centmetros, e com uns trs ou quatro metros de dimetro. H nele trs orifcios: u m grande, ao centro, e dois menores, lateralmente. O primeiro, para nele ser enf iada a cabea do desgraado, os outros, reservados s mos. O infeliz, assim posto, ante s de receber os aoites, ficava em condies de no esconder a cara, exposta permanentem ente ao pblico. O anel ou golilha, porm, tinha ainda um movimento circulatrio. E, m edida que ele se movia, o pelourinhado era exibido aos quatro pontos cardeais e a quantos estivessem em torno, curiosos por identific-lo ou gozar-lhe o castigo. Sobre o anel, sereno, ento, vinha o teto. Em Portugal, logo que a monarquia o importou terra de Frana, tinha ele, em linhas gerais, a expresso arquitetnica do que acima se descreveu. No h indicaes iconogrfica que o expliquem exatamente e por mido, no obstante, por uma comunicao do Visconde d e Jurumenha, feita a Radzinski, e por ele citada, sabe-se que o pelourinho portu gus, pelo menos at a poca de D. Manuel, era em tudo igual ao francs: uma coluna de p edra, ou de tijolo, tendo ao cimo uma gaiola que rodava horizontalmente. O tempo, porm, tratou de simplificar o instrumento, e assim que, pelo sculo XVIII e comeo do XIX, j se apresentava ele mais singelo, mais baixo, sem a espcie de gaio la, ento substituda por dois braos de pedra, ferro ou madeira, tendo cada um, na ex tremidade, uma argola de metal. No esquecer a esfera armilar, como remate e smbolo . Os condenados a receber os aoites eram amarrados s duas argolas. As partes later ais do instrumento destinavam-se aos bandos e outros papis de leitura pblica relat ivos governana da cidade, ali pregados ao rufo prolongado de tambores. No Brasil, eles foram mais simples, por vezes fortes, mas, de qualquer forma, servindo. Entre ns, o Ouvidor-Geral Lus Nogueira de Brito, em 1626, lembrava vereao carioca a necessidade de erguer-se um pelourinho. No obstante, afirma-nos Gabriel Viana que
o mesmo j existia desde o tempo da fundao da cidade. O que no se contesta, porm, que antes disso fosse ele j conhecido no Brasil. Pelo menos desde 1558. Por uma cart a de Mem de S, escrita da Bahia, tratando da fundao de vilas entre os indgenas, mand a ele, com efeito, dizer para Portugal, que fez construir tronco ou viramudo e p elourinho com que ficaram os caboclos muito contentes e, acrescenta, recebem mel hor o castigo do que ns. A alegria dos caboclos faz-nos lembrar, at certo ponto, a alegria de que falavam os governadores e vice-reis deste pas, quando escreviam para o Reino, dando notcia daquelas pesadas contribuies impostas ao povo por ocasio do casamento dos reis em Portugal, notcias que falavam do notvel contentamento destes povos, correndo pres surosos, cheios de satisfao, desafiando-se em primazia, na nsia de contribuir, etc. ... O pelourinho reclamado pelo Ouvidor Lus Brito devia ser o que existia ainda pelo correr do sculo XVIII no lugar onde, posteriormente, se ergueu o palcio de Bobadel a. Mudaram-no dali para o largo da S do Rosrio. Depois passou ele para o do Rocio, e mais tarde para o do Capim. No podiam esses instrumentos de suplcio introduzido s no Brasil guardar as solenidades granticas e a beleza ornamental dos congneres p ortugueses. Isso, porm, no os privou de funcionar com alguma bravura, embora no se saiba bem se com a justia com que funcionaram os seus irmos de alm-mar. Picotas eram pelourinhos de madeira, erguidos fora da cidade, e tronco a picota para castigo dos escravos. Muitos eram os privilegiados isentos de conhecer as argolas dos pelourinhos e a sua inseparvel chibata. Os homens de sangue azul, por exemplo, no recebiam aoites. O clero estava tambm ise nto; e, com ele, os juzes, os altos administradores, os oficiais da tropa, os ver eadores, seus filhos, os escudeiros e pagens a servio de fidalgos, at os escudeiro s das pessoas que pudessem traz-los a cavalo, como est nas Ordenaes. No pelourinho metia-se o ru com barao e prego. A corda era levada ao pescoo, em laada larga. Amarrado o paciente ao poste do sofrimento, lida a sentena, dava-se o sinal ao ho mem do aoite. E logo, para abafar os gritos do castigado, entravam os tambores a rufar. E rufa vam durante todo o tempo do castigo. J a multido cercava o pequeno patbulo. O rudo do tambor servia de anncio para o espetc ulo gratuito. Vinha chegando gente de toda parte. O povilu curioso acotovelava-se. Eram negros escravos, mochilas, mendigos e cigan os, a mafra ociosa e infalvel, que corria das alfurjas da cidade atrs do vitico, at rs das procisses, atrs dos ambulantes do teatro de bonecos... O homem do aoite, sobre o estrado do pelourinho, a chibata na mo, ao ver-se olhado e admirado pela turba, ento, tomava atitudes, e, brioso, caprichava no castigo. O ltego descia mais forte, mais violento, listrando de sangue o dorso e os membro s do vergastado. Como nas touradas, o sangue aquecia e excitava a plebe, que se punha a bradar: B ravos! Muito bem! Com fora! Agenta! O que merecias era a forca! Fala-se dos homens do comrcio de hoje; mas, s quem manipula os documentos desses l ongnquos e pouco saudosos tempos da Colnia que pode ter idia aproximada do que fora m os de ontem, entre ns. O reinol, homem de negcios, quando abalava do Continente ou das Ilhas, para aqui abrir uma taberna Rua do Piolho ou um armazm de comestveis Rua Trs do Carmo, com o seu natural sentimento de aventura, a sua honradez e a justa ambio de enriquecer o mais depressa possvel, esbarrava logo com os polvos que o haviam antecedido na v iagem, dominadores da terra bonssima. E que polvos! Era toda uma matula de espert alhes e de malandros, que acabou por criar um professorado da esperteza, uma esco la de fraude na cidade. A ela juntavam-se, ainda, todos os negociantes que eram indesejveis l, e passveis, portanto, de degredo aqui: os que falsificavam mercadorias, os que mediam ou pes avam com pesos falsos, os que punham terra e gua no po, para fazer crescer no peso , alm de outros expedientes mais positivos na arte de roubar ou de envenenar o po vo. Quando caam neste delicioso paraso, tais patifes, tangidos pela vara das Orden
aes do Reino, aqui continuavam a sua profisso, apenas interrompida pela viagem de recreio, que faziam atravs do Atlntico. Seria de esperar que os nossos pelourinhos fossem particularmente freqentados po r esses malandrins, representantes da fina flor da esperteza lusitana, e que as estampas da poca nos mostram cheios de sade e banhas, pimpes nas maneiras, de sobra ncelhas cerradas e pernocas felpudas. Nem sempre. Ricos e generosos para com as autoridades do governo da terra, esses comerciante s, a golpes de favores, de sabujice e de presentes, destruam com facilidade, subo rnando, as queixas e as impertinncias do caboclo desgostado. E assim mais enriqueciam, Assim engordavam. E assim partiam. Felizmente, de temp os a tempos, por c surgia um administrador independente, como foi o Conde da Cunh a. Com ele, o pelourinho trabalhava a valer. No se deixava subornar. No poupava os pi ratas do comrcio. Rouba no peso? Aoite! Vende gneros deteriorados? Azorrogue! Pe gua no leite? Idem. Presentes? Nada de presentes. No os aceitava. Manifestaes de apreo, zumbaias? Ainda menos! Justia. Bordoada. Isso sim! Campanha aberta contra o aambar cador, contra o explorador, o envenenador e o ladro das economias do povo. E queria de tal sorte um homem desses agentar-se no governo! Resultado no fim de trs anos de administrao forte e sensata, o Sr. Conde da Cunha logo substitudo pelo gu a-morna do Sr. Conde de Azambuja... O Conde de Resende tambm no ficava a dever, no rigor e na energia, ao Conde da Cunha. Durou mais um pouco, mas no durou muito. O fato que, quando administradores desses aqui apareciam, o pelourinho entrava logo a trabalhar. A falta que hoje nos faz um instrumento desse, com duas boas argolas para amarra r gente gorda e um aoite na altura! E ns outros, como o povilu de outrora, a gritar : Muito bem! Ah! Vampiros da nossa bolsa e da nossa sade, que ainda nos roubais no preo e no pe so dos gneros, que envenenais o leite dos nossos filhos, quando no nos envenenais a ns mesmos, com rudes falsificaes e mercadorias deterioradas, tendo no bolso da ca la, como antigamente, o clssico envelope do tome-l, para a hora da corrupo e do subor no. A falta que aqui faz um pelourinho! Ah! Pelourinho! Pelourinho!
A sentena de morte A leitura da sentena no dia do suplcio O dia da execuo O enforc nto de Joaquim Jos da Silva Xavier, o Tiradentes Como os reinis festejaram a sua m orte Luminrias e entremeses O sentimento do filho da terra. Forca Uma vez lavrada a sentena de morte, o juiz erguia-se solenemente, e quebrava a p ena. Diante do ru lia-se, ento, a vontade da lei. Da sala do julgamento passava el e para a do oratrio da priso, onde ficava at a hora de sair para o suplcio. L recebia os consolos do Cu, ouvia missa, confessava-se, comungava. Assim corriam trs dias. No penltimo, traziam-lhe a trgica indumentria do patbulo, oferta amvel da Santa Casa : uma alva, um crucifixo e uma corda bem forte. Tudo era posto vista do condenad o, pelo carcereiro, que no se esquecia de avis-lo do momento exatamente marcado pa ra a execuo. No dia do sacrifcio, o despertar do ru fazia-se, em geral, logo aos primeiros albo res da manh. Vinha o carcereiro acompanhado do carrasco sala do oratrio. Dava-se c omeo cerimnia da ltima toalete. Antes, porm, o algoz tratava de lembrar ao condenado a dura obrigao em que se achava, dizendo-se constrangido pela lei. E pedia-lhe pe rdo, em nome de Deus e da Virgem Maria. Conta-se que o Tiradentes, ouvindo tais p alavras do famoso Capitania, comoveu-se de tal sorte que, depois de perdo-lo, no s lhe beijou as mos, como os ps, num lindo exemplo de humildade crist. Tirava o prprio condenado, com as suas mos, as roupas que at a vestira, e o carrasco , ento, passava-lhe a alva, enfiando-lhe, depois sobre o pescoo, a corda que o de via levantar na forca, em negligente e cmoda laada. E, de joelhos, diante do oratri o iluminado e sereno, a ficavam rezando, espera da hora de partir. J pelo ar andava o dobrar angustioso dos sinos, e, pelas ruas da cidade, os irmos de opa verde e bacias de prata a pedir pela missa, que se havia de rezar por alm a do padecente.
Enquanto isso se passava, na Santa Casa estavam se reunindo todos os maiores da irmandade. Corridas pelo Mordomo dos presos as insgnias do que ia morrer, em comp anhia ainda do Mordomo da botica, dos Mordomos da Vara e dos Visitadores, de cru z alada, como nas procisses saam todos desfraldando no ar a bandeira da Misericrdia, caminho da Cadeia onde se achava o ru. Era deveras impressionante essa marcha m elanclica e solene, ao entoar de lgubres ladainhas, feita a p, lentamente, atravs da s ruas da cidade. Lembrava um tanto o prstito sinistro dos viticos, que iam servir os moribundos ricos. O povo ajoelhava-se para ver passar esses padrinhos da mo rte, conduzindo, nas mos, pesadas tochas. Olhavam todos, cheios de superstio e curi osidade, para a famosa bandeira, que segundo se acreditava, devia salvar o padecente se, na hora de i-lo fora , arrebentasse a corda. Idia insensata de povo, pelo menos entre ns, que juiz algu m jamais aceitou essa graa especial, concedida revelia da justia del-Rei. Para le var-se o Tiradentes ao patbulo, a Santa Casa chegou s portas da Cadeia quando os s inos de So Jos, que lhe ficavam junto, j estavam cansados de bater. Eram quase oito horas e o dia rebrilhava de sol, iluminado, feliz e indiferente ao drama angust ioso que se ia representar. Tiradentes, que rezava na sala do oratrio, havia muito que ouvira, vindo de longe , o cntico dos fiis em jorros de beata melancolia sob o cristal festivo da manh, co nformado, tranqilo, quase feliz. que nesse momento, bem pouco do patriota existia naquele corpo envelhecido e gas to. A alma do crdulo dominava, por completo, todas as cleras e nsias de reivindicao e de revolta, que lhe haviam rugido no peito cheio de tanto amor sua terra e sua gent e. No se diga dele, entretanto, o que disse Joaquim Norberto, autor da Histria da Conjurao Mineira, com desdm e por malcia: prenderam um patriota, executaram um frade ! Esse natural misticismo no pode comprometer, de forma alguma, a figura do heri. Mo rreu com Deus, que ele aprendera a amar acima de tudo. Morreu como um cristo. E s e o era, morreu como devia. Tiradentes, logo que sentiu, perto, cessar os cnticos divinos, que vinham, havia muito, se aproximando, olhou para o carrasco contrito, como ele, ante o altar d e Jesus, e levantou-se. Estava pronto para morrer. Fosse feita a vontade de Deus e a dos homens. Tiraram-lhe as algemas dos ps. Perguntaram-lhe se queria beber ou comer qualquer coisa. No se sabe o que ele res pondeu. Por todo o mbito da priso sentiu-se movimento desusado: rudos de ferros, d e portas que se abriam, de vozes, de gemidos, de soluos... Que siga o padecente, algum disse. E o padecente moveu-se logo, seguido pelo negro Capitania, que enrodilhava melho r a sobra da corda, enorme, posta depois em voltas sobre o seu busto reforado de etope. Quando o mrtir chegou rua, espantou-se, vendo o espetaculoso e festivo aparato q ue o cercava. A cidade, como o dia iluminado e ardente, ataviara-se toda. A trop a vestia grande gala, mostrando, em sinal de regozijo, festes de flores sobre as vistosas casacas do uniforme. Os cavalos das altas autoridades, asseadssimos, ost entavam ferraduras, arreios e estribeiras de prata, as crinas e as caudas enfita das, as roupagens de sela da melhor seda e do melhor veludo, gualdrapas e mantas franjadas de ouro... Soavam clarins, clangoravam filarmnicas. Havia povo, movimento, inquietao, curiosi dade, interesse, bulha. Era a pompa oficial, com que se tentava mascarar o senti mento do povo. Num relance, Tiradentes compreendeu o cenrio teatral com que se pr ocurava enfeitar a sua morte, ao mesmo tempo que sentia o povo alheio gala, como vido, respeitoso e sereno. J no era, para ele, o povo da sua amada terra que tinha diante dos olhos, o povo que sofria e a quem tentara libertar, mas os seus irmos em Jesus. Trazia as mos algemadas. Mentalmente persignou-se. A massa popular esp essa, enorme, desdobrava-se pela Rua da Cadeia, para os lados da Misericrdia, par a as bandas da praa do Carmo e da Rua Direita, em cachos, sobrando pelos tejadilh os das carruagens, pelos balces das casas altas, pelos stos, pelos telhados, por to da a orla do morro do Castelo, indo do Cotovelo Carioca. Os frades do Carmo espr
emiam-se por entre os vares de ferro das janelas do convento, de olhos espantados e curiosos. E em meio ao povilu que refervia, mal contido pelos soldados da guar da vice-real, guardando o trecho que ia da Rua Direita Misericrdia, e pelo regime nto de Bragana, enfileirado na direo da Rua da Cadeia, viam-se os nicos que podiam m over-se com certo desembarao em meio a tanta gente, os nicos para os quais se abriam claros amveis na multido, os opas, com os seus balandrus verdes, as suas reluzentes bacias de pra ta e os seus gritos sinistros e fastidiosos. Para a alma do irmo padecente! Sbito, um clangor mais intenso de trombetas de guerra, e o esquadro vice-real, est acionado nas cercanias da Cadeia, toma o posto de honra que lhe cabe, frente do enorme e majestoso prstito. A seguir, o clero, de cruz alada, a irmandade da Miser icrdia, com a respectiva colegiada, e o condenado, tendo ao lado direito o confes sor e logo atrs o carrasco, o novelo da corda ao ombro, um pouco vaidoso da impre sso especial que vai causando. Os meirinhos em torno, como as moscas, assanhados e numerosos, e os irmos portadores de samburs com frutas, carnes, doces e lquidos reconfortadores, tudo para o que marcha para a morte. E, logo, Francisco Lus Alv es da Rocha, Desembargador Escrivo da Alada, que vai testemunhar a execuo, Jos Felici ano da Rocha Gameiro, Desembargador do Crime, Baltasar da Silva Lisboa, Juiz de Fora, e o Ouvidor da Comarca, Jos Antnio Valente... De novo, soldados a cavalo, vistosos e coloridos, o resto do esquadro vice-real. Atrs dele, enfim, puxada a corda por doze presidirios devidamente escoltados, a tu mba sombria e lgubre destinada a receber a carne sangrenta do mrtir aps o cerimonia l torpe do esquartejamento. uma urna negra, sinistra, pobre, posta sobre a carreta de rodas altas, que segue aos saltos, danando, tirada pelo pulso destro dos grilhetas felizes, coitados, g ozando a novidade do acontecimento, sem o qual no teriam sido arrancados ao fundo vil e ptrido da enxovia. Mais padres e frades; mais povo. Na altura do Recolhimento do Parto, um cntico magnfico e sereno sobe aos cus como u m rolo suavssimo de incenso: um coro de vozes femininas. So as recolhidas cantando a ladainha. Segue o prstito at igreja da Lampadosa. A, sobre o degrau de mrmore da porta, olhando o altar-mor, ajoelha Tiradentes. E reza. Com ele reza a multido co ntrita. Novas litanias, depois. At chegar ao tringulo de tropas, em cujo centro se ergue a forca, uma forca nova, alta, majestosa, de vinte degraus, soam onze hor as. A tropa d costas ao instrumento de suplcio. Por causa das dvidas, cada cartucheira transborda de munio. Toda a tropa portuguesa da cidade est sob armas. Tiradentes sobe tranqilo a escada fatdica, seguido do carrasco e do confessor. No se ouvem, na multido, os habituais alaridos de incitamento e de aplauso ao suplc io iminente. H silncio. H respeito. Tiradentes vai. Pra no alto. Olha embaixo o povilu absorto. Pede ao algoz que lhe abrevie a morte. Capitania pe-se vagarosamente a desenrolar a sua corda enorme. Novo pedido de Ti radentes, para acabar, logo, de vez, com aquilo. Depressa, diz ele, em nome de Deus, como ltima graa... Aro, guardio do Convento de Santo Antnio, surgir ao lado do padecente e teatralmente dizer: Meus irmos! uma prtica, assaz longa, assaz banal e, sobretudo, despropositada. O frade, porm, mostra-se, exibe-se, fala, citando latim, tomando atitudes beatficas, apelando p ara a piedade divina e terminando por orar o credo dos apstolos. Tiradentes, tran qilo, repete as palavras da orao. Capitania j armara no arvoredo da forca a corda vi ngadora. Frei Maria do Desterro, ento, cruzando os braos sobre o peito, dirige-se para a es cada que desce praa, muito lentamente. Pra de novo. Olha-a de frente, persigna-se, faz meia-volta, pondo-se, s a, lentamente, a desc-la de costas. Tiradentes, sereno , mas feliz, tendo recebido, sobre a cabea, o capucho da alva, lembrando a silhue ta sinistra de um farricoco, espera o empurro do carrasco. Capitania, porm, senhor do protocolo e prtico de varias execues, comea, a, a contar os degraus que o sacerdo te vai descendo, um p atrs, as mos enormes, em concha, prontas para o impulso fatal . O Frade toca, enfim, a terra onde, segundo a vontade dos homens, no poder apodre cer o corpo do mrtir. E faz, de novo, a meia-volta do estilo, abrindo os braos ao
Cu. o momento, afinal. Capitania age. O vulto de Tiradentes resvala, atirado no ar, sacudido pelo barao. O corpo, num movimento giratrio, dana um pouco. Queda depo is. quando se v a figura horrenda do negro, gil e desembaraado, trepar-lhe, como se fora um smio, sobre os ombros, de tal arte apressando o estrangulamento provocad o pela corda. Os tambores rufam. As msicas estrugem. Estralejam foguetes. De nov o, a Igreja, na pessoa de Frei Raimundo de Pena Forte, sobe alguns degraus do pa tbulo para uma prdica nova cujo comeo assim: Nem por pensamento traias ao teu rei... A multido dissolve-se, lentamente, tristemente. As msicas portuguesas continuam a vibrar. Os batalhes, aps a leitura do discurso, lido pelo Brigadeiro, desandam em vivas Rainha... J pelas esquinas esto, de h muito, afixados os editais, que, citando aos fiis vassal os da Amrica a inimitvel piedade da Rainha, lembram, aos mesmos, deitarem luminrias por trs dias, esperando que no sejam necessrias punies e pena contra os que desobede cerem s ordens, que devem ser cumpridas com a maior satisfao e vontade. Com satisfao e vontade! Diz-se que, noite, junto igreja da Cruz, folgou-se bastante em torno de um tabla do, onde se representaram alegres farsas e entremeses. Diz-se mais, que a Passa rola representou nesse palco para uma platia ruidosa e alegre. Se, realmente, nessa noite, tal senhorita de comdia representou, no foi, decerto, para ns, brasileiros, porque, segundo reza a tradio, o dia 21 de abril de 1790 foi singularmente triste nesta cidade, que se encheu de luto, apesar de todas as msi cas e luminrias oficiais. No, no foi para ns que representou a Passarola... FIM
You might also like
- A Biblia Dos CafajestesDocument46 pagesA Biblia Dos Cafajestesvendax94% (17)
- Guia Pratico Estudante Da Biblia PDFDocument27 pagesGuia Pratico Estudante Da Biblia PDFMarcileideNo ratings yet
- A hipnose de RasputinDocument13 pagesA hipnose de RasputinramossoroNo ratings yet
- Guia confissão 40pecadosDocument6 pagesGuia confissão 40pecadosLara Flores100% (1)
- Missa Primeira EucaristiaDocument3 pagesMissa Primeira EucaristiaHêdu Ribeiro80% (5)
- Carta de Pero Vaz de CaminhaDocument18 pagesCarta de Pero Vaz de CaminhaclaudiaNo ratings yet
- JESUS-HOMEM: O nascimento e os ensinamentos de JesusDocument26 pagesJESUS-HOMEM: O nascimento e os ensinamentos de JesusVitor WutzkiNo ratings yet
- Tim LaHaye - Como Estudar A Bíblia SozinhoDocument113 pagesTim LaHaye - Como Estudar A Bíblia Sozinhosilas_i100% (10)
- A Doutrina de DeusDocument30 pagesA Doutrina de Deusagnaldo santiagoNo ratings yet
- Érico Veríssimo - O Tempo e o Vento - O Continente - Tomo II (PDF) (Rev)Document236 pagesÉrico Veríssimo - O Tempo e o Vento - O Continente - Tomo II (PDF) (Rev)japajoh100% (2)
- As marcas de um MetodistaDocument12 pagesAs marcas de um MetodistaLuiz NetoNo ratings yet
- ELUCIDAÇÕES EVANGÉLICAS de Antonio Luiz SayãoDocument470 pagesELUCIDAÇÕES EVANGÉLICAS de Antonio Luiz SayãoIara Paiva100% (2)
- Teste Formativo - Auto Da Barca Do InfernoDocument9 pagesTeste Formativo - Auto Da Barca Do Infernoanacarvalho_2007415250% (2)
- Caminhos Antigos e Povoamento Do BrasilDocument282 pagesCaminhos Antigos e Povoamento Do BrasilRafaela ManniNo ratings yet
- RITOS FUNEBRES No Interior CearenseDocument72 pagesRITOS FUNEBRES No Interior CearenseNiccolly EvannysNo ratings yet
- Fogo PrateadoDocument16 pagesFogo PrateadoJose de TayobNo ratings yet
- Compendio Da Historia Do BrasilDocument374 pagesCompendio Da Historia Do BrasilREDEBOLIVARIANANo ratings yet
- Histcomvol 1 MarDocument360 pagesHistcomvol 1 MarBreno GomesNo ratings yet
- Os Maias emDocument4 pagesOs Maias emAna Isabel100% (1)
- A Cidade de São Paulo - Estudos de Geografia UrbanaDocument261 pagesA Cidade de São Paulo - Estudos de Geografia UrbanaBernardo CastroNo ratings yet
- A Expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento Do Brazil, Por Jaime CortesãoDocument335 pagesA Expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento Do Brazil, Por Jaime CortesãoMaria do Rosário Monteiro100% (2)
- Saint Seiya RPGDocument150 pagesSaint Seiya RPGGoulart100% (5)
- Cosmobiografia dos Avatares A-D-M-P-V-S-EDocument49 pagesCosmobiografia dos Avatares A-D-M-P-V-S-EbelelethNo ratings yet
- Na Era Das BandeirasDocument208 pagesNa Era Das BandeirasRodolfo Scopel100% (1)
- ASA NL9 3.ß Teste Formativo ABIDocument9 pagesASA NL9 3.ß Teste Formativo ABIJulio M Moreira90% (10)
- Teste Auto Da Barca Do InfernoDocument8 pagesTeste Auto Da Barca Do InfernoPatrícia PereiraNo ratings yet
- Lisboa Antiga Bairro Alto Vol I 2 Parte PDFDocument271 pagesLisboa Antiga Bairro Alto Vol I 2 Parte PDFRootuliasNo ratings yet
- Caminhos Antigos e Povoamento Do BrasilDocument282 pagesCaminhos Antigos e Povoamento Do Brasilemanuel.ferreiraNo ratings yet
- A Época de Gil VicenteDocument3 pagesA Época de Gil VicentePaula Cruz100% (10)
- As Sete Esposas de Barba-Azul: A verdadeira históriaDocument165 pagesAs Sete Esposas de Barba-Azul: A verdadeira históriaMainaraBarbosa100% (1)
- Historia Da Sociedade em Portugal No Seculo XVDocument596 pagesHistoria Da Sociedade em Portugal No Seculo XVMaria do Rosário Monteiro100% (1)
- Gerald Kein - Regras Da MenteDocument4 pagesGerald Kein - Regras Da MenteLeonardo NogueiraNo ratings yet
- O mito de D. Sebastião e a fundação do SebastianismoDocument4 pagesO mito de D. Sebastião e a fundação do Sebastianismopaulaangelo100% (3)
- Lisboa Antiga Bairro Alto Vol III 1 Parte PDFDocument253 pagesLisboa Antiga Bairro Alto Vol III 1 Parte PDFRootulias50% (2)
- Dez Anos no Brasil: o relato de um aventureiro alemão sobre o ImpérioDocument479 pagesDez Anos no Brasil: o relato de um aventureiro alemão sobre o ImpérioAllan FernandesNo ratings yet
- Luís Edmundo O Rio de Janeiro Do Meu TempoDocument635 pagesLuís Edmundo O Rio de Janeiro Do Meu Tempomariana_aguiar_31100% (1)
- Heresias sobre falsos profetas e maçonariaDocument5 pagesHeresias sobre falsos profetas e maçonariaIsvonaldo QueirozNo ratings yet
- Lenda Das Mães GeradorasDocument17 pagesLenda Das Mães GeradorasValeria RibeiroNo ratings yet
- Luis Edmundo - O Rio de Janeiro No Tempo Dos Vice-Reis 1763 - 1808Document480 pagesLuis Edmundo - O Rio de Janeiro No Tempo Dos Vice-Reis 1763 - 1808Eloísa DornellesNo ratings yet
- Memórias Da Rua Do OuvidorDocument208 pagesMemórias Da Rua Do OuvidorEstelaNo ratings yet
- Memórias Da Rua Do OlvidorDocument207 pagesMemórias Da Rua Do Olvidorein_soph_aor3191No ratings yet
- Sangue Limpo - Paulo Eiró PDFDocument138 pagesSangue Limpo - Paulo Eiró PDFRachel RianeleNo ratings yet
- As Maluquices Do ImperadorDocument95 pagesAs Maluquices Do ImperadorJosi CastroNo ratings yet
- Biografia de David CanabarroDocument8 pagesBiografia de David CanabarroCarlos LopesNo ratings yet
- Rio de Janeiro Do Meu TempoDocument635 pagesRio de Janeiro Do Meu TempoElizabarNo ratings yet
- Brasil: Primeiros vislumbres do Cabo FrioDocument377 pagesBrasil: Primeiros vislumbres do Cabo FrioCarlos OliveiraNo ratings yet
- O Sol e A Sombra - Laura de Mello e SouzaDocument17 pagesO Sol e A Sombra - Laura de Mello e SouzaAna KarolinyNo ratings yet
- Gil Vicente Teve À Mão Os Recursos Do Teatro AlegóricoDocument4 pagesGil Vicente Teve À Mão Os Recursos Do Teatro AlegóricoLuiz HenriqueNo ratings yet
- História não contada da Independência do BrasilDocument3 pagesHistória não contada da Independência do BrasilSergio JituNo ratings yet
- A vida de D. Pedro IIDocument118 pagesA vida de D. Pedro IIIuri De Oliveira LimaNo ratings yet
- GAZETA Maio 2017Document13 pagesGAZETA Maio 2017Freezing MoonNo ratings yet
- A Origem do Povoado de MaceióDocument249 pagesA Origem do Povoado de MaceióTARCYELMA LIRANo ratings yet
- Dom Henrique, o InfanteDocument116 pagesDom Henrique, o InfanteMaria do Rosário MonteiroNo ratings yet
- Auguste de Saint-Hilaire - Segunda Viagem A Sao PauloDocument233 pagesAuguste de Saint-Hilaire - Segunda Viagem A Sao PauloAna Maria Nogueira RezendeNo ratings yet
- Cópia de Boa Ventura! - Lucas Figueiredo OFICIALDocument403 pagesCópia de Boa Ventura! - Lucas Figueiredo OFICIALAparecida Labiak CostaNo ratings yet
- Jaime CortesaoDocument364 pagesJaime CortesaoLarissa Bernardo das Neves SilvaNo ratings yet
- Os Portugueses e seus feitos gloriosos no mundoDocument277 pagesOs Portugueses e seus feitos gloriosos no mundo10cd6dcee8No ratings yet
- Miscellanea e Variedade de Historias, Costumes, Casos, e Cousas Que em Seu Tempo Aconteceram, Por Garcia de ResendeDocument193 pagesMiscellanea e Variedade de Historias, Costumes, Casos, e Cousas Que em Seu Tempo Aconteceram, Por Garcia de ResendeMaria do Rosário MonteiroNo ratings yet
- Rio de Janeiro 1824 1826Document329 pagesRio de Janeiro 1824 1826vonkrepkeNo ratings yet
- Teste Fernaolopes 10aDocument8 pagesTeste Fernaolopes 10aAna MadeiraNo ratings yet
- Documentos Interessantes para A Historia e Costumes de S Paulo Vol 92Document248 pagesDocumentos Interessantes para A Historia e Costumes de S Paulo Vol 92Mateus CapssaNo ratings yet
- As maluquices do Imperador chegam ao BrasilDocument194 pagesAs maluquices do Imperador chegam ao BrasilericapedroNo ratings yet
- Camões e o RenascimentoDocument4 pagesCamões e o RenascimentoFCiênciasNo ratings yet
- Subsídios para A História Da Tauromaquia em Salvaterra de Magos - Séc XIX, XX, XXIDocument156 pagesSubsídios para A História Da Tauromaquia em Salvaterra de Magos - Séc XIX, XX, XXIHistoriaSalvaterraNo ratings yet
- Consideraçôes Sobre o Tratado Descritivo Do Brasil em 1587Document7 pagesConsideraçôes Sobre o Tratado Descritivo Do Brasil em 1587Mylena QueirozNo ratings yet
- Diário de João ChagasDocument348 pagesDiário de João ChagasoportaldasvendasnanetNo ratings yet
- O Soldado PraticoDocument288 pagesO Soldado PraticoCorcoran CarvalhoNo ratings yet
- A escravidão retratada no Museu ImperialDocument6 pagesA escravidão retratada no Museu ImperialAdrianaFernandesNo ratings yet
- CCB A Sereia PDFDocument240 pagesCCB A Sereia PDFPaula MoreiraNo ratings yet
- O nascimento do Infante D. Henrique no PortoDocument116 pagesO nascimento do Infante D. Henrique no PortoAntónio Fernando Carvalho RibeiroNo ratings yet
- Caderno de Oração Tamanho Tilibra PDFDocument36 pagesCaderno de Oração Tamanho Tilibra PDFSheila BispoNo ratings yet
- Bibliamais Completo PTDocument90 pagesBibliamais Completo PTjoão_passos_27No ratings yet
- Estudar A BibliaDocument57 pagesEstudar A BibliaGildasio ReisNo ratings yet
- MetasDocument1 pageMetasLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Topografia - SenaiDocument3 pagesTopografia - SenaiLeonardo NogueiraNo ratings yet
- P - Escala PentatonicaDocument8 pagesP - Escala PentatonicaalunoreginaldoNo ratings yet
- Midríase: dilatação da pupila por drogas ou lesõesDocument1 pageMidríase: dilatação da pupila por drogas ou lesõesLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Como Estudar A Bíblia: BibliotecaDocument76 pagesComo Estudar A Bíblia: BibliotecaLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Encoding ErrorsDocument1 pageEncoding ErrorsLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Atividade Discursiva - 9930032604Document1 pageAtividade Discursiva - 9930032604Leonardo NogueiraNo ratings yet
- Alguns Negs (Aparentemente Nenhuma Novidade)Document1 pageAlguns Negs (Aparentemente Nenhuma Novidade)Leonardo NogueiraNo ratings yet
- Dicas de Linguagem em Hipnose CovertDocument4 pagesDicas de Linguagem em Hipnose CovertLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Videos Do Smai Ore Ship Not I StasDocument4 pagesVideos Do Smai Ore Ship Not I StasSidarranjadorNo ratings yet
- LockpickingDocument11 pagesLockpickingjcdc100% (1)
- Gerald Kein - Como Usar A Hipnose Sugestão de Vigília...Document5 pagesGerald Kein - Como Usar A Hipnose Sugestão de Vigília...Leonardo NogueiraNo ratings yet
- Gerald Kein - Hipnose - Melhoria Hábito de Estudo - ApostilaDocument5 pagesGerald Kein - Hipnose - Melhoria Hábito de Estudo - ApostilaLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Curso de HipnoseDocument0 pagesCurso de HipnoseBender B. RodríguezNo ratings yet
- Gerald Kein - A Ética de Utilizar Induções Instantâneas e RápidasDocument9 pagesGerald Kein - A Ética de Utilizar Induções Instantâneas e RápidasDanilo M. LemosNo ratings yet
- Opener e Rotina Por Evolution PU.Document2 pagesOpener e Rotina Por Evolution PU.gabriel0bussNo ratings yet
- Gerald Kein - A Ética de Utilizar Induções Instantâneas e RápidasDocument9 pagesGerald Kein - A Ética de Utilizar Induções Instantâneas e RápidasDanilo M. LemosNo ratings yet
- Gerald Kein - Maxi Profundidade PadrãoDocument7 pagesGerald Kein - Maxi Profundidade PadrãoLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Gerald Kein - Quebrando Sua Zona de ConfortoDocument6 pagesGerald Kein - Quebrando Sua Zona de ConfortoLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Opener Doença Da Falta de SexoDocument1 pageOpener Doença Da Falta de SexoLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Duas Rotinas Infalíveis)Document1 pageDuas Rotinas Infalíveis)Leonardo NogueiraNo ratings yet
- Entendendo A Rotina Da AdivinhacaoDocument1 pageEntendendo A Rotina Da AdivinhacaoLeonardo NogueiraNo ratings yet
- Vencendo os desejos pela intimidade com o EspíritoDocument26 pagesVencendo os desejos pela intimidade com o EspíritoprorlandojrNo ratings yet
- A predestinação segundo a eternidadeDocument154 pagesA predestinação segundo a eternidademarcosagnerNo ratings yet
- A origem dos conflitos está no coração e na idolatriaDocument12 pagesA origem dos conflitos está no coração e na idolatriaAdSoutoNo ratings yet
- As nove virtudes do Fruto do EspíritoDocument3 pagesAs nove virtudes do Fruto do EspíritoOzeas Silva100% (2)
- Anunciando O Alto ClamorDocument276 pagesAnunciando O Alto ClamorTiagoNo ratings yet
- A ArcaDocument30 pagesA ArcaVivabems Santos100% (1)
- Vigia esperando a auroraDocument6 pagesVigia esperando a auroraAndreSampaioNo ratings yet
- Medieval - As Ideias (Agostinho de Hipona)Document4 pagesMedieval - As Ideias (Agostinho de Hipona)ƒilosonias e auriculturasNo ratings yet
- Confissao de Fe Da Igreja Presbiteriana Renovada Do BrasilDocument10 pagesConfissao de Fe Da Igreja Presbiteriana Renovada Do BrasilFernando SoyerNo ratings yet
- O Dia de Santa PriscilianaDocument73 pagesO Dia de Santa Priscilianaspirito_santoNo ratings yet
- (Estudo Bíblico) Os Efeitos Do Mundanismo Na Família - Arauto de Cristo - Voz Que Clama No DesertoDocument5 pages(Estudo Bíblico) Os Efeitos Do Mundanismo Na Família - Arauto de Cristo - Voz Que Clama No DesertoWiliam Roque PenaNo ratings yet
- Filho É FlechaDocument4 pagesFilho É FlechaarletenascimentoNo ratings yet
- Curso de Engenharia para CemitériosDocument30 pagesCurso de Engenharia para CemitériosVanessa NegrãoNo ratings yet
- Aforismos ZenDocument20 pagesAforismos Zenapi-20012924No ratings yet
- Hinos Grupo Jovem G.ADocument12 pagesHinos Grupo Jovem G.ABritto MayNo ratings yet
- O Jubileu Da Rua Azusa - William BranhamDocument10 pagesO Jubileu Da Rua Azusa - William Branhamdiogenes.dornelles4503100% (1)
- Direito Empresarial (Completo) - GliocheDocument242 pagesDireito Empresarial (Completo) - Gliocheleiza100% (23)
- Apostila Laboratório de RedaçãoDocument34 pagesApostila Laboratório de RedaçãoDoralua100% (1)