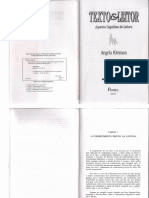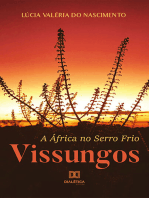Professional Documents
Culture Documents
E Book
Uploaded by
Raquel100%(1)100% found this document useful (1 vote)
411 views495 pagesOriginal Title
eBook
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
411 views495 pagesE Book
Uploaded by
RaquelCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 495
Multideia Editora Ltda.
Alameda Princesa Izabel, 2.215
80730-080 Curitiba PR
+55(41) 3339-1412
editorial@multideiaeditora.com.br
Conselho Editorial
Marli Marlene M. da Costa (Unisc)
Andr Viana Custdio (Unisc/Avantis)
Salete Oro Boff (UNISC/IESA/IMED)
Carlos Lunelli (UCS)
Clovis Gorczevski (Unisc)
Fabiana Marion Spengler (Unisc)
Liton Lanes Pilau (Univalli)
Danielle Annoni (UFSC)
Luiz Otvio Pimentel (UFSC)
Orides Mezzaroba (UFSC)
Sandra Negro (UBA/Argentina)
Nuria Bellosso Martn (Burgos/Espanha)
Denise Fincato (PUC/RS)
Wilson Engelmann (Unisinos)
Neuro Jos Zambam (IMED)
Coordenao Editorial: Ftima Beghetto
Reviso de Ligustica: Wanderson Ciambroni
Capa: Snia Maria Borba
Apoio
CPI-BRASIL. Catalogao na fonte
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura [recurso
T255 eletrnico] / organizao de Rosngela Gabriel, Onici Claro Flres,
Rosane Cardoso, Fabiana Piccinin Curitiba: Multideia, 2014.
495 p.; 23 cm
ISBN 978-85-86265-89-1
(vrios coautores)
1. Cognio. 2. Aprendizagem. 3. Linguagem. 4. Leitura.
I. Gabriel, Rosngela (org.). II. Flres, Onici Claro (org.). III. Cardoso,
Rosane (org.). IV. Piccinin, Fabiana (org.). II. Ttulo.
CDD 370.15(22.ed)
CDU 37.015.3
de inteira responsabilidade dos autores a emisso dos conceitos aqui apresentados.
Autorizamos a reproduo dos textos, desde que citada a fonte.
Respeite os direitos autorais Lei 9.610/98.
Rosngela Gabriel
Onici Claro Flres
Rosane Cardoso
Fabiana Piccinin
(Organizadoras)
TECENDO CONEXES ENTRE
COGNIO, LINGUAGEM E LEITURA
Curitiba
2014
APRESENTAO
No meio acadmico contemporneo, a pesquisa
evidencia que o estado da arte nos mais diversos
campos do saber apresenta consenso, quando o as-
sunto em foco a articulao entre os conhecimen-
tos construdos nas vrias disciplinas acadmicas ao
longo do tempo. Essa articulao visa a aprofundar o
que se sabe a respeito do modo humano de conhe-
cer, envolvendo esse conhecimento cognio e lin-
guagem, memria e pensamento, raciocnio e imagi-
nao, emoo e razo, intuio e experimentao.
De fato, os estudos sobre a cognio, de modo
geral, e, particularmente, o alto investimento nas
pesquisas neurocientficas do crebro/mente, bem
como sua intensa e ampla difuso nas ltimas duas
ou trs dcadas, em pases como os Estados Unidos e
a Frana, dentre outros, propiciaram desdobramen-
tos tericos inimaginveis anteriormente, alm de
aproximar reas de conhecimento comumente apar-
tadas e incomunicveis.
Em decorrncia, viabilizou-se que, com base
em perspectivas tericas relevantes da atualidade,
fosse possvel produzir e difundir a coletnea de tex-
tos que compe esta publicao, a qual aborda a
cognio (inclusive, gramtica) e a linguagem, a par-
tir de diferentes enfoques. No que diz respeito leitu-
ra, em especial, deve-se destacar o espectro de cam-
pos de conhecimento envolvidos: lingustica, teoria
da literatura e comunicao, bem como vrios gne-
ros textuais que circulam nessas esferas sociais.
Rosngela Gabriel, Onici Claro Flres, Rosane Cardoso & Fabiana Piccinin
6
Em vista disso, foram selecionados e reunidos trabalhos que se
fundam em algumas das mais representativas propostas tericas atuais,
visando sua ampla difuso. Esses trabalhos contm reflexes sobre
temticas distintas, mas interdependentes, que so arroladas ao longo
das trs partes constitutivas do livro aqui apresentado. Os temas no
so tratados sob o mesmo vis terico. Porm, se as abordagens so
diferentes, unnime a busca de respostas para o desafio de relacio-
nar campos diversos, o que mostra a viabilidade de interseco e
complementaridade desses campos.
Com o propsito de dar visibilidade s controvrsias existentes,
distriburam-se as contribuies de autores de instituies acadmi-
cas brasileiras em trs sees, versando sobre uma das reas de inves-
tigao a seguir relacionadas: Parte I Cognio e linguagem; Parte II
Leitura e educao bsica; e Parte III Narrativas literrias e miditicas.
Esse conjunto de contribuies teve sua origem nas discusses
realizadas ao longo dos eventos conjuntos promovidos pelo GT Lin-
gustica e Cognio da ANPOLL Associao Nacional de Ps-Gradua-
o em Letras e Lingustica e pelo Programa de Ps-Graduao em Le-
tras (PPGL), rea de concentrao Leitura e Cognio, da Universidade
de Santa Cruz do Sul (UNISC), no perodo de 25 a 27 de setembro de
2013, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. A VI Conferncia Lin-
gustica e Cognio e o VI Colquio Leitura e Cognio tiveram como
objetivo comum tecer conexes entre campos de saber que se dedi-
cam aos estudos da cognio humana, em especial s questes da lin-
guagem oral e escrita, congregando pesquisadores e estudantes em
torno de objetos de pesquisa em comum. Ao longo dos eventos, foram
apresentados 180 trabalhos de pesquisa, nas modalidades palestra,
mesa-redonda, simpsio e comunicao individual. Setenta e cinco ar-
tigos foram submetidos avaliao das organizadoras deste livro, as
quais, aps intensa anlise, selecionaram os artigos que compem as
trs sees j mencionadas. Importa esclarecer que a seleo das con-
tribuies que ora integram a presente obra considerou a qualidade
dos artigos, bem como a aderncia temtica proposta. Aos autores
cujos artigos no integram esta obra, o nosso agradecimento pela con-
fiana no trabalho realizado.
A publicao desta obra no seria possvel sem o inestimvel
apoio da FAPERGS Fundao de Apoio Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul (Processo 4266.273.14757.27052013). Cumpre regis-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
7
trar ainda nosso agradecimento mestranda do PPGL Katiele Naiara
Hirsch, secretria Luiza Wioppiold Vitalis e Universidade de Santa
Cruz do Sul, instituio em que as organizadoras deste livro atuam
como professoras e pesquisadoras.
Cognio, linguagem e leitura so temas complexos que ensejam
diferentes perspectivas tericas e metodolgicas, por vezes comple-
mentares, por vezes incompatveis. Possveis controvrsias provocam
discusses que oportunizam o avano do conhecimento. Esperamos
que os artigos reunidos nesta obra contribuam para a qualificao das
investigaes e para que olhares transversais sobre cognio, lingua-
gem e leitura sejam privilegiados.
As organizadoras
SUMRIO
Parte I COGNIO E LINGUAGEM
Captulo 1
O QUE H POR TRS DE UMA HISTRIA: AS RELAES ENTRE
ENCANTAMENTO E COGNIO ................................................................................. 17
Daiane Lopes (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Onici Claro Flres (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 2
A EMERGNCIA DA ESPECIALIZAO CEREBRAL PARA LEITURA DE
PALAVRAS........................................................................................................................... 33
Ivanete Mileski (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Lucilene Bender de Sousa (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Captulo 3
IMPLICAES LINGUSTICO-COGNITIVAS E CONCEPTUAIS DA
MULTIMODALIDADE TECNOCOMUNICACIONAL .............................................. 47
Aline Aver Vanin (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Camila Xavier Nunes (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Captulo 4
MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS ACADMICOS X MODELOS
COGNITIVOS IDEALIZADOS NO ACADMICOS: A CATEGORIZAO
EM CLASSES HIPERONMICAS ................................................................................... 61
Thalita Maria Lucindo Aureliano (Universidade Federal da Paraba)
Jan Edson Rodrigues Leite (Universidade Federal da Paraba)
Danielly Lima Lopes (Universidade Federal da Paraba)
Mbia Nunes Toscano (Universidade Federal da Paraba)
Captulo 5
ESTUDO DAS CONSTRUES CONDICIONAIS EPISTMICAS NA
GRAMTICA COGNITIVA .............................................................................................. 75
Andra de Oliveira Gomes Martins (Universidade Federal da Paraba)
Fbio Lcio Gomes Barbosa (Universidade Federal da Paraba)
Jan Edson Rodrigues Leite (Universidade Federal da Paraba)
Auriclia Moreira Leite (Universidade Federal da Paraba)
Captulo 6
A SEGUNDA ABOLIO NO BRASIL: A PROJEO DE DOMNIOS DA
EXPERINCIA NA CONSTRUO DE SENTIDO ................................................... 89
Vincius Nicas (Universidade Federal de Pernambuco)
Rosngela Gabriel, Onici Claro Flres, Rosane Cardoso & Fabiana Piccinin
10
Captulo 7
A METFORA COMO UMA EMERGNCIA DINMICA, CATICA E
COMPLEXA .......................................................................................................................... 99
Joo Paulo Rodrigues de Lima (Universidade Estaual do Cear)
Captulo 8
METFORA E PROGRESSO TPICA EM ARTIGOS CIENTFICOS DE
HISTRIA .......................................................................................................................... 115
Adriano Dias de Andrade (Universidade Federal de Pernambuco)
Captulo 9
O PAPEL DA METFORA CONCEPTUAL NA CONSTRUO DAS
MLTIPLAS LEITURAS EM UM POEMA DE GUIMARES ROSA ................ 129
Gislaine Vilas Boas (Universidade Federal de Santa Maria)
Captulo 10
O PRINCPIO DA RELEVNCIA E A COMPREENSO DE ENUNCIADOS
METAFRICOS EM TEXTOS PUBLICITRIOS: UMA ABORDAGEM NA
INTERFACE ENTRE PRAGMTICA E CINCIAS COGNITIVAS .................... 143
Kri Lcia Forneck (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Captulo 11
A RELAO DOS PROCESSOS COGNITIVOS DE INFERNCIA E PREDIO:
UMA INTERFACE ENTRE PSICOLINGUSTICA E PRAGMTICA ................ 161
Jonas Rodrigues Saraiva (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Parte II LEITURA NA EDUCAO BSICA
Captulo 12
LEITURA DO LIVRO DE IMAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR: ALGUMAS
REFLEXES NECESSRIAS........................................................................................ 177
Marlia Forgearini Nunes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Captulo 13
DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA: COMO LEVAR O
ALUNO A SUPER-LAS? .............................................................................................. 189
Mrcia Regina Melchior (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Rosngela Gabriel (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
11
Captulo 14
INTERFERNCIA DO ENQUADRAMENTO DE TRABALHO NAS
REPRESENTAES SOBRE O ENSINO DE LEITURA NO CONTEXTO
DE FORMAO INICIAL DOCENTE ........................................................................ 205
Fabrcia Cavichioli Braida (Universidade Federal de Santa Maria)
Captulo 15
INDICADORES DA LEITURA NO BRASIL: UMA ANLISE DOS
DADOS DA REGIO DO VALE DO RIO PARDO ................................................... 221
Katiele Naiara Hirsch (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Rosngela Gabriel (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 16
CONSCINCIA MORFOLGICA E FONOLGICA: UM ESTUDO A
PARTIR DO MODELO DE REDESCRIO REPRESENTACIONAL ............... 249
Dbora Mattos Marques (Universidade Federal do Pampa)
Aline Lorandi (Universidade Federal do Pampa)
Captulo 17
CONSCINCIA FONOLGICA E ALFABETIZAO ESTUDOS
REFERENTES IDENTIFICAO E PRODUO DE RIMAS ..................... 263
Clarice Lehnen Wolff (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Captulo 18
INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE EM PAUTA NAS
AULAS DE LNGUA MATERNA.................................................................................. 277
Luciana Maria Crestani (Universidade Federal de Passo Fundo/
Faculdade Anhanguera de passo Fundo)
Captulo 19
QUEM O INTERLOCUTOR DOS PARMETROS CURRICULARES
NACIONAIS DE LNGUA PORTUGUESA DO TERCEIRO E QUARTO
CICLOS? .............................................................................................................................. 295
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Captulo 20
TEXTOS PODEM FICAR PEQUENOS: USOS DO RESUMO COMO
INSTRUMENTO EM TRS DIMENSES................................................................. 315
Marlia Marques Lopes (Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul)
Rosngela Gabriel, Onici Claro Flres, Rosane Cardoso & Fabiana Piccinin
12
Captulo 21
A TRADUO E O SEU PAPEL NA SALA DE AULA DE ESPANHOL COMO
LNGUA ESTRANGEIRA .............................................................................................. 325
Angela Luzia Garay Flain (Universidade de Santa Cruz do Sul/
UAB-Universidade Federal de Santa Maria)
Captulo 22
A CONSTRUO DO SENTIDO DO VOCABULRIO DA LNGUA
PORTUGUESA POR SURDOS ..................................................................................... 341
Catia Regina Zge Lamb (Instituto Federal Farroupilha)
Graciele H. Welter (Instituto Federal Farroupilha)
Parte III NARRATIVAS LITERRIAS E MIDITICAS
Captulo 23
AUTONARRATIVAS: TECENDO REDES ENTRE OS CONCEITOS DE
AUTORIA, COMPLEXIFICAO E AUTOCONSTITUIO DO HUMANO .. 355
Beatriz Rocha Araujo (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 24
ALBERT CAMUS E A ESTTICA DO ABSURDO: UMA EXPERINCIA
INQUIETANTE ................................................................................................................ 369
Catiussa Martin (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Eunice Piazza Gai (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 25
SOLIDO, VAZIO EXISTENCIAL E A (IN)SUFICINCIA DAS TEORIAS DO
CONTO: UMA LEITURA DE NARRATIVAS CURTAS DE JOO GILBERTO
NOLL ................................................................................................................................... 383
Roselei Battisti (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses)
Captulo 26
RELAES ENTRE LITERATURA E VIOLNCIA: ANOTAES SOBRE
FORMAS E TEMAS DE CONTOS BRASILEIROS CONTEMPORNEOS ...... 399
Luana Teixeira Porto (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses)
Captulo 27
VIOLNCIA, REPRESSO SEXUAL E SOCIEDADE PATRIARCAL:
UMA LEITURA DE NARRATIVAS DE CAIO FERNANDO ABREU ................. 411
Larissa Bortoluzzi Rigo (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Misses)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
13
Captulo 28
QUANDO A FONTE VIRA PERSONAGEM .............................................................. 425
Fabiana Piccinin (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Kassia Nobre (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 29
APROPRIAES JORNALSTICAS NO CAMPO LITERRIO:
RECONFIGURAES NARRATIVAS IDENTIFICADAS NA OBRA NO
BIOGRFICA DE FERNANDO MORAIS .................................................................. 441
Demtrio de Azeredo Soster (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Daiana Stockey Carpes (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Diana Azeredo (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Ricardo Dren (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Rodrigo Bartz (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Vanessa Costa de Oliveira (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 30
O PERFIL DE MULHER NO JORNAL DAS SENHORAS E NOS CONTOS
D. BENEDITA E CAPTULO DOS CHAPUS, DE MACHADO
DE ASSIS ............................................................................................................................ 451
Itiana Daniela Kroetz (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Eunice Terezinha Piazza Gai (Universidade de Santa Cruz do Sul)
Captulo 31
A FIGURAO FEMININA EM O FIO DAS MISSANGAS, DE MIA COUTO ... 465
Silvia Niederauer (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses)
Captulo 32
IDENTIDADE DO SUJEITO ANGOLANO NA NARRATIVA DE
CASTRO SOROMENHO ................................................................................................. 473
Ana Paula Teixeira Porto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Captulo 33
A FORMAO DA IDENTIDADE INDGENA EM METADE CARA,
METADE MSCARA, DE ELIANE POTIGUARA .................................................... 481
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Misses)
Parte I
COGNIO E LINGUAGEM
O QUE H POR TRS DE UMA HISTRIA:
AS RELAES ENTRE
ENCANTAMENTO E COGNIO
Daiane Lopes
1
Onici Claro Flres
2
1 INICIANDO A CONVERSA: UM JOGO ENTRE O LER E O DIZER
Em nossas vidas, h muitos episdios e situaes que influenciam
ou influenciaram as nossas aes e que podem ser evocados com faci-
lidade. Mas as pessoas que nos marcaram foram aquelas que, com cer-
teza, nos disseram algo: a me que nos contava histrias antes de
dormir, a professora que encenava textos para nos fazer compreender
algo, o palhao que nos encantava e enchia nossa vida de fantasias. O
contato que tivemos com tais indivduos se deu por meio de um jogo,
pois teve funo significante, conferindo sentido s atividades das
quais participamos. Na verdade, a prpria linguagem pode ser tida
como um jogo ao fazer com que relacionemos aquilo que pensamos
com a materialidade que possui.
A prtica do dizer e, consequentemente, a ao de jogar com as
palavras so atividades extremamente presentes e relacionadas ao
nosso dia a dia. Entretanto, raramente percebemos essa ligao e, s
vezes, somente a partir de algumas leituras que abrimos espao para
esse tipo de reflexo. Elie Bajard (2001), por exemplo, em sua obra Ler
e dizer, nos faz pensar acerca dos conceitos de leitura, de leitura oral e
de dizer, sob uma perspectiva que considera a compreenso como a
apropriao integral do texto pelo leitor. J Huizinga (1999) apresenta
1
Aluna do Mestrado em Letras Leitura e Cognio/UNISC; bolsista PROSUP/ CAPES.
E-mail: daianel@mx2.unisc.br.
2
Professora do PPG em Letras Mestrado e do Departamento de Letras da UNISC.
E-mail: oflores@unisc.br.
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
18
o jogo como um dos elementos fundamentais da cultura humana, no
qual se enquadra a linguagem sobretudo, o dizer literrio. Nesse sen-
tido, as ponderaes destacadas nesta primeira parte de nosso dilo-
go estaro pautadas nas concepes de tais autores, assim como em
Ligia Cadermatori Magalhes (1982), que tambm considera a inicia-
o literria como jogo.
O dizer, segundo Bajard (2001), pode ser definido como ativida-
de de comunicao que ocorre a partir da traduo de um texto escrito
em um texto falado, ou seja, um igual diferente. A partir de um texto
preexistente, ocorre uma comunicao oral, na qual aquele que diz
pode expor a sua interpretao mediante a atividade de emisso, con-
siderando que um texto permite mltiplas mas no infinitas inter-
pretaes, j que no se pode fugir das ideias inseridas no texto pelo
autor. Caso isto ocorra, gera-se novo texto.
Dessa maneira, extremamente pertinente diferenciar a prtica
da leitura oral da prtica do dizer. Na primeira, ocorre a decodificao
de grafemas e o leitor pode at ler expressivamente para dar destaque
sua interpretao, mas o foco no enfatizar a compreenso. Para
poder dizer um texto, no entanto, o indivduo precisa compreend-lo e
senti-lo, ou seja, algo mais do que apenas oralizar. Necessita, tam-
bm, contrastar seu conhecimento de mundo com as informaes ex-
postas pelo autor e ser capaz de extrair um sentido para o que foi lido.
De acordo com Varela (2006), o conhecimento de mundo, tambm de-
nominado conhecimento enciclopdico, pode ser definido como o
aprendizado que construmos, desde o momento em que nascemos,
pela observao e experincia pessoal. Inclui-se, tambm, nessa expe-
rincia o aprendizado formal, obtido por nossas leituras e estudos. Pa-
ra dizer, ento, o indivduo necessita da realizao da prtica de leitu-
ra, que consiste em atividade silenciosa, individual e invisvel, que
permite a construo de sentidos a partir de significantes grficos e que
s pode ser avaliada por seus efeitos. O dizer, ento, no se define como
modalidade de leitura, mas sim uma das trs vias de acesso escrita:
ler, escrever e dizer (BAJARD, 2001).
De acordo com Bajard (2001), quando se diz um texto, neces-
srio entrar em um jogo, pois h o envolvimento de uma plateia que
ir atribuir determinado significado para aquilo que est sendo dito
de acordo com suas vises de mundo. Da a existncia de inmeros
tipos de dizeres. H o contador de histrias, que assume as persona-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
19
gens e as instncias do enredo. H tambm o ator, que assume outros
eus diante de testemunhas, as quais, mesmo sabendo que tal dizer
fictcio, ao se envolverem na situao, acabam interpretando-a como
real. Outra forma de dizer aquela dos jornais televisivos, que tem a
inteno de transmitir informaes a determinado pblico. Assim, as
maneiras de se dizer dependem das intenes de cada pessoa, do pr-
prio texto e da situao, enfim, do contexto vivenciado.
Para Dijk (2012), os contextos no so um tipo de situao social
objetiva, na verdade, definem-se como construtos construdos pelos
participantes da interao, que, embora socialmente fundamentados,
so subjetivos, referindo-se a propriedades consideradas relevantes
em tal situao pelos prprios participantes, isto , os contextos so
modelos mentais. Segundo o autor, agimos em diferentes situaes de
acordo com imagens esquemticas que armazenamos em nosso cre-
bro sobre elas, nossas aes so pautadas naquilo que conhecemos
sobre o entorno social e sobre o ambiente fsico no qual interagimos.
Dessa maneira, ao mesmo tempo que processamos nosso discurso ou
nosso dizer, precisamos controlar nossa interpretao, que subjeti-
va, sobre a situao.
Outro aspecto importante a ser ressaltado a questo dos ins-
trumentos utilizados para a prtica do dizer. Primeiramente, preciso
que se levem em considerao as inmeras situaes de dico: grito,
cochicho etc. Relacionados a isto esto outros dois meios que auxiliam
em tal prtica: o olhar e o gesto. O olhar utilizado tanto por quem
emite o texto quanto por quem o recebe. necessrio existir um jogo
de olhares e haver confiana mtua entre eles. J o gesto pode servir
para eliminar ambiguidades, para subverter o texto ou at mesmo pa-
ra contradiz-lo, pois o corpo inteiro se torna significante no jogo lin-
gustico em andamento. Alm disso, pode-se contar com o uso de obje-
tos especialmente selecionados para a ocasio e de um espao apro-
priado para cada dizer.
Cabe ressaltar, ainda, a dimenso ldica que envolve o dizer e
que s acontece quando h uma ruptura com a realidade cotidiana.
Conforme comenta Bajard (2001), fundamentado em Winnicott, o jogo
uma rea intermediria entre o sonho e a realidade. Na tica desses
autores, o homem tem necessidade de desenvolver esse espao de jo-
go, que est vinculado tanto realidade quanto ao sonho, nele enrai-
zando-se a religio e a cultura, j a partir do faz-de-conta infantil. O
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
20
contador de histrias, por exemplo, precisa jogar com a plateia e ten-
tar envolv-la, fazendo com que aceite a dimenso ldica da situao.
Caso contrrio, ele no conseguir jogar, gerando-se constrangimento
e/ou inibio.
H muitas teorias a respeito do jogo. Huizinga (1999), porm,
nos mostra que a civilizao surge e se desenvolve no jogo, que mais
antigo do que a prpria cultura. E por conferir um sentido ao,
conforme j afirmado anteriormente, que o jogo possui uma funo
significante. O jogo tem carter esttico, promove prazer, alegria, ten-
so e sua essncia definida como divertimento. Apesar da presena
do jogo antes mesmo do surgimento da cultura, ele permeia todas as
manifestaes culturais, demonstrando a sua funo social. Por isso,
acaba se tornando acompanhamento, complemento e parte integrante
da vida real, do mesmo modo que muitos tericos concebem ser a arte
literria.
Ao se instalar o jogo, ocorre a delimitao de certo espao onde
se respeitam determinadas regras, ou seja, cria-se um mundo tempo-
rrio dentro do mundo cotidiano. Promove-se, ento, a evaso da vida
real mediante a criao de uma esfera temporria de atividade com
orientao prpria. E, neste novo mundo, ao mesmo tempo que pos-
svel a autenticidade e a espontaneidade, exige-se a seriedade e a con-
centrao. Apesar de ser tido como algo suprfluo, o prazer provocado
pela prtica do jogo pode torn-lo uma necessidade. Assim, o jogo
[...] se insinua como atividade temporria, que tem uma finalidade
autnoma e se realiza tendo em vista uma satisfao que consiste
nessa prpria realizao. pelo menos assim que, em primeira ins-
tncia, ele se nos apresenta: como um intervalo em nossa vida quo-
tidiana. Todavia, em sua qualidade de distenso regularmente veri-
ficada, ele se torna um acompanhamento, um complemento e, em
ltima anlise, uma parte integrante da vida em geral. (HUIZINGA,
1999, p. 12)
Diante de tais caractersticas, podemos considerar a leitura liter-
ria como um jogo, uma vez que nela h o contato direto com a lingua-
gem, com as palavras (metforas, antteses etc.). Sabemos que ao se
ler no se brinca, mas que, para estabelecermos sentido para o texto,
precisamos testar hipteses, ou melhor, precisamos instaurar um jogo
entre os conhecimentos que j possuamos e os conhecimentos novos,
que vamos alinhando em conjunto.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
21
Da mesma forma, ao se dizer uma histria, estabelecida a ludi-
cidade que, apesar de promover a alegria e a diverso, envolve tam-
bm tenso. Essa tenso encontra-se tanto naquele que diz, que a todo
minuto precisa encontrar estratgias para envolver o pblico, quanto
naquele que escuta, que envolvido pelo mistrio da narrativa e pela
surpresa de seus episdios. Alm disso, ambos criam expectativas (de
emisso e de escuta). Esse, na verdade, o motivo pelo qual em de-
terminados casos uma criana solicita a repetio de uma histria
inmeras vezes. Ora, um jogo ldico foi promovido entre o ouvinte e
aquele que disse, e isto que a criana busca recomear.
2 FALANDO NISSO AS IMPLICAES DA ARTE DE CONTAR HISTRIAS:
UM OUTRO OLHAR PARA A CRIANA NA ESCOLA
A infncia um dos temas mais debatidos no mbito educacio-
nal, uma vez que, por meio desse conceito, outra concepo de criana
se estabeleceu em um cenrio de significativas evolues tecnolgicas.
Se antes a criana era tida como um adulto em miniatura, como um
indivduo que no tinha vontade prpria e tampouco merecia atendi-
mento a suas reais necessidades, agora a Sociologia da Infncia apre-
senta uma srie de questes pontuais sobre a temtica. A criana pas-
sa a ser vista como um indivduo carregado de significados, os quais
precisam ser percebidos nas diferentes relaes humanas que por ela
sero estabelecidas.
Tais relaes so fundamentadas dentro das distintas culturas
em que a criana interage: escolares, de infncia e familiares. Nesse
sentido, Barbosa (2007) apresenta a discrepncia existente entre es-
ses aspectos, visto que a criana convive com uma pluralidade de socia-
lizaes humanas e sua infncia constituda de experincias hetero-
gneas. Da a importncia de haver constante conversa entre essas
culturas. E a escola o local mais propcio para que isso ocorra. O edu-
cador, ento, precisa ter uma atitude receptiva para conseguir perce-
ber aquilo que os inmeros outros espaos sociais trazem para o
ambiente escolar.
Uma instituio de ensino que busque desenvolver certa sensibi-
lidade para perceber os mltiplos sentidos oriundos de uma sociedade
que apresenta diversidades (ou desigualdades) no poder, de forma
alguma, padronizar a aprendizagem. Isto porque sua meta ser explorar
a capacidade criadora de cada criana. O contraste entre as experincias
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
22
j vivenciadas e os novos conhecimentos apresentados no ambiente
formal, que a escola, possibilitar a solidificao de cada identidade.
Nesse cenrio, a contao de histrias um dos recursos que
possibilitam o dilogo entre os diferentes mundos em que a criana
interage, pois abarca e d suporte aos princpios geradores das cultu-
ras de infncia: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a rei-
terao (BARBOSA, 2007, p. 1.067). A seguir, abordamos esta questo.
3 A ESCOLHA, A APROPRIAO E, FINALMENTE, A CONTAO!
De acordo com Barbosa (2007), as boas histrias, ou melhor,
aquelas que so emancipatrias, levam em considerao o jogo (ludi-
cidade) aliando tenso, alegria e divertimento desenvolvem o ima-
ginrio (fantasia do real ou faz de conta) e estimulam tanto a interao
lingustica e o gosto pela leitura quanto o relacionamento entre os pa-
res (interao). E qual a criana que, participando desse jogo, no soli-
cita a repetio de uma histria inmeras vezes? Resulta da a prtica
da reiterao. Em sntese, h uma interligao entre os eixos que pro-
piciam o desenvolvimento sociocognitivo humano que, aos poucos,
vo introduzindo a criana no mundo da leitura e da literatura. Enfim,
em outras formas de cultura.
indispensvel ressaltar a grande responsabilidade dos adultos
ao assumirem a funo de contadores de histrias. Na obra Acordais,
Regina Machado (2004) apresenta os aspectos terico-poticos da ar-
te de contar histrias, tendo como objeto de anlise os contos de tra-
dio oral. Pela mescla entre a teoria e as prprias narrativas que ser-
vem de exemplificao, a autora enfoca fatores indispensveis a serem
pensados desde a escolha de uma histria at a prtica de cont-la.
Utilizando a metfora da floresta interior, Machado (2004)
destaca a capacidade de as narrativas desencadearem uma conversa
entre a histria e o leitor, a qual resulta em efeitos de sentido singula-
res, a partir das experincias de cada indivduo e das relaes ntimas,
repercutidas. Cada narrao capaz de organizar imagens internas
relacionadas a determinado momento da vida de cada um. Pode-se
avaliar essa reao desde o ponto de vista lingustico, levando em con-
siderao o conceito de conhecimento partilhado, que, de acordo com
Varela (2006), resume-se necessidade de existir certo grau de simi-
laridade entre o conhecimento de mundo do falante/escritor e de seu
ouvinte/leitor. S assim o texto poder fazer sentido. Em vista disso,
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
23
para fazer a escolha de uma histria a ser contada, deve-se considerar
o universo da criana e as suas possibilidades de aproximao e rela-
cionamento com o texto.
Por isso, o contador necessita, primeiramente, se apropriar da
histria a ser contada, dado que a experincia de escuta da criana (ou
do adulto) depender da maneira como ele encetar a relao entre as
partes da sequncia narrativa e as ligaes entre elas. Aos poucos, a
prpria prtica da contao vai permitir a formao de um conjunto
de relaes significativas, distinto de pessoa para pessoa, pois as ima-
gens acionadas por determinada histria s sero significativas quan-
do dialogarem com a histria pessoal de cada sujeito.
As variadas situaes humanas apresentadas nos contos tradicio-
nais, por exemplo, podem gerar efeitos de sentido em diferentes nveis
de apreenso: fazer pensar, querer descobrir, provocar o riso ou o sus-
to etc. Alm disso, cada contador tem em suas mos o poder de colocar
o seu eu no texto e dar efeitos particulares ao seu dizer. Para isso,
[] bom que quem esteja contando crie todo um clima de envol-
vimento, de encanto Que saiba dar as pausas, criar os intervalos,
respeitar o tempo para o imaginrio de cada criana construir o seu
cenrio, visualizar seus monstros, criar seus drages, adentrar pela
casa, vestir a princesa, pensar na cara do padre, sentir o galope do
cavalo, imaginar o tamanho do bandido e outras coisas mais
(ABRAMOVICH, 1995, p. 21)
Assim, o despertar do esprito crtico facilitado pelo confronto
entre a fantasia e o mundo atual. Dessa forma, a capacidade de pensar
sobre os valores que devemos exercitar na vida em sociedade pode ser
estimulada: a princesa agiu certo dizendo a verdade? O rei est sendo
justo com o povo? Da a capacidade de a histria educar, mesmo sem
ter o objetivo de faz-lo, constituindo-se, ainda, em uma experincia
singular para cada indivduo.
A pergunta a seguir resume tais argumentos e pode ser emitida
tanto pelo contador quanto pelo espectador: histria, o que voc tem
para mim e o que eu tenho para voc? (MACHADO, 2004, p. 54). Por
meio desse questionamento, so delimitados os contextos de significa-
es. O contador passa a conhecer toda a sequncia narrativa, esco-
lhendo estratgias para elaborao de um roteiro a partir das articula-
es com sua prpria experincia pessoal. Aos poucos, a histria vai se
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
24
colorindo, ganhando ritmo e pulsao. Mediante as infinitas melodias
(sonoridades) traduzidas pelo contador, o espectador ativa seu plano
significativo de ressonncias internas. Na verdade, como se a hist-
ria tivesse um corao, que bate num pulso, num compasso diferente a
cada momento (Ibidem, p. 55).
Na certa, a prtica de contar histrias envolve constante aprimo-
ramento, para o que se faz imprescindvel aliar recursos internos e
externos, tcnica, preparao (tanto para escolher a histria quanto
para cont-la), entre outros fatores. Mas, acima de tudo, requerida
intencionalidade: o que quero dizer com esta narrativa? por meio de
nossa inteno que conferimos ritmo histria. pelos sons e siln-
cios que entoamos, que fazemos os outros construrem imagens ex-
pressivas.
Alm disso, na hora de contar ou de ouvir uma histria, os en-
volvidos precisam brincar de imaginar. a flexibilidade imaginativa
que d vida narrativa e que faz com que penetremos no enredo. Isto
pode ser definido como a capacidade de se permitir enxergar de ou-
tras formas.
Diante disso, o ato de contar histrias ganha outra perspectiva.
Deixa de ser visto como mero passatempo e passa a se caracterizar
como incentivo imaginao, leitura, ampliao do repertrio cul-
tural e ao desenvolvimento da subjetividade. O simples contato com a
linguagem j nos induz a pensar que a palavra potica algo sempre
presente na vida humana. De acordo com nosso desenvolvimento, a
complexidade de tal contato aumenta e apresenta novas possibilida-
des para que possamos brincar com as palavras. Os bebs, por exem-
plo, so expostos, primeiramente, aos acalantos, aos brincos, ou seja, a
um fazer com palavras que encanta pelo som, pelo ritmo, pela brinca-
deira em si. Depois, quando a criana passa a ser vista como um ser
mais autnomo, principalmente durante sua fase inicial de escolariza-
o, comea a conhecer as parlendas, os trava-lnguas, as cantigas de
roda, enfim, os jogos lingusticos que promovem alegria, tenso e di-
vertimento (HUIZINGA, 1999). E, com certeza, as narrativas literrias
fazem parte desse leque de possibilidades.
Ao lermos ou ao escutarmos uma histria, dispomo-nos a inte-
ragir dialogicamente, pois no somos agentes passivos. Somos indiv-
duos pensantes e, por esse motivo, cada histria contm uma carga de
significantes e significados a ser intercambiada. Para que haja dilogo
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
25
entre aquele que ouve e aquele que conta, necessrio que exista con-
fiana entre ambos, abarcando estes trs importantes aspectos: a voz,
a presena e a imaginao (GIRARDELLO, 2007).
A emisso vocal apresenta inmeras possibilidades expressivas
e, no caso da contao de histrias, aproxima o contador do especta-
dor mediante uma interao ldica. A partir das possibilidades ofere-
cidas pelo autor, o contador pode ir agregando densidade e sentido
sua verso oral da histria. Para apropriar-se verdadeiramente da
narrativa, precisa deixar que sua viso de mundo conduza sua inten-
o e mobilizao para a histria, fazendo uso tanto da expresso cor-
poral quanto da vocalizao.
Juntamente com a voz, o contador deve se entregar ao jogo de-
mandado pela narrativa, o qual se inicia pela prpria atitude corporal
de quem conta e de quem escuta. Esse estar junto exige que a presen-
a de ambos esteja em consonncia, ou seja, que haja um clima har-
mnico. A criao imaginria ser o resultado da entrega narrativa.
E, ento, s esperar para que distintas imagens particulares e subje-
tivas surjam das surpresas trazidas pelo enredo.
4 CONTAO E COGNIO COMBINAM?
Sabemos que a arte de contar histrias exige, sobretudo, o en-
cantamento. Demanda pensar que palavras possuem vidas mltiplas e
que, por isso, apresentam cores, texturas, sabores, cheiros, tama-
nhos Enfim, podemos viajar pelo universo das palavras encantadas;
podemos brincar de ser! Essa magia, algumas vezes, acaba impondo
uma mscara ao ato to complexo que se instaura a partir da imerso
em um mundo imaginrio. Como se contar ou ouvir uma histria fosse
simplesmente brincar e nada mais. Ao contrrio, esta uma atividade
tensa e intensa, que, apesar do divertimento, demanda extrema serie-
dade. Jogar tenso, srio! E a contao jogo de palavras, entre-
cruzar narrativas, conhecer o outro, conhecer a si prprio. Assim,
chegamos ao destino final deste texto: mostrar que, quando contamos
uma histria ou quando a ouvimos, conhecemos. Ora, contao e cog-
nio combinam sim! Vejamos
De acordo com Van Dijk (2012), os textos so estruturas muito
incompletas, contendo inmeros implcitos, pois seus autores pressu-
pem de seus leitores grande conhecimento de mundo. Por seu turno,
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
26
os leitores constroem modelos mentais dos eventos sobre os quais
esto lendo e ativam partes relevantes do conhecimento de mundo,
conseguindo preencher o processo de compreenso com a informao
pressuposta no texto. Claro, nem sempre acontece isso e, nesses casos,
os leitores no chegam a entender o que leram. Porm, o encantamen-
to durante a contao de uma histria implica a compreenso do texto,
pois um estar junto que ocorre entre autor, contador e espectador.
Assim, instaurado o dilogo entre as narrativas que cada um carrega
consigo. E justamente esse entrecruzamento de vozes que possibilita
a compreenso e o consequente deslumbramento pelo enredo. Pode-
mos falar, tambm, que o dizer literrio, perpassa um processo de re-
contextualizao. A histria no deixa de ser a histria, mas recebe
outra roupagem na voz daquele que diz, da mesma forma que ser
reinterpretada por aquele que a recebe. Alm disso, uma
[...] pesquisa recente que usa tcnicas de neuroimagem para moni-
torar a atividade do crebro durante a compreenso da narrativa
mostra que h uma exploso de atividade cerebral quando novos
acontecimentos (ou novos modelos) esto sendo formados durante
a compreenso []. Embora no nos permita identificar o conte-
do cognitivo exato dessa atividade neural, essa tcnica parece con-
firmar que a compreenso da narrativa se baseia em algum tipo de
segmentao ou na construo de algum tipo de unidades (novas),
possivelmente do mesmo tipo que os acontecimentos. (DIJK, 2012,
p. 102)
Quando lemos e, principalmente, quando ouvimos uma histria
(a prtica da contao recebe uma carga expressiva muito grande),
acionamos memrias. Esse outro ponto que interliga encantamento
e cognio. Nossa Memria de Longo Prazo constantemente aciona-
da. Delong (2005) define Memria de Longo Prazo como o espao no
qual a informao mais permanente armazenada, ou seja, onde esto
arquivadas as nossas experincias pessoais e tambm os conhecimen-
tos convencionalizados a respeito do mundo, leituras e experincias
anteriores. Tal memria compreende a memria semntica e a epis-
dica. A primeira suporta, ainda de acordo com Delong (2005), as es-
truturas do conhecimento geral sobre o mundo e reflete padres ine-
rentes organizao do conhecimento, como, por exemplo, as estrutu-
ras de eventos e situaes comuns a grupos de indivduos. A segunda
contm informaes sobre vivncias pessoais, armazenando epis-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
27
dios, isto , eventos espao-temporalmente situados, portanto, apre-
sentando sensibilidade s variaes contextuais. Nessa perspectiva,
podemos dizer que a contao ou a leitura de uma histria so experi-
ncias que ativam e que, da mesma forma, agregam conhecimentos s
nossas memrias.
DellIsola (2001) salienta, tambm, o fato de que um texto sem-
pre deve ser considerado em seu estatuto de enunciao. Por no pos-
suir significado nico, no pode ser convertido em enunciado. Cada
leitor ou ouvinte carrega consigo uma bagagem de conhecimentos que
vai interagir com o texto em audio/leitura, no momento da recepo
do texto, pois
[...] o sentido no reside no texto, os conhecimentos individuais afe-
tam decisivamente a compreenso. O texto e o leitor so o ponto de
partida para a compreenso; esta s se d quando ambos entram
em contato. O texto torna-se unidade de sentido na interao com o
leitor. (DELLISOLA, 2001, p. 34)
O desejo de ler, o encantamento pelo mundo das palavras , co-
mo vimos, fruto da palavra literria em nossas vidas desde o nasci-
mento. Morais (1996) nos fala da importncia da oralidade como es-
tmulo leitura, argumentando que antes de comear a ler a criana
precisa saber o que leitura. A formulao desse conceito se inicia pe-
lo exemplo dos adultos, pois o primeiro contato que a criana possui
com o texto escrito se d pela contao de histrias:
A leitura em voz alta feita pelos pais cria na criana o desejo de ler
por si mesma, to irresistvel quanto o desejo de comear a andar
sozinha. A melhor demonstrao disso o fato de que, muitas ve-
zes, a criana para a qual se l noite, antes de dormir, pede para
ficar sozinha, s mais um pouquinho, com o livro entre os joelhos
abertos, olhando-o, refazendo o que o papai ou a mame acabam de
fazer, tentando encontrar o eco mgico das palavras lidas.
(MORAIS, 1996, p. 171)
Os pais possuem, na mesma medida que a escola, um papel im-
prescindvel na formao do futuro leitor. A oralidade cada vez mais
vem ganhando destaque como fonte de aproximao com o texto es-
crito. Sem dvida, a apresentao dessa forma de manifestao da ln-
gua realizada na voz daquele com quem a criana possui mais proxi-
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
28
midade s faz aumentar o desejo de ouvir, de ler e, gradativamente, a
necessidade de escrever. Na escola, a contao de histrias um ele-
mento indispensvel, j que suscita interaes e formas de partilha
intelectual entre colegas que a relao paicriana no pode fornecer.
Ela tem a grande vantagem democrtica de contribuir para no deixar
definitivamente a reboque as crianas cujos pais no leem para elas ou
simplesmente no lem (MORAIS, 1996, p. 172).
Morais (1996) assegura, ainda, que a audio da leitura exerce
trs funes: cognitiva, lingustica e afetiva. Como funo cognitiva, ela
ajuda a melhorar a organizao e o ato de reter informaes, bem co-
mo auxilia na elaborao de roteiros mentais. A criana capaz de fa-
zer associaes entre a experincia dos outros e a sua prpria. Como
funo lingustica, a leitura oral propicia que a criana estabelea rela-
es entre linguagem escrita e falada, a correspondncia letrasom, a
pontuao pelo vis da entonao , o aumento no repertrio de pa-
lavras, a realizao de parfrases, o desenvolvimento da estrutura de
frases e de textos, e a compreenso e utilizao de figuras de estilo. No
nvel afetivo, podemos destacar a importncia de a criana receber o
texto na voz daqueles em que mais confia e com quem mais se identi-
fica. A significao das histrias facilitada, assim como o gosto pelas
palavras. Os adultos precisam estar atentos ao desejo de reiterao, j
mencionado anteriormente, pois a repetio acaba por permitir cri-
ana conhecer a histria palavra por palavra, dando-lhe assim a opor-
tunidade de fixar melhor sua ateno sobre os aspectos formais do
texto e sobre as relaes entre os signos e a fala (MORAIS, 1996, p.
172).
importante atentarmos para o fato de que ao se contar uma
histria no se pretenda apenas almejar o avano cognitivo da criana.
A meta tambm deve ser o prazer tanto de quem escuta quanto de
quem l ou diz o texto. Ambos precisam estar envolvidos em um clima
harmonioso, em um clima de partilha de saberes.
A contao de histrias para as crianas exerce o papel, tambm,
de prepar-las para utilizar a lngua da escola, prtica que pode ser
realizada tanto por professores quanto pelos pais. Considerando-se os
inmeros contextos de interao das mltiplas infncias, atualmente,
sabemos que as variantes lingusticas so numerosas em uma sala de
aula. Cada criana apresentar a sua forma singular de expresso no
plano oral, de acordo com fatores como: nvel econmico, a regio em
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
29
que vive etc. No entanto, a escola, ainda que deva abolir o preconceito
lingustico, tem a obrigao de apresentar ao discente a norma
oral/escrita padro da lngua. Essa exigncia, principalmente na mo-
dalidade escrita da lngua, pode ser apresentada aos poucos criana.
No que tange contao de histrias, podemos dizer que um recurso
extremamente til, principalmente quando a contao realizada com
o suporte livro. Assim se dar o primeiro contato com o plano escrito e
com seu modo de estruturao textual.
O prazer de contar e o prazer de ler no devem ser esquecidos,
no ambiente escolar. preciso que se perceba que as histrias encan-
tam tanto crianas quanto adultos e que o ato de estar junto moti-
vador do querer saber. Por isso, a leitura no pode ser tida na escola
apenas como um processo de avaliao, mas como espao para a frui-
o, para a sensibilidade. A concepo de leitura que muitas escolas
ainda apresentam pode justificar o fato de que
[...] muitas crianas no gostam mais de ler depois dos nove ou dez
anos, porque ler no mais uma aventura no imaginrio mas so-
mente um meio de satisfazer s exigncias do sucesso. A leitura na
escola ou para a escola transforma-se rapidamente, quando se atin-
ge a idade de ser srio, numa leitura obrigatria, numa pura de-
monstrao de conhecimento, e os pais se tornam cmplices dessa
empresa excessivamente pragmtica. Ler, ao contrrio, nutrir-se,
respirar. tambm voar. Ensinar a leitura ao mesmo tempo for-
mar a criana para uma tcnica de voo, revelar-lhe esse prazer e
permitir-lhe que o mantenha. Se no gostassem de voar, os pssa-
ros deixariam cair suas asas e praticariam a corrida a p. Mas, nos
pssaros e nos homens, o prazer dos atos naturais est nos genes.
Em compensao, o prazer da leitura criao nossa. Esse prazer,
portanto, de nossa responsabilidade, tanto quanto a prpria leitu-
ra. (MORAIS, 1996, p. 293-294)
Esse prazer, conforme argumentamos neste texto, provoca co-
nhecimento. sempre bom aprender com aquilo que nos faz bem, que
nos fazer enxergar o mundo de outras perspectivas. importante a
existncia de um espao para reflexo sobre a nossa prpria condio
humana e a nossa relao com os numerosos outros que nos cercam. A
contao de histrias e o mundo literrio so a porta de entrada para
isso!
Daiane Lopes & Onici Claro Flres
30
5 QUE VONTADE DE OUVIR UMA HISTRIA
s vezes, temos um desejo imenso de voltar a ser criana, de
sentir a vida intensamente, de saborear cada instante. H momentos
em que, na vida assoberbada de adultos, no nos dispomos a enxergar
outras possibilidades, no nos permitimos o ato de sonhar acordados
(ou no temos tempo para isso). Esquecemos que nossa narrativa in-
terior necessita do encantamento para se manter em um processo de
reescrita constante. Assim se explica aquele desejo inexplicvel de ou-
vir uma histria e de, por alguns instantes, adentrar outro caminho,
outras veredas.
Este texto teve a inteno de apresentar algumas reflexes sobre
a importncia da contao de histrias como estmulo oralidade,
leitura e, consequentemente, escrita. Na verdade, a expresso oral
perpassa todas as formas de comunicao, ao propiciar o conhecimen-
to do ser humano. Quando dizemos algo, expressamos um pouco da-
quilo que somos; quando ouvimos, aprendemos a dar sentido narra-
tiva do outro. por isso que o ato de estar inserido no mundo com-
preende uma rede de ligaes intertextuais. A vida um dilogo entre
textos que se entrecruzam, ao promoverem a descoberta de conheci-
mentos, variveis de pessoa para pessoa.
Descobrimos, ento, que o ato de se encantar por meio da narra-
tiva propicia conhecimento. Quando nos maravilhamos com determi-
nado texto, somos convidados a jogar: com o outro, com o texto e com
nosso prprio ser. Uma rede de aprendizados passa a interferir nas
produes futuras nossos dizeres, nossas escritas e se inicia a
construo de outro indivduo. Cada experincia vivenciada agrega
sentidos e influencia ou modifica aquilo que pensamos. Assim, cada
texto lido, ouvido ou sentido nos transforma, ao mesmo tempo que
promove a percepo daquilo que j fomos e daquilo que estamos
sendo. Enquanto adultos e leitores experientes, podemos apreender
que o ato de ler, dizer ou ouvir uma histria desperta um jogo que
atrai e que nos convida a refletir sobre o dizer de outrem. A mescla
entre seriedade e divertimento educa para a vida. E isso faz toda a di-
ferena!
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
31
REFERNCIAS
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. 5. ed. So Paulo:
Scipione, 1995. (Srie Pensamentos e Ao no Magistrio)
BAJARD, Elie. Ler e Dizer: compreenso e interpretao do texto escrito. 3. ed.
So: Paulo: Cortez, 2001.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Culturas escolares, culturas de infncia e cul-
turas familiares: as socializaes e a escolarizao no entretecer destas culturas.
Educao e Sociedade, Campinas, n. 100 especial. v. 28, p. 1059-1083, out. 2007.
Disponvel em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 25 nov. 2011.
DELLISOLA, Regina Lcia Pret. Leitura: inferncias e contexto sociocultural.
Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001. (Srie Educador em Formao)
DELONG, Silvia Regina. As noes de frames e esquemas no processo de leitura
compreensiva em espanhol lngua estrangeira. 2005. 167 f. Dissertao (Curso de
Ps-Graduao em Estudos Lingsticos, rea de Concentrao: Aquisio de
Segunda Lngua) - Universidade Federal do Paran, Curitiba, 2005.
DIJK, Teun A. van. Contexto e cognio. In:______. Discurso e contexto: uma abor-
dagem sociocognitiva. Traduo de Rodolfo Ilari. So Paulo: Contexto, 2012.
GIRARDELLO, Gilka. Voz, presena e imaginao: a narrao de histrias e as cri-
anas pequenas. In: FRITZEN, Celdon; CABRAL, Gladir (Orgs.). Infncia: imagina-
o e educao em debate. 1. ed. Campinas: Papirus, 2007. p. 39-57. (Coleo
gere)
HUIZINGA, Johan. Natureza e significado do jogo como fenmeno cultural.
In:______. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 4. ed. So Paulo: Pers-
pectivas, 1999.
MACHADO, Regina. Acordais: fundamentos terico-poticos da arte de contar
histrias. So Paulo: DCL, 2004.
MAGALHES, Ligia Cademartori. Jogo e Iniciao Literria. In: ZILBERMAN,
Regina; MAGALHES, Lgia Cadermatori. Literatura Infantil: autoritarismo e eman-
cipao. So Paulo: tica, 1982.
MORAIS, Jos. A arte de ler. Traduo de lvaro Lorencini. So Paulo: UNESP,
1996.
VARELA, Irin Christine Marie de Vasconcelos. Ativao do conhecimento prvio
como elemento facilitador da compreenso de textos orais em lngua estrangeira.
2006. 102 f. Dissertao (Curso de Mestrado Acadmico em Lingustica Aplicada
do Centro de Humanidades) - Universidade Estadual do Cear, Fortaleza, 2006.
A EMERGNCIA DA ESPECIALIZAO CEREBRAL
PARA LEITURA DE PALAVRAS
Ivanete Mileski
1
Lucilene Bender de Sousa
2
1 INTRODUO
A cincia da leitura ainda jovem, no entanto, o estudo dos pro-
cessos cerebrais que ocorrem durante a leitura tem evoludo muito a
partir do surgimento das neurocincias. Se, antes, estudar a cognio
da leitura era quase um exerccio imaginativo, hoje temos recursos
tecnolgicos como fMRI e ERP para auxiliar na desafiadora tarefa de
entender o que acontece no crebro enquanto lemos. Ao contrrio do
que muitos possam pensar, no estamos falando de uma cincia ina-
cessvel ou inaplicvel. As poucas dcadas de estudo j trazem resul-
tados capazes de auxiliar na educao, indicando caminhos para um
ensino da leitura menos instintivo e mais efetivo.
Neste artigo, inicialmente, mencionamos o que importantes pes-
quisas revelaram sobre a rea da forma visual da palavra, suas carac-
tersticas e seu papel exclusivo na leitura. Em seguida, descrevemos
estudos de uma equipe de pesquisadores cujo interesse foi investigar:
quando emerge a especializao da regio occpito-temporal esquerda
para a leitura; como ocorre o desenvolvimento dessa especializao
em crianas, adolescentes e adultos saudveis e dislxicos; e em que
condies emerge essa especializao. Por fim, discutiremos as impli-
caes pedaggicas dos resultados desses estudos.
1
Doutoranda pelo Programa de Ps-Graduao em Letras da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul (rea de concentrao: Lingustica). Bolsista CNPq.
E-mail: ivanetemileski@gmail.com.
2
Doutoranda pelo Programa de Ps-Graduao em Letras da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul (rea de concentrao: Lingustica) com bolsa CAPES.
E-mail: lenebender@yahoo.com.br.
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
34
2 REA DA FORMA VISUAL DA PALAVRA
Dehaene (2012) apresenta evidncias sobre a existncia de uma
rea no crebro especfica para o reconhecimento das letras: a regio
occpito-temporal esquerda. A existncia dessa rea foi constatada a
partir de um caso clnico no ano de 1887: um paciente do neurologista
Joseph-Jules Djerine percebeu que, embora fosse capaz de ver e falar
normalmente, assim como escrever, desde que no fosse interrompido,
no conseguia mais ler. O paciente reconhecia normalmente o que lhe
era mostrado e era capaz de nomear figuras e objetos, mas no conse-
guia reconhecer as letras. Djerine denominou tal fenmeno cegueira
verbal pura e postulou a existncia de um centro visual das letras, uma
vez que apenas o reconhecimento da palavra escrita estava impossibili-
tado, sem que houvesse qualquer alterao na viso do paciente.
A denominao cegueira verbal pura deu lugar ao termo alexia
pura, ou alexia sem agrafia (comprometimento da leitura sem com-
prometimento da escrita); a alexia pode acometer pacientes de aci-
dente vascular cerebral, como o caso do paciente de Djerine. Hoje
possvel examinar a estrutura dessa regio e seu funcionamento du-
rante a leitura por meio de ressonncia magntica. Wilson e colegas
(2013) pesquisaram dois pacientes com alexia progressiva e constata-
ram a existncia de diferentes nveis de atrofia na regio occpito-
temporal esquerda. O paciente com atrofia leve mostrou ativao da
regio tanto para letras quanto para fontes falsas, demonstrando, as-
sim, perda da especialidade. J no paciente com atrofia moderada a
severa, a ativao dessa regio foi muito reduzida para ambos os es-
tmulos, comprovando a atrofia. Concluram, assim, que na alexia ad-
quirida ocorre perda gradual da especializao da regio occpito-
temporal esquerda para a leitura de palavras devido a problemas fun-
cionais dessa regio.
Em leitores proficientes, diferentes estudos de neuroimagem
(DEHAENE, 2012) comprovaram que a regio occpito-temporal es-
querda especfica para o reconhecimento das letras, independente-
mente da lngua que lemos, de sua lateralidade se escrita da direita
para a esquerda, como o hebraico, ou da esquerda para a direita, como
o portugus , ou do sistema de grafia, se alfabtico ou no.
Mostramos a seguir, na Figura 1, uma imagem da localizao da
regio occpito-temporal esquerda.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
35
Figura 1: Localizao da regio occpito-temporal esquerda.
Fonte: Dehaene (2012, p. 106)
Dehaene (2012) menciona um estudo que conduziu juntamente
com sua equipe em 2002, em que verificaram a ativao da regio oc-
cpito-temporal esquerda em sete pessoas quando expostas a estmu-
los escritos. Conforme o autor, a posio da ativao espantosamen-
te reproduzvel a despeito da variabilidade dos sulcos do crtex
(DEHAENE, 2012, p. 87), o que indica a possibilidade de a especializa-
o dessa rea ser universal. Alm disso, leitores de sistemas de escri-
ta no alfabticos, como o chins, apresentam especializao da mes-
ma rea cerebral para a leitura.
Sabe-se tambm que essa rea no a mesma utilizada no reco-
nhecimento de rostos ou objetos (PUCE et al., 1996). Ocorre algo se-
melhante a uma diviso de tarefas no crebro: quando lemos, ativa-
da rapidamente a rea cerebral de reconhecimento visual, lobo occipi-
tal em ambos os hemisfrios; logo em seguida, o input direcionado
para a rea especfica de tratamento de letras, no hemisfrio esquerdo
(os rostos so processados no hemisfrio direito). Segundo Dehaene
(2012, p. 91), a lateralidade rpida em direo ao hemisfrio esquer-
do faz parte das propriedades essenciais da leitura.
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
36
Diversos pesquisadores tm se dedicado a entender como emer-
ge a especializao dessa rea, em quais condies, bem como seu de-
senvolvimento. Nas prximas sees sero apresentados resultados
de estudos cujo interesse foi investigar a emergncia e o desenvolvi-
mento dessa especializao cerebral.
3 QUANDO EMERGE
A leitura no uma habilidade inata, no nascemos lendo e no
desenvolvemos essa habilidade sem instruo explcita. A escrita foi
um cdigo criado pelo homem para registrar o conhecimento produ-
zido ao longo da histria. A leitura uma decorrncia dessa inveno
cultural, sendo basicamente a atividade de desvendar esse cdigo, de
decodificar. Considerando a recenticidade da escrita e da leitura,
Dehaene (2012) conclui que nosso crebro no est pronto para ler.
Para isto, preciso haver uma tarefa de reciclagem neuronal, em que
neurnios at ento responsveis pelo reconhecimento de faces so
recrutados para o reconhecimento de smbolos especiais, as letras.
Existem diversas tecnologias de neuroimagem utilizadas para a
investigao das bases cerebrais da leitura. Neste artigo, as pesquisas
citadas utilizaram ERP (Event Related Potentials potencial relacionado
a eventos), e fMRI (Functional magnetic resonance imagin imagea-
mento funcional por ressonncia magntica). A primeira permite veri-
ficar a atividade eltrica dos neurnios durante uma determinada ta-
refa. Quando apresentado ao leitor um estmulo visual, como uma pa-
lavra, observa-se uma resposta rpida do crebro, 100 milissegundos,
que demonstrada em uma onda negativa denominada N1 (ver Figura
3, seo 5). interessante notar que, quando o estmulo uma se-
quncia de smbolos, e no de letras, no ocorre a mesma resposta
(BENTIN et al., 1999); o que caracteriza N1 como resposta rpida, au-
tomtica e especfica para o reconhecimento de palavras ou pseudopa-
lavras, realizando, assim, um processo pr-lexical que ocorre antes
mesmo da recuperao da informao semntica. J a segunda tecnolo-
gia, fMRI, verifica a atividade metablica do crebro e permite localizar
mais precisamente onde ocorrem as ativaes. Por meio dela, possvel
encontrar o lugar ativado em N1, a regio occpito-temporal esquerda,
conforme vimos anteriormente na Figura 1. Esses so, portanto, dois
indicadores utilizados pelos estudos citados para investigar a especia-
lizao cerebral para a leitura de palavras.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
37
Maurer, Brem e colaboradores (2005) se interessaram por pes-
quisar quando a regio occpito-temporal esquerda comea a respon-
der pela leitura de letras e palavras. No estudo, eles pesquisaram a
emergncia da especializao cerebral no reconhecimento visual de
palavras por meio de ERP. Compararam crianas de 6 anos, que ainda
no sabiam ler, com adultos leitores em atividade na qual deviam
identificar a repetio de diferentes estmulos (palavra, pseudopala-
vra, combinao de smbolos e figuras). Os adultos tiveram melhor
desempenho ao detectar as repeties e mostraram rpida ativao de
N1 para a sequncia de letras. As crianas, em geral, tiveram tempo de
resposta maior e apresentaram ativao semelhante para palavras e
smbolos, o que mostra que ainda no conseguiam reconhecer as le-
tras. No entanto, algumas crianas com maior conhecimento de letras
mostraram incio de especializao, embora ainda imaturo. O estudo
a primeira evidncia de que o processamento rpido e especializado
de letras no emerge antes do aprendizado da leitura. A equipe inter-
pretou esse resultado como indcio de que seu precursor o conheci-
mento de letras.
Em outro estudo, Maurer e sua equipe (2006) investigaram com
ERP 20 crianas antes e depois de iniciarem o aprendizado da leitura
na escola: no final da pr-escola e no segundo ano. A atividade realiza-
da pelas crianas foi, como no estudo de 2005, identificar a repetio
imediata de palavras, pseudopalavras e sequncias de smbolos.
Quando na pr-escola, as crianas no apresentaram ativao signifi-
cativa de N1, no entanto, depois de 18 meses de treinamento em leitu-
ra, houve ativao de N1 em todos os indivduos durante a tarefa, com
ativao maior para palavras do que para sequncias de smbolos,
confirmando o resultado do estudo anterior de que a especializao
cerebral emerge com o aprendizado da leitura.
Outro resultado notvel nesta pesquisa foi a ausncia de dife-
rena na ativao de N1 entre palavras e sequncias de smbolos ape-
nas em uma das crianas, que apresentava baixo escore de leitura. Es-
se dado registra a relao entre fluncia em leitura e especializao
cerebral, tendo em vista que o estudo mostrou tambm que as crian-
as com maior diferena de ativao de N1 entre palavras e smbolos
so leitores mais fluentes. A partir desse resultado, os autores pro-
pem o uso da mesma tarefa para a investigao da emergncia de
dficits de processamento visual das palavras em crianas com dislexia.
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
38
Alm da anlise da ativao de N1 nas crianas antes e depois do
aprendizado da leitura, o estudo comparou os resultados das crianas
alfabetizadas com os dos adultos do estudo anterior (MAURER et al.,
2005), e verificou que os adultos apresentaram ativao de N1 menor
do que as crianas recm-alfabetizadas. Esse resultado sugere que o
desenvolvimento da especializao de N1 no linear e a diminuio
da ativao est associada prtica da leitura ao longo dos anos.
Com esses dois estudos, o grupo verificou que a especializao
da regio occpito-temporal esquerda emerge com o aprendizado da
leitura. Na prxima seo sero apresentados resultados de um estu-
do que comparou a especializao cerebral em dislxicos e em crian-
as sem dificuldades de leitura, bem como de um trabalho que investi-
gou o desenvolvimento da especializao em diferentes faixas etrias.
4 COMO OCORRE O DESENVOLVIMENTO
Os estudos mencionados na seo anterior apontam para uma
estreita relao entre a emergncia da especializao da regio occpi-
to-temporal esquerda e o aprendizado da leitura. As pesquisas seguin-
tes buscaram responder como ocorre o desenvolvimento dessa espe-
cializao ao longo da idade e da experincia escolar, comparando,
assim, diferentes graus de proficincia em leitura, bem como o desen-
volvimento em crianas dislxicas e em crianas sem dificuldade na
aprendizagem da leitura.
No estudo de 2007, o mesmo grupo (MAURER et al., 2007) in-
vestigou, com ERP, a ativao da regio occpito-temporal esquerda
em 15 crianas dislxicas e em um grupo controle composto por 22
crianas, antes e depois do aprendizado da leitura. A tarefa realizada
pelas crianas novamente foi identificar a repetio de palavras, pseu-
dopalavras, sequncias de smbolos e figuras. A hiptese era de que
nas crianas com dislexia a especializao da regio occpito-temporal
esquerda seria mais demorada, havendo menor aumento da ativao
de N1 (de antes do aprendizado da leitura para depois do aprendiza-
do), se comparadas s crianas do grupo controle.
Os pesquisadores constataram que houve aumento de ativao
de N1 depois do aprendizado da leitura, no entanto, o aumento foi
maior para o grupo controle do que para os dislxicos, confirmando-se
a hiptese inicial. Como em estudos anteriores da mesma equipe, a
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
39
ativao de N1 foi maior para palavras do que para smbolos depois
do aprendizado da leitura, todavia, o grupo com dislexia apresentou
menor diferena de ativao entre um estmulo e outro se comparado
ao grupo controle. A anlise dos grupos separadamente, antes e de-
pois do aprendizado da leitura, constatou que o aumento de ativao
de N1 com palavras foi significativo somente para o grupo controle. A
partir desse resultado, os autores sugerem que o sucesso ou o fracasso
no aprendizado da leitura pode estar relacionado ao grau de plastici-
dade cerebral durante a fase inicial de aquisio da leitura. O estudo
mostra que, mesmo depois do processo de alfabetizao, a reao ce-
rebral ao estmulo de palavras se diferencia de crianas com diagns-
tico de dislexia para crianas sem esse diagnstico. Assim, o desenvol-
vimento da especializao da regio occpito-temporal esquerda para
a leitura parece interferir nas primeiras habilidades de decodificao,
dificultadas em dislxicos. Salmelin et al. (1996), bem como Shaywitz
(2006), em anlise comparativa entre dislxicos e um grupo controle,
j haviam apresentado resultados similares aos deste estudo no que se
refere ativao mais fraca da regio occpito-temporal esquerda em
dislxicos.
Em 2009, Brem e sua equipe testaram, com fMRI e ERP, 19 cri-
anas alfabetizadas (~10,3 anos), 13 adolescentes (~16,2 anos) e 18
adultos (~2,5 anos) em tarefa de identificao de repetio envolven-
do palavras e cadeias de smbolos. Todos os grupos responderam mais
rapidamente para o estmulo de palavras do que para os smbolos. No
entanto, as crianas levaram mais tempo e tiveram mais erros quando
comparadas com o desempenho dos adolescentes e adultos. A rpida
ativao de N1 foi mais proeminente em crianas e decaiu com a ida-
de, conforme j havia sido observado em Maurer et al. (2006). Isso in-
dica maior relevncia de N1 nos primeiros anos de aprendizado da
leitura e uma provvel relao com o processo de decodificao. A re-
duo de ativao de N1 com a idade pode estar relacionada ao au-
mento da eficincia e automatizao do processo da leitura.
Ao contrrio de N1, a ativao da regio occpito-temporal ven-
tral esquerda mostrou-se constante durante a visualizao de palavras
pelos trs grupos, sendo mais pronunciada, especialmente no grupo
das crianas, para palavras do que para smbolos que tambm ativa-
ram partes mais posteriores dessa regio. Observou-se gradual movi-
mento de ativao posterior-anterior durante o reconhecimento de
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
40
palavras. No incio do processo de aprendizado da leitura, regies vi-
suais mais posteriores so ativadas, o crebro parece tratar as letras
de forma semelhante aos smbolos, a reciclagem neuronal ainda est
acontecendo, ou seja, o crebro ainda est tentando se adaptar nova
necessidade cognitiva. Porm, medida que avana o desenvolvimen-
to da leitura, as ativaes se deslocam para regies visuais mais ante-
riores, que se aproximam da regio temporal onde processamos a in-
formao fonolgica e semntica. Isto pode ser decorrncia da auto-
matizao da leitura, pois, passada a fase de decodificao, preciso
integrar a forma ao significado. A plasticidade neuronal permite que o
crebro v se ajustando para atender s novas exigncias da leitura
que demanda um processo cada vez mais rpido e integrado.
5 EM QUE CONDIES EMERGE
Os estudos anteriormente citados apontaram insistentemente
para uma relao entre a emergncia da especializao cerebral para a
leitura de palavras e o aprendizado da leitura. Isto fez com que os
pesquisadores buscassem entender melhor a natureza dessa relao.
Afinal, o que necessrio para que a regio occpito-temporal esquer-
da se especialize na leitura de palavras? O conhecimento de letras? O
aprendizado da correspondncia grafema-fonema? A automatizao
da decodificao? Enfim, em que condies emerge essa especializao?
Brem e colegas (2010) investigaram quando emerge a sensibili-
dade para o estmulo impresso ao longo do aprendizado da leitura e
qual o seu gatilho: a) aprendizado inicial da correspondncia le-
tra/som; b) aprendizado profundo do conhecimento ortogrfico e re-
conhecimento de letras. Eles observaram, por meio de fMRI e ERP, a
ativao da rea occpito-temporal esquerda, antes e aps o treina-
mento de crianas em um jogo de computador envolvendo a corres-
pondncia de letras e sons (Graphogame) e um jogo controle seme-
lhante envolvendo a correspondncia de nmeros e suas quantidades
(jogo de nmeros). Os participantes foram 32 alunos saudveis da
pr-escola, entre 5,7 e 7,1 anos de idade, ainda no alfabetizados. Ini-
cialmente (T1), todos os participantes passaram por uma seo de
imageamento e uma bateria de testes comportamentais que verificou
o conhecimento de letras, a conscincia fonolgica, a leitura de pala-
vras, o vocabulrio e o Q.I.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
41
O treinamento foi realizado pelas crianas em casa, quando no
estavam muito cansadas e queriam jogar. Elas praticaram o Grapho-
game e o jogo de nmeros por um perodo de oito semanas, sendo os
pais os responsveis por regular o tempo de jogo: 10 minutos por dia,
tendo o alvo de 45 minutos por semana. Ao final, houve variao no
nmero de minutos jogados por dia e por semana, no entanto, essa
diferena no foi significativa. As crianas foram separadas em dois
grupos cuja ordem de treinamento foi diferente, conforme ilustramos
na Figura 2.
Figura 2: Grupos e treinamentos recebidos.
O objetivo do treinamento foi proporcionar o aprendizado da
correspondncia grafema/fonema, nmero/quantidade antes que as
crianas recebessem essa instruo na escola. Dessa forma, foi poss-
vel controlar tanto o nmero de horas quanto o mtodo de aprendiza-
do, proporcionando as mesmas condies para ambos os grupos. A
nica diferena, como se pode verificar na Figura 2, foi o momento em
que cada grupo fez os treinamentos. A inverso de ordem entre o jogo
de letras e o de nmeros possibilitou avaliar exatamente em que mo-
mento a emergncia da especializao surge, bem como determinar se
influenciada pelo aprendizado de outros smbolos semelhantes s le-
tras, como os nmeros.
As crianas foram acompanhadas antes do treinamento (T1),
aps o primeiro jogo (T2) e aps o segundo jogo (T3) por meio de se-
es de ERP (n = 32) e fMRI (n = 16), nas quais realizaram tarefa de
leitura implcita. Nessa tarefa, eram apresentados estmulos: visuais,
palavras e sequncia de fontes falsas; auditivos, palavras e fala ao con-
trrio; e audiovisuais, congruentes e incongruentes. As crianas deve-
riam apenas decidir a modalidade do estmulo apertando o boto cor-
respondente.
Os resultados mostraram que o conhecimento de letras foi maior
em associao prtica do Graphogame do que do jogo de nmeros,
GRUPO GG
T1 Testes antes do treinamento
T2 Graphogame
T3 Jogo de nmeros
GRUPO NC (controle)
T1 Testes antes do treinamento
T2 Jogo de nmeros
T3 Graphogame
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
42
embora ambos os grupos permanecessem com a habilidade de leitura
ainda incipiente. Antes do treinamento, apesar de j terem alguma fa-
miliaridade com as letras, as crianas dos dois grupos no mostraram
ativao significativa da regio da forma visual da palavra ou de N1,
como mostra a Figura 3, parte B (T1).
Figura 3: Resultados de ERP para ambos os grupos.
Fonte: Brem et al. (2010, p. 7.942)
Brem e colaboradores (2010) observaram que, aps o treina-
mento com Graphogame (GG-first), comparado ao treinamento com
nmeros (NC-first), houve maior ativao na regio occpito-temporal,
esquerda e direita, e cneus, alm de uma resposta crescente ao est-
mulo de palavras. J o treinamento com o jogo de nmeros levou a um
declnio na resposta de N1 para palavras (continuou havendo ativa-
o, mas no foi significativa, como mostra o asterisco entre parnte-
ses no GG-first em T3), o que sinaliza para a importncia da continui-
dade do ensino da correspondncia entre grafema e fonema.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
43
Esse resultado indica que o treinamento explcito da correspon-
dncia grafema-fonema faz com que a regio occpito-temporal es-
querda comece rapidamente a se especializar no reconhecimento de
letras e palavras, sendo, portanto, o gatilho para a especializao.
Alm disso, a familiaridade com as letras no suficiente para a espe-
cializao dessa rea, uma vez que nenhum dos grupos mostrou ativa-
o significativa em T1. A diminuio de ativao depois do treina-
mento com o jogo de nmeros no grupo que recebeu primeiro o treino
com o Graphogame indica que, para consolidar a sensibilizao, pre-
ciso a prtica contnua da correspondncia grafema-fonema.
6 IMPLICAES PEDAGGICAS
Considerando o resultado do estudo mais recente do grupo
(BREM et al., 2010) e o debate acerca dos mtodos de alfabetizao,
dedicamos esta seo discusso da relao entre esses dois tpicos:
a) a verificao de que a especializao cerebral para a leitura de le-
tras/palavras emerge com o aprendizado da correspondncia grafe-
ma-fonema; b) mtodos fnicos de alfabetizao.
Conforme Oliveira e Silva (2011, p. 81), para aprender a operar
com uma escrita baseada em alfabeto, o aluno precisa tornar-se consci-
ente de um princpio que a rege: as letras representam os sons da fa-
la. Alm disso, segundo os autores, o aluno precisa aprender as cor-
respondncias entre grafemas e fonemas, uma vez que um mesmo
som pode ser representado por mais de uma letra (como mostram os
exemplos de grafia de /s/ em seco, ma, explodir, nascer), e
uma letra pode representar mais de um som (como mostra o uso da
letra x no portugus: exame (/z/), txi (/ks/), exterminar (/s/), en-
xugar (//)).
Tendo em vista esse fato, os autores argumentam em favor de
mtodos fnicos de alfabetizao, que so os que ensinam de maneira
explcita as relaes entre fonemas e grafemas. Os mtodos fnicos se
opem aos mtodos que no abordam explicitamente o fonema, ou
seja, que ensinam a leitura a partir de textos, frases, palavras ou letras,
sem focar a correspondncia grafema-fonema (OLIVEIRA; SILVA,
2011, p. 82). Nos mtodos no fnicos (mtodo global, silbico, alfab-
tico), o aluno deduz a correspondncia grafema-fonema a partir da
experincia que vai adquirindo com a leitura.
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
44
A superioridade da eficcia dos mtodos fnicos de alfabetizao
sobre os demais foi mostrada no National Reading Panel Report (NRP
2000), um relatrio que revisou diferentes estudos realizados nos
Estados Unidos para fazer um balano de evidncias cientficas a res-
peito de alfabetizao e leitura que pudessem ser aplicadas ao ensino
(OLIVEIRA; SILVA, 2011, p. 100). Para isso, foram comparados os re-
sultados de 66 estudos realizados aps 1970 que abordaram mtodos
fnicos x mtodos no fnicos de alfabetizao. Entre as evidncias do
NRP esto as seguintes: alunos ensinados com mtodo fnico supera-
ram o desempenho de alunos ensinados com outros mtodos em que-
sitos como conscincia fonmica, vocabulrio, fluncia e compreen-
so; mtodos fnicos tm mais eficcia em crianas mais novas e so
mais adequados para crianas com dificuldades de aprender a ler; e
mtodos fnicos ajudam a desenvolver competncias de compreen-
so. Os resultados do NRP impulsionaram mudanas na legislao
americana, a fim de garantir que o conhecimento cientfico pudesse
ser aplicado ao ensino da leitura.
A partir de tais constataes do NRP, entende-se que, uma vez
que o mtodo fnico suscita a habilidade essencial do aluno aprendiz
de leitura compreender o princpio alfabtico da correspondncia
grafema-fonema , o aluno torna-se apto a adquirir com mais inde-
pendncia vocabulrio, fluncia e compreenso, tendo em vista que
domina a tarefa mais elementar, a decodificao. Morais (1996) argu-
menta, nesse sentido, que o domnio do princpio alfabtico indis-
pensvel, pois permite no s a identificao de palavras j conheci-
das, mas confere maior autonomia ao leitor aprendiz, capacitando-o a
identificar palavras nunca vistas antes.
Alm das evidncias provenientes de testes comportamentais,
como as do NRP, baseadas em estudos que compararam o desempe-
nho de estudantes ensinados com mtodos fnicos e mtodos no f-
nicos, hoje temos evidncias de estudos com neuroimagem. O estudo
de Brem e seu grupo (2010) corrobora com a constatao da eficincia
dos mtodos fnicos, revelando o efeito que esse mtodo tem sobre o
desenvolvimento neural das regies responsveis pela leitura. Embo-
ra as crianas que participaram do estudo no tenham aprendido a ler,
pois estavam apenas iniciando esse processo, apresentaram rpida
especializao cerebral aps o treino com o Graphogame, o que leva a
inferir que a aprendizagem da leitura mediante a explicitao da cor-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
45
respondncia letra-som tem maior papel na especializao cerebral
para a leitura do que a simples instruo para o reconhecimento de
letras ou reconhecimento global de palavras.
7 CONSIDERAES FINAIS
Neste estudo, discutimos a especializao da regio occpito-
-temporal esquerda para a leitura de palavras, cujo papel foi diagnos-
ticado ainda no sculo XIX, a partir de um caso clnico de alexia prove-
niente de um acidente vascular cerebral. A emergncia da especializa-
o cerebral para a leitura de palavras tem merecido a ateno de um
grupo de pesquisadores que buscou verificar quando emerge a espe-
cializao da regio occpito-temporal esquerda, como se desenvolve e
em que condies. Os primeiros estudos do grupo (MAURER et. al.
2005; 2006) mostraram que a especializao est relacionada ao
aprendizado da leitura, uma vez que crianas ainda no alfabetizadas
no exibem ativao da regio quando expostas ao estmulo de letras
e palavras, diferentemente de crianas alfabetizadas, adolescentes e
adultos, que mostraram ativao.
Os resultados do estudo mais recente (BREM et al., 2010) com-
provam, no entanto, a importncia do ensino explcito da correspon-
dncia entre letras e sons para que ocorra o ajuste e a especializao
das regies cerebrais responsveis pela leitura, uma vez que, embora
as crianas que participaram do estudo ainda no fossem alfabetizadas,
o treino da correspondncia grafema-fonema fez com que rapidamente
exibissem ativao da regio occpito-temporal esquerda. Esse resul-
tado tem relevantes implicaes pedaggicas, especialmente no que se
refere a mtodos de alfabetizao, uma vez que aponta para a impor-
tncia do ensino explcito da correspondncia grafema-fonema.
Como apontamos no incio deste trabalho, recursos tecnolgicos
como fMRI e ERP atualmente auxiliam no entendimento do que acon-
tece no crebro quando lemos e, a partir disso, o ensino de leitura po-
de tornar-se mais efetivo. Dessa forma, conclumos este trabalho res-
saltando a importncia de estudos como os de Brem e sua equipe para
compreender os processos neurais envolvidos na leitura, bem como as
implicaes pedaggicas que seus resultados apresentam.
Ivanete Mileski & Lucilene Bender de Sousa
46
REFERNCIAS
BENTIN, S.; MOUCHETANT-ROSTAING, Y.; GIARD, M. H.; ECHALLIER, J. F.;
PERNIER, J. ERP manifestations of processing printed words at different psycho-
linguistic levels: time course and scalp distribution. Journal of Cognitive Neuro-
science, v. 11, p. 235260, 1999.
BREM, S. et al. Tuning of the visual word processing system: distinct develop-
mental ERP and fMRI effects. Human Brain Mapping, n. 30, 2009. Disponvel em:
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.20751/full>. Acesso em: 15
maio 2013.
BREM, S. et al. Brain sensitivity to print emerges when children learn letter-
speech sound correspondences. PNAS, v. 107, n. 17, abr. 2010. Disponvel em:
<http://www. pnas.org/content/107/17/7939>. Acesso em: 15 maio 2013.
DEHAENE, S. Os nernios da leitura: como a cincia explica nossa capacidade de
ler. Trad. Leonor Scliar-Cabral. Porto Alegre: Penso, 2012.
MAURER, U. et al. Emerging Neurophysiological Specialization for Letter Strings.
Journal of Cognitive Neuroscience, v. 17, n. 10, 2005. Disponvel em: <http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16269095>. Acesso em: 15 maio 2013.
MAURER, U. et al. Impaired tuning of a fast occipito-temporal response for print
in dyslexic children learning to read. Brain, n. 130, 2007. Disponvel em:
<http://brain.oxfordjournals.org/content/130/12/3200>. Acesso em: 15 maio
2013.
MAURER, U. et al. Coarse neural tuning for print peaks when children learn to
read. NeuroImage, n. 33. 2006. Disponvel em: <http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1053811906007051>. Acesso em: 15 maio 2013.
MORAIS, J. A arte de ler. So Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista,
1996.
OLIVEIRA, J. B. A.; SILVA, L. C. F. Mtodos de alfabetizao. In: ARAJO, A. Apren-
dizagem Infantil: uma abordagem da neurocincia, economia e psicologia cogni-
tiva. Academia Brasileira de Cincias, 2011. p. 81-126.
PUCE A002E et al. Differential sensitivity of human visual cortex to faces, letter-
strings, and textures: a functional magnetic resonance imaging study. Journal of
Neuroscience, n. 16, p. 5.205-5.215, Aug. 1996.
SALMELIN, R. et al. Impaired Visual Word Processing in Dyslexia Revealed with
Magnetoencephalography. Anals of Neurology, v. 40, n. 2, p. 157-162, Aug. 1996.
SHAYWITZ, S. Entendendo a dislexia: um novo e completo programa para todos
os nveis de problemas de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2006.
WILSON, S. M. et al. Dysfunctional visual word form processing in progressive
alexia. Brain, n. 136, p. 1.260-1.273, 2013.
IMPLICAES LINGUSTICO-COGNITIVAS E
CONCEPTUAIS DA MULTIMODALIDADE
TECNOCOMUNICACIONAL
Aline Aver Vanin
1
Camila Xavier Nunes
2
1 INTRODUO
O desenvolvimento da tcnica e a produo de sentido possibili-
taram a emergncia da cultura que foi se tornando cada vez mais es-
pecfica e situada, ao ponto de construir outras novas culturas e sis-
temas tcnicos. O rpido desenvolvimento das tecnologias relaciona-
das comunicao est diretamente envolvido com o fluxo contnuo
de informao. possvel perceber significativas mudanas de para-
digmas conceptuais refletidas nos modos de dizer da vida cotidiana.
Contedos textuais e perceptuais (visuais e sonoros, por exemplo) se
organizam em um continuum, no qual eles se combinam em mensa-
gens multimodais que influenciam e so moldadas no comportamento
verbal dos sujeitos em suas formas de expressar o mundo. As relaes
humanas, refletidas na linguagem, intensificam-se e so reorganizadas
no desenrolar das experincias de interao com a mquina como ob-
jeto de socializao. O sentido de estar em contato toma outros con-
tornos e assumem-se novas perspectivas: a percepo, dessa forma, se
virtualiza.
Devido aos mltiplos estmulos digitais e virtuais que se ajustam
vida cotidiana, o conceito de realidade apropria-se de novos signifi-
1
Doutora em Lingustica. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Processamento da
Linguagem Natural no Programa de Ps-Graduao em Cincia da Computao/Ponti-
fcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
E-mail: aline.vanin@ymail.com.
2
Doutoranda em Geografia. Programa de Ps-Graduao em Geografia pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: camilagauche@gmail.com.
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
48
cados. Tal como preconizado por M. McLuhan, as tecnologias moder-
nas passam a ser extenses do homem, e este se ajusta a essas novas
realidades. Sob influncia desses novos modos de interao e de co-
municao, o corpo agora virtualizado apropria-se de comporta-
mentos, gestos e rituais bastante distintos daqueles experimentados
pelo homem da era pr-digital. O entendimento dessa multimodalida-
de de grande valor por promover uma discusso acerca do papel da
cognio humana na construo de significados, haja vista o seu car-
ter corporificado. Assim, mediante as interaes com o meio, com es-
pecial enfoque para o das tecnologias digitais, essa cognio corpora-
lizada se potencializa e se reconstri, modificando a forma como os
sujeitos se comunicam gestual e verbalmente. O carter multimodal
das novas formas de comunicao, propiciado pelas tecnologias, evi-
dencia-se pela expresso lingustica de metforas conceptuais que
emergem na comunicao, cujos domnios so provenientes do con-
texto digital.
Conceitos ligados tecnologia passam a ser elaborados pela ex-
perincia do corpo com o espao virtual. Termos associados ao dom-
nio da tecnologia extrapolam os limites da virtualidade e so incorpo-
rados ao lxico da vida cotidiana, trazendo novas cores sobre a orga-
nizao cognitiva e o sistema conceptual. Nessa evoluo tecnolgica,
v-se uma expanso da prpria cognio corporalizada, reorganizan-
do-se a maneira como se produzem e se interpretam as informaes.
V-se, tambm, uma perspectiva inversa: a tecnologia se ajusta s ca-
pacidades desse corpo em constante mudana e configura-se como
sujeito dos processos cognitivo-conceptuais.
Nesses novos domnios nos quais o corpo adentra, interage e se
molda, muitas vezes, a apropriao de novos sentidos para o que se
passa a experienciar acaba tomando rumos inesperados. Enquanto se
espera que as novas tecnologias tragam, alm de novas maneiras de
interagir, facilidades para a vida cotidiana, o que parece ocorrer uma
ansiedade em obter a maior quantidade possvel de informaes, ain-
da que a enxurrada de dados no permita aprofundamento. Este arti-
go pretende refletir justamente sobre as mudanas comportamentais
e cognitivo-comunicativas geradas pela interao humano-mquina.
Assim, a prxima seo discute a influncia das tecnologias comunica-
cionais no processamento da informao e na produo de subjetivi-
dades. A seo seguinte trata das interaes digitais e a construo de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
49
identidades (virtuais). A quarta seo volta-se para a interface cogni-
tivo-conceptual e a multimodalidade como experincia corporalizada.
Por fim, ambos os planos da realidade criada pelas identidades virtu-
ais e o da experincia corprea so retomados para traarmos as con-
sideraes finais.
2 OS NOVOS DOMNIOS COGNITIVOS E OS PROCESSOS DE SUBJETIVAO NA
SOCIEDADE DA INFORMAO
Novos domnios do conhecimento surgem com as tecnologias
mais recentes, e a multimodalidade advinda delas estimula aes cog-
nitivas e sensorialidades. As mudanas cognitivas no se concentram
apenas no funcionamento do organismo da regulao biolgica bsi-
ca, do domnio pessoal e social s operaes abstrato-simblicas
(NOGUEIRA, 2008) , mas tambm na interao com o meio, com os
objetos a que se tem acesso. No que se refere ao processamento da
informao, a atuao do corpo vai muito alm da base fsica. Por isso,
invivel conceber a mente imagem de um computador (como uma
estrutura fixa), e nem o seu funcionamento imagem de um programa
computacional (input/output), posto que sua resposta vai depender da
sua interao com o ambiente: conceitos ligados tecnologia passam
a ser estabelecidos pelo status das interaes corpreas (COSTA et al.,
2012, p. 75). No nvel bsico de categorizao, ponto em que corpo e o
ambiente se tornam simultaneamente atuados, a relao que se estabe-
lece composta de uma organicidade sensvel. Assim, o ambiente
composto por percepes decorrentes de nossa estrutura cognitiva
(individual, intransfervel) que orienta o modo como percebemos a
realidade, uma vez que no estamos separados dos fenmenos que
observamos, mas somos parte deles.
As diferentes tecnologias alteram a capacidade perceptiva e aca-
bam por compor domnios cognitivos simultneos e distintos como
nunca anteriormente percebido por nossa sociedade. Isto porque no
se configuram apenas como extenso corprea que cumpre funciona-
lidades especficas, mas tambm como elementos que definem o corpo
contemporneo. Novas estruturas so compostas quando a mente se
atualiza, uma vez que opera por meio da construo constante de sig-
nificados, e no com informaes neutras o que chamamos de plas-
ticidade.
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
50
A mente, ento, resultado das relaes que estabelece com o
ambiente e com as outras pessoas; caso no existisse a interao cor-
po-crebro durante nosso processo coevolutivo, nossa mente no se-
ria dotada de tanta plasticidade. Se fosse o contrrio, a mente respon-
deria aos estmulos externos sem o estabelecimento de correlaes e
categorizaes aes necessrias para a construo de conceitos que
integram o pensamento humano. Os processos pertencentes ao pen-
samento se apresentam sob a forma de metforas, que constituem
grande parte de nosso sistema conceitual: construmos e compreen-
demos o mundo por meio desse mecanismo, emergente de um corpo
interatuante com variadas linguagens, tecnologias, estmulos e infor-
maes o dentro e o fora do corpo convergem a partir do fluxo co-
municativo. A metfora, portanto, no est limitada linguagem, mas
a todo o sistema conceitual humano que se ocupa em representar algo
ao mesmo tempo que est representando seu prprio estado de mu-
dana corporal: a influncia do corpo na organizao da mente tam-
bm pode ser detectada nas metforas que os nossos sistemas cogni-
tivos tm criado para descrever os acontecimentos e qualidades do
mundo que nos rodeia (DAMSIO, 2004, p. 216).
Nesse sentido, o processo de aprendizado enquanto ao cogni-
tiva corporalizada vai muito alm da simples memorizao e instru-
mentalizao de contedos. Assim, necessrio que a corporalidade
seja compreendida como uma srie de modalidades experienciais
multissensoriais que atua como ponto de interlocuo de uma educa-
o que opera no domnio tico, esttico e poltico: [] a inteligncia
deixa de ser a capacidade de resolver um problema para passar a ser a
capacidade de penetrar num mundo de significao compartilhado
(VARELLA et al., 2001, p. 269).
Apesar do fato de os processos de significao ocorrerem a par-
tir das experincias corpreas, em que a indissociabilidade entre cor-
po e ambiente leva a uma construo constante da realidade, no cam-
po das relaes humanas o caminho para um aprendizado pela expe-
rincia e, consequentemente, pela sensibilidade ainda longo. Afir-
mamos que as novas tecnologias propiciam mudanas significativas
no sistema cognitivo, mas a conscincia dessa transformao leva
repetio de atitudes relacionadas noo de que a mente um sim-
ples repositrio. A maioria das escolas ainda exige que seus alunos
mantenham-se sentados em fila, e esses alunos precisam preencher os
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
51
requisitos das disciplinas (e a analogia dessa nomenclatura com o as-
pecto comportamental no mera coincidncia) que muitas vezes so
meramente expositivas e desestimulantes. Alm disso, os sinais para
cada nova aula remontam ao comportamento de subservincia exigido
a partir da Revoluo Industrial, cujo horrio para iniciar e encerrar as
atividades determinado pelo relgio que coloca todos num mesmo
patamar. Essas atitudes (e metforas que impregnam o falar cotidia-
no) esto ligadas ideia tradicional de que as cognies reunidas em
salas de aula, escritrios, estaes de trabalho em geral podem ser pa-
readas e alimentadas com dezenas de dados de forma igualitria que
supostamente retratariam uma realidade estanque, em que cabeas
estariam prontas para engolir contedos.
Hoje, escolas e universidades recebem equipamentos como
computadores e tablets que acabam cumprindo as mesmas funes
dos cadernos e dos quadros-negros, ainda que com atrativos. A obten-
o desses recursos passa uma impresso superficial de que o apren-
dizado ser maior, j que o alcance a informaes tambm se amplifi-
ca, mas uma discusso sobre as possibilidades de experincia e o uso
da tecnologia ainda precisa ser estabelecida. As novas tecnologias tra-
zem, sem dvida, um avano para as interaes humanas, j que h
um sem-nmero de recursos e acesso ilimitado a informaes. Contu-
do, ainda preciso estabelecer um filtro para tamanha demanda. H
uma corrida para se conseguir visitar o maior nmero de links poss-
vel, mas, por vezes, h pouco tempo de digesto das informaes
apreendidas. Ao mesmo tempo que escolas so gradativamente equi-
padas com tais meios, muitas vezes no h recursos bsicos dispon-
veis, como estrutura fsica adequada, bem como h poucos profissio-
nais habilitados para (ensinar a) explorar adequadamente tais ferra-
mentas.
Nesse contexto, os novos gadgets que surgem a cada semana
prometendo experincias nicas ainda priorizam, essencialmente, o
sentido da viso. Mesmo os aparelhos touch screen, que levam a um
refinamento do toque (que de apertar com fora passa a ser de desli-
zar com suavidade), so concebidos para agradar aos olhos, j que
imagens coloridas, brilhantes e cheias de movimento so cada vez
mais salientes.
A visualidade caracterstica marcante no Ocidente, derivada de
uma cultura ocularcntrica e tecnologicamente complexa, a qual am-
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
52
pliou o controle territorial por intermdio da viso e de seu prolon-
gamento tendo a perspectiva como conceito cientfico e tcnica de
representao. A hipervalorizao do visual deixou outros modos de
contatos subdimensionados; como se tudo fosse uma grande tela e
perdssemos a experincia tridimensionalizada do espao. A proemi-
nncia da visualidade como perda da profundidade uma metfora
que serve tanto para o modo como nos relacionamos com o espao e
com as pessoas quanto com objetos para se estabelecer relao me-
ramente econmica e utilitria. Assim, em vez de interaes cujos sen-
tidos so integrados, em geral, as experincias partem de corpos iner-
tes observando uma tela que provm inmeros estmulos acessveis
viso. Em outras palavras, o que se constata que a grande influncia
do representacionismo em nossas vidas pode ser percebida pelo do-
mnio conceptual da imagem.
De acordo com Debord (2000), estamos vivendo em uma socie-
dade do espetculo, conjectura em que o espao-tempo toma propor-
es globais e converte-se mais em conjunto de imagens e representa-
es veiculadas massivamente do que em experincia corporalizada
processo que intensificado com o desenvolvimento de tecnologias
(principalmente s relacionadas a cmeras fotogrficas), o que poten-
cializa a experincia de uma realidade aumentada. Nela, a experimen-
tao de dada situao uma ao cognitiva, em que o suporte um
espao virtual. Nesse interstcio, situa-se uma diferena estratgica, j
que a experincia pode ser deslocada de seu domnio de realidade:
uma representao pode ser to convincente ao ponto de a tomarmos
como verdade inquestionvel: o espetculo no um conjunto de
imagens, mas uma relao social entre pessoas, mediatizada por ima-
gens (DEBORD, 2000, p. 14).
Na contemporaneidade, o corpo marcado pelos excessos da
exposio e pela necessidade de representar. Isto pode ser corrobora-
do no projeto Photoland, do fotgrafo Fbio Seixo
3
, que criou uma s-
rie mostrando pessoas no ato de tirar fotos. Para ele, o ato de fotogra-
far (e, portanto, de criar uma representao) mais importante do
que a vivncia do local. Imagens icnicas, como a da Mona Lisa, no
Louvre, ou a da Torre Eiffel, em Paris, nunca foram to reproduzidas, e
por cmeras cada vez mais poderosas. H necessidade de marcar um
3
Mais detalhes sobre o projeto em: <http://vimeo.com/50550160>. Acesso em: 10 ago.
2013.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
53
momento, de provar que se esteve em determinado local, e no de ex-
perienci-lo em sua plenitude. Uma obra de arte apenas um produto
exposto, e no um elemento desencadeador de reflexes e de experi-
ncias realmente nicas. Por isso, talvez seja to difcil para algum
com a viso comprometida conseguir inserir-se em uma sociedade
ainda fundamentada no representacionismo. Dedicamos a prxima
seo construo de identidades numa era de representaes.
3 AS INTERAES DO CORPO NO ESPAO DIGITAL E A CONSTRUO DE
IDENTIDADES (VIRTUAIS)
O corpo ps-moderno est sob constante apuramento esttico e
aperfeioamento das faculdades humanas em todos os sentidos. As
tecnologias no se apresentam apenas como extenso corprea que
cumpre funcionalidades especficas, mas como elementos que definem
o corpo enquanto subjetividade. Muito se afirma que vivemos sob a
sociedade de informao, denominao, por vezes, equivocadamente
substituda pela expresso sociedade do conhecimento, como se in-
formao e conhecimento pudessem ser considerados sinnimos. A
relao estabelecida entre a tcnica e a produo de subjetividade
muito mais complexa, pois operada por meio de projees de carac-
tersticas humanas na mquina e caractersticas maqunicas no huma-
no, algo que se aproxima da concepo de ecologia cognitiva composta
por Pierre Lvy: uma modificao tcnica ipso facto uma modifica-
o da coletividade cognitiva, implicando novas analogias e classifica-
es, novos mundos prticos, sociais e cognitivos (1993, p. 145).
Zigmunt Bauman (2001) criou a metfora da liquidez para ex-
pressar como as relaes podem ser efmeras em nossa sociedade
contempornea, em que os sentidos so construdos e descontrudos
em volatilidade que se assemelha ao fluxo do giro do capital financei-
ro. No filme Medianeras Buenos Aires na era do Amor Virtual, Mar-
tin, um dos personagens principais, define-se pela relao estabeleci-
da com a tecnologia: h mais de dez anos sentei em frente ao compu-
tador e tenho a sensao de que nunca mais levantei. No sei se a in-
ternet o futuro ou foi o meu. Vivo de criar sites. Este o meu cibe-
respao. O personagem ainda enumera as atividades que realiza pela
internet e como isso influencia seu modo de se relacionar com a cida-
de e com as pessoas: a internet me aproximou do mundo, mas me dis-
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
54
tanciou da vida. Fao coisas de banco e leio pela internet, baixo msi-
ca, ouo rdio pela internet, compro comida pela internet, alugo ou
vejo filmes, converso pela internet [].
A virtualidade o que caracteriza essas relaes que esto cons-
tantemente sendo produzidas e em aberto, uma atualizao do vir-a-
ser dos pr-socrticos, agora massivamente amparada pela tecnologia.
Porm, o fluxo est muito mais associado ao consumo do que elabo-
rao da subjetividade e, neste ponto, localiza-se a fragilidade de
acreditar que seramos livres para fazer e desfazer as identidades
nossa vontade. Isto muito perceptvel nas redes sociais, como o Fa-
cebook
4
: um perfil individual composto por imagens intencional-
mente selecionadas por meio de uma edio virtual da vida, que, por
vezes, mescla-se a uma narrativa conflitante com sua experincia sub-
jetiva corporalizada, como se realidades paralelas fossem vivenciadas.
As imagens produzidas tornam-se mais importantes do que vivenciar
a experincia, j que so estas que asseguram o registro da presena
em determinado evento/lugar. Os registros fotogrficos e audiovisuais
que surgem como instrumento de compartilhamento da memria so-
cial passam a ser dispositivos de esquecimento da prpria experin-
cia; trata-se de uma mediatizao por meio de filtros que criam uma
realidade editada, e no uma experincia a ser compartilhada, sentida
e ressignificada (COSTA et al., 2012, p. 73).
Dessa forma, a construo da identidade (digital) feita com as
informaes que intencionalmente lanamos na rede. Pelas redes so-
ciais, expomos uma persona por vezes diferente daquela da vida coti-
diana. Ora, se nossa identidade aquilo que nos define, aquilo pelo
que nos reconhecem e o que se constri por meio de nossa atividade
(ROCA, 2012, [s.p.]), essa construo, nas redes, possivelmente ter
uma faceta reinventada. No se expe aquilo que se experiencia, mas
uma representao daquilo que se deseja, ou se desejou, vivenciar.
Trata-se, portanto, de mera representao.
Somos o que fazemos e o que dizem que fazemos; e cada vez mais
fazemos mais coisas na rede, e cada vez mais h mais pistas na rede
sobre ns. Assim, a rede se converteu em um elemento chave para a
gerao e gesto de nossa identidade, tanto no [plano] pessoal co-
mo no profissional []. (ROCA, 2012, [s.p.], traduo nossa)
4
www.facebook.com
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
55
Assim, nas redes, ao invs de acesso a um indivduo, tem-se
acesso a uma representao dele (RECUERO, 2012, p. 206) e, portan-
to, daquilo que ele intenciona divulgar. Numa cibercultura afeita qui-
lo que se v, um indivduo capaz de construir representaes diver-
sas de si mesmo dependendo de quantas forem as redes sociais das
quais ele faz parte. O prprio conceito de rede social extrapola a ideia
de laos sociais e acaba tomando novo formato porque os indivduos
interagem e se moldam conforme os recursos disponveis: no meio
digital, as conexes entre os atores so marcadas pelas ferramentas
que proporcionam a emergncia dessas representaes (RECUERO,
2012, p. 206). Assim, os grupos sociais que se estabelecem se ajustam
e se recriam dependendo do contexto estabelecido por cada rede.
Contudo, ao mesmo tempo que somos motivados a agir por um
universo de representaes, o corpo num mundo cada vez mais tecno-
lgico no pode fugir da influncia propiciada pela interao com a
mquina. Mesmo que se crie intencionalmente uma mscara pblica
nas redes sociais, uma persona construda conscientemente para exibir
para o mundo virtual, no se pode ignorar a influncia da interao
humano-mquina nos processos cognitivos de conceitualizao. Desse
modo, no plano cognitivo, a experincia com um ambiente tecnolgico
leva elaborao de novos domnios conceptuais, que, por sua vez, fa-
zem emergir novos significados para a vida cotidiana mesmo que es-
ses sejam conscientemente construdos no plano das interaes sociais.
4 A INCORPORAO DA MULTIMODALIDADE E A INTERFACE
COGNITIVO-CONCEPTUAL
Na modernidade lquida, o corpo cada vez mais conectado vir-
tualidade percebe-se protagonista das novas mdias, e no mais mero
usurio delas. A tecnologia se ajusta s capacidades desse corpo, que
deixa de ser objeto para ser sujeito dos processos cognitivo-concep-
tuais. E isto no ocorre s atualmente, com as novas tecnologias e m-
dias, mas s nesse momento que se torna possvel ultrapassar a bar-
reira da metfora da mente como computador para a concepo de
mente como corpo. Assim, a composio cognitiva passa a ser, tam-
bm, a prpria tecnologia com a qual se interage; trata-se, portanto, de
um sistema que se retroalimenta, em que o corpo se hibridiza nos ar-
tefatos, refinando a sua percepo, expandindo-se e reinventando-se.
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
56
Nessa indissociabilidade do(s) corpo(s) com o meio em que interage,
percebe-se que a relao do indivduo com as novas tecnologias tem
transformado at mesmo a sua maneira de ver o mundo.
Os diversos recursos tecnolgicos que surgem no mercado exi-
gem uma mudana de postura: um telefone celular de ltima gerao,
por exemplo, capaz de reunir e organizar as suas possveis prefern-
cias. Mquinas so programadas para simular uma realidade, levando
crena de que se est, de fato, interagindo com algum. Bebs e cri-
anas j se desenvolvem sabendo como interagir com ferramentas vir-
tuais, muitas vezes operando-os com desenvoltura natural.
O uso de recursos tecnolgicos parece estabelecer nova dimen-
so, na qual a lgica que eles no so apenas elementos que servem a
propsitos especficos, mas passam a ser uma extenso do prprio
corpo. A funo dos telefones celulares de ligar para outras pessoas
acaba ficando em segundo plano. Com aparelhos multifuncionais, os
indivduos no precisam necessariamente dialogar; a comunicao
simulada, mesmo que essa interao seja monolgica. No obstante,
concertos so assistidos pelo filtro de cmeras celulares, ainda que
constatao espantosa se esteja diante dos msicos. H uma midiati-
zao por meio de filtros que criam uma realidade editada, e no uma
experincia a ser compartilhada, sentida e ressignificada tal como se
constatou no projeto Photoland.
Mesmo nos planos da inteno consciente de criar, editar e ofe-
recer uma realidade para mostrar nas redes sociais virtuais, a experi-
ncia nas redes torna inevitvel o compartilhar de comportamentos e
de ideias ainda que o uso das tecnologias assuma contornos ligados
tradio. Disto decorre a emergncia de domnios conceptuais in-
trinsecamente relacionados virtualidade e tecnologia, haja vista a
sua insero na cibercultura.
Varella et al. (2001) mostram que sujeito e mundo especificam-
se reciprocamente. H um acordo tcito entre os elementos do mundo
fsico e aquele que parcialmente idealizado ao longo da vida, que se
molda medida que interage. E essas mudanas se projetam na lin-
guagem. Para os mesmos autores, necessrio transpor essa geografia
lgica de interior versus exterior pela compreenso de que a cognio
no apenas recupera contedos mais ou menos estveis para a elabo-
rao de conceitos, nem apenas de projeo; trata-se de uma ao in-
corporada. Isto decorre do fato de as experincias que moldam a cog-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
57
nio estarem diretamente conectadas s capacidades sensrio-moto-
ras individuais, e por estas ltimas estarem inscritas em um contexto
biolgico, psicolgico e cultural abrangente (VARELLA et al., 2001).
A cognio corporalizada vista como fundada e situada social-
mente: , conforme Vereza (2010), uma sociocognio. Corpo e ambi-
ente esto em um continuum em que estabelecem novas interfaces a
cada movimento. Vale enfatizar que os processos sensrio-motores, os
mecanismos de percepo e a ao no esto apenas ligados, mas es-
to em condio de evoluo inextricvel. por isso que no podemos
mais assumir uma separao entre relaes sociais e os aspectos cog-
nitivos, muito menos se pode cogitar uma dicotomia homem
ambiente. A construo de sentidos depende no apenas da recepo
das experincias, mas pela forma como as elaboramos corporeamente.
E quando se trata de pensamento corpreo, implica-se uma subjetivi-
dade moldada pela ao incorporada.
Maturana e Varella (1997) mostram que nossos corpos devem
ser compreendidos como estruturas vivas e experienciais, em que in-
terno e externo, biolgico e fenomenolgico esto em interao. Desse
modo, pelo fato de entendermos o corpo como um modelo semntico
que se molda no fluxo da vida cotidiana (GREINER, 2005), a tese da
corporalidade sustenta que muitos dos conceitos que construmos
surgem a partir de elementos advindos dessa tricotomia corpo
mentemundo. Esta, como j referimos, fica evidenciada na expresso
lingustica, posto que os conceitos que elaboramos emergem de nos-
sas experincias, por meio de um sistema cognitivo altamente metaf-
rico (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
Os movimentos de socializao da internet se expandiram com
maior velocidade, e os modos de dizer, de uma maneira ou outra, tor-
nam-se possveis de maneira plural. As interaes passam a ser mul-
timodais, no necessitando de lugar fsico: as conexes so elaboradas
com base no mundo fsico, mas seus movimentos se estendem para
relaes amplamente virtuais. Nesse sentido, possvel acessar uma
pgina da web, quando antes qualquer pessoa podia ter acesso ao ou-
tro pela simples aproximao fsica; o movimento que se faz por meio
de dispositivos operados via touch screen nada mais que uma deri-
vao e uma alterao do toque humano, que hoje se adapta para inte-
ragir e acessar esse no lugar disponibilizado pelas redes wi-fi. Pode-
se, ainda, apontar a metfora da ligao: estar em rede significa estar
ligado a outros indivduos, ainda que virtualmente embora o sentido
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
58
de rede social tenha mudado bastante com o advento das redes na in-
ternet. O contato no mais concreto, mas possvel ter amigos virtuais,
curtir (no sentido de gostar e de apoiar) certa postagem, compartilhar
uma informao numa rede social, entre outros movimentos. De acor-
do com Costa et al. (2012), palavras associadas tecnologia incorpo-
ram-se ao lxico cotidiano e at mesmo extrapolam os limites (se
que eles existem) da virtualidade: algum pode deletar um amigo no
s na rede social e ter uma forte conexo com algum; pensar bastante
sobre algo pode ser referido como queimar o HD (metfora da mente
como computador). Alm disso, relaes amorosas j so possveis
virtualmente, substituindo percepes fsicas pelo contato com o ou-
tro por genricos elaborados pela distncia: a era digital promove
romances iniciados por chats, e as formas de aproximao apenas se
assemelham quelas abordagens face a face.
A extenso do corpo pela tecnologia leva a um refinamento das
combinaes multimodais a partir das quais se movimenta pelo mun-
do, e apesar de esse arranjo acarretar focos mltiplos de ateno, a
cognio capaz de readaptar-se de forma a no perder as habilidades
desenvolvidas ao longo da vida, mas apenas a aprimor-las de acordo
com a ao ou o objeto. Para Hutchins (1996), o uso de artefatos desse
domnio promove uma mudana na natureza cognitiva da ao a ser
realizada. Contudo, os saltos de uma composio conceptual para ou-
tra no excluem os processos cognitivos elaborados anteriormente. O
que ocorre, de fato, uma retroalimentao adaptativa: a cognio
molda os artefatos, que moldam a prpria cognio. Esses processos,
desencadeadores de novos conceitos para as realidades ressignifica-
das, so, em grande parte, inconscientes.
relevante salientar, aqui, que ainda que se force uma constru-
o de realidades inventadas pela hiperveiculao de estmulos artifi-
ciais, ligados principalmente ao sentido da viso, e pela consequente
criao de identidades virtuais, no se pode desprezar o poder de um
plano ainda mais fundamental, arraigado quilo que somos: o da reali-
dade corprea.
5 CONSIDERAES FINAIS
O corpo, em constante devir, serve de base para a experincia e
nos leva ao entendimento dos conceitos que ns mesmos construmos
pela linguagem, pela socializao, pela cultura. Por sermos parte do
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
59
mundo, estamos em posio indissocivel a ele: somente produzimos
significados para ele porque ele prprio construto. Sob influncia
das mdias, o corpo passa a ter extenses: o objeto com que se intera-
ge corpo virtual leva a novos gestos, comportamentos e rituais. As-
sim, tal como previra M. McLuhan, as tecnologias modernas passaram
a ser extenses do homem, e este, adaptvel a meios distintos, ajusta-
se a essas novas realidades.
A reorganizao adaptativa estimulada pela evoluo tecnolgi-
ca leva a uma reelaborao de sentidos e abre outras perspectivas pa-
ra o estar no mundo. O carter multimodal das novas formas de co-
municao, propiciado pelas tecnologias, se evidencia pela expresso
lingustica por meio de metforas conceptuais elaboradas por meio do
contexto digital. Alm disso, essas novas formas de dizer esto atrela-
das ao modo como se interpreta e ressignifica o mundo: a expanso do
corpo sob esse vis no significa uma fragmentao de relaes, mas
uma reorganizao na maneira como se alcana e se produz informao.
Contudo, importante retomarmos duas questes que aparece-
ram diludas ao longo deste texto. Se, por um lado, as experincias
corpreas propiciam uma construo inconsciente de conceitos e, por-
tanto, de entendimentos sobre a realidade elaborada, por outro, h o
plano da realidade criada. Ao mesmo tempo que conceitos ligados ao
domnio da tecnologia esto to atrelados intersubjetividade que
passam despercebidos no falar cotidiano, essa aldeia virtual leva tam-
bm a novos comportamentos. Toda e qualquer experincia precisa
ser registrada por gadgets diversos, que filtram a experincia percep-
tual; as personas virtuais, na maioria das vezes, no correspondem
persona que realmente vivencia o cotidiano. Isto , como afirmamos,
fruto da urgncia pela informao e da necessidade de representao.
Ressaltamos que o que se pretendeu neste texto foi, alm de ex-
plorar a relao da construo de perspectivas por meio do plano da
mente corprea, bsico e essencial para os significados atribudos s
interaes cotidianas, tambm trazer para discusso o plano das no
experincias, aquelas que emergem pela necessidade de interagir, de
expor, de buscar informao. Este o plano das identidades criterio-
samente elaboradas para mostrar aos outros, sejam elas expostas nas
redes sociais do cotidiano ou do espao virtual. , tambm, o plano da
representao, ainda que esta esteja associada aos moldes tradicionais
de pensamento. Ao expormos esses dois planos, apontamos para a ne-
cessidade de romper com os limites desse pensamento tradicional,
Aline Aver Vanin & Camila Xavier Nunes
60
dentro dos moldes da linearidade, da rigidez e da representao para
dar lugar ao corpo como grande razo: pelo pensar estendido e am-
pliado, interdisciplinar e interconectado que se pode construir e in-
terpretar realidades de forma plena e significativa.
REFERNCIAS
BAUMAN, Zygmunt. A Modernidade Lquida. Traduo de Plnio Dentzien. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
COSTA, Juliana C.; NUNES, Camila X.; VANIN, Aline A. A multimodalidade tecno-
comunicacional nas interfaces do corpo expandido. In: RIOS, Jos; BOCCIA, Leo-
nardo; COIMBRA DE S, Natlia (Orgs.). Desafios intermodais: Leituras da com-
posio analgico-digital culturas, memrias e sonoridades. Simes Filho: Ka-
lango, 2012.
DAMSIO, A. Em Busca de Espinosa: prazer e dor na cincia dos sentimentos. So
Paulo: Companhia das Letras, 2004.
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetculo. Traduo de Estela dos Santos Abreu.
Rio de Janeiro, Contraponto, 2000.
GREINER, C. O corpo: pistas para estudos interdisciplinares. So Paulo: Anna-
blume, 2005.
HUTCHINS, E. Cognition in the wild. 2. ed. Massachusetts: MIT, 1996.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chi-
cago Press, 1980.
LVY, Pierre. As tecnologias da inteligncia: o futuro do pensamento na era da
informtica. Traduo de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
LVY, Pierre. O que o virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. De mquinas e seres vivos. Autopoiese: a organiza-
o do vivo. Traduo de Juan Aua Llorens. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
MEDIANERAS. Buenos Aires na era do Amor Virtual. Direo e Roteiro: Gustavo
Taretto. Produo: Natacha Cervi e Hernn Musalupp. Alemanha / Argentina /
Espanha. Distribuidora: Imovision, 2011. DVD (95 min.) Ntsc, son., color. NTSC.
Legendado. Port.
NOGUEIRA, Judith. Do movimento ao verbo: desenvolvimento cognitivo e ao
corporal. So Paulo: Annablume, 2008.
RECUERO, Raquel. A rede a mensagem: efeitos da difuso de informaes nos
sites de rede social. In: VIZER, Eduardo (Org.). Lo que McLuhan no previ. Buenos
Aires: Editorial La Cruja, 2012. v. 1, p. 205-223.
ROCA, Gens. Qu dice la Red de ti? Redes sociales e identidad digital. Telos.
Cuadernos de Comunicacin e Innovacin, n. 95, Big Data, Abril-Junio, 2012.
VARELLA, F. J.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. The embodied mind: cognitive science
and human experience. Massachusetts Institute of Technology, 1991.
VEREZA, S. C. Articulating the conceptual and the discursive dimensions of fi-
gurative language in argumentative texts. D.E.L.T.A., 26: especial, p. 267-284,
2010.
MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS
ACADMICOS X MODELOS COGNITIVOS
IDEALIZADOS NO ACADMICOS:
A CATEGORIZAO EM CLASSES HIPERONMICAS
Thalita Maria Lucindo Aureliano
1
Jan Edson Rodrigues Leite
2
Danielly Lima Lopes
3
Mbia Nunes Toscano
4
1 INTRODUO
De acordo com os pressupostos da Lingustica Cognitiva, o co-
nhecimento da linguagem um fenmeno cognitivo. Dessa forma, no
possvel estudar a linguagem sem analisar os seus aspectos cogniti-
vos, pois, para que os seres humanos consigam organizar o seu conhe-
cimento de mundo, necessria a ativao de vrios conhecimentos
construdos socialmente e conectados atividade cognitiva.
A partir dessa proposta de trabalho, a presente pesquisa tem
como objetivo mais vasto investigar o sistema conceitual envolvido no
processo de construo dos hipernimos com base em sequncias le-
xicais de um mesmo campo semntico. Esse processo acontece por
meio da categorizao que o falante faz da sua realidade sociocultural.
A nossa hiptese de pesquisa est centrada na ideia de que as
palavras no pertencem a determinadas categorias de forma fixa,
1
Mestranda em Lingustica pela Universidade Federal da Paraba.
E-mail: thalitamaria.a@gmail.com
2
Prof. Dr. em Lingustica Cognitiva da Universidade Federal da Paraba.
E-mail: edson123@gmail.com
3
Doutoranda em Lingustica pela Universidade Federal da Paraba.
E-mail: danillima@gmail.com
4
Mestranda em Lingustica pela Universidade Federal da Paraba.
E-mail: mabia_toscano@hotmail.com
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
62
quando fazemos referncia a algum objeto, ser ou fenmeno no mun-
do. Mas, para que o indivduo organize mentalmente e expresse, por
meio da linguagem, essa organizao, ele se baseia em suas experin-
cias individuais, gerando uma reformulao conceitual das categorias
convencionais. Nesse sentido, investigaremos se essa reformulao
est ligada com a escolaridade dos informantes.
Avaliaremos as relaes lxico-semnticas em oito falantes do
estado da Paraba, levando em considerao ambos os sexos, segundo
a varivel grau de instruo. Essa varivel foi escolhida em virtude de
muitas dessas categorias serem consideradas fixas pela academia, ou
seja, esto convencionalizadas. Os indivduos com as mais altas esco-
laridades tendem a utilizar esses conhecimentos internalizados, j os
indivduos com escolaridades mais baixas, provavelmente iro esco-
lher de modo natural as suas experincias socioculturais como supor-
te para a categorizao da realidade.
A Lingustica Cognitiva postula que as categorias so ativadas
por frames via Modelo Cognitivo Idealizado, postulados por Lakoff
(1987). A viso de categoria adotada nessa pesquisa a de Rosh (1975)
e Lakoff (1987).
2 PRESSUPOSTOS DA LINGUSTICA COGNITIVA
A teoria lingustica conhecida como lingustica cognitiva surge
com fora por volta de 1980 a partir de duas obras importantes: Wo-
men, fire and dangerous things, de George Lakoff, e Cognitive Grammar:
theoretical prerequisites, de Ronald Langacker. E, segundo os cogniti-
vistas, a linguagem no independente de outras funes e atividades
mentais.
Um dos principais campos de investigao dessa corrente da
terica o fenmeno da categorizao, que tem como verso inicial a
viso clssica proposta por Aristteles (TAYLOR, 1995). O autor pos-
tulava que as categorias eram formadas por propriedades fixas (ne-
cessrias e suficientes) em que todos os membros possuam todas as
caractersticas em comum. A partir dos estudos de Eleanor Rosch
(1975), entretanto, percebeu-se que existiam na verdade, categorias
prototpicas, ou seja, um membro central possuindo todas as caracte-
rsticas daquele grupo, bem como outros membros que se afastavam
do prottipo e exibiam apenas algumas das caractersticas da categoria.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
63
Com os estudos de Rosch, pode-se entender que as estruturas
lingusticas no so rgidas, e sim flexveis, pois se modelam s neces-
sidades comunicativas, produzindo os significados. Esses significados
so construdos mentalmente e estruturados pelas formas lingusticas,
sendo a lngua a atividade que se usa para acessar o pensamento e para
interagir socialmente.
3 TEORIA DA CATEGORIZAO
O processo de categorizao uma operao mental primordial
na organizao de nossa experincia. De acordo com Lakoff (1987),
no h nada mais bsico do que categorizar, pois cada vez que perce-
bemos ou estabelecemos algo como pertencente a um grupo, estamos
categorizando.
Nesse artigo, foi utilizada a perspectiva cognitiva de categoriza-
o, ou seja, a categorizao tratada como uma operao mental li-
gada a questes socioculturais.
4 PERSPECTIVA COGNITIVA
Rosch (1975) apresentou os prottipos como ponto chave para
entender as categorias. Lakoff (1987) manteve essa mesma linha de
reflexo.
De acordo com Rosch (1975), se as categorias tivessem apenas
caractersticas necessrias e suficientes, no existiria um exemplar
melhor ou mais tpico da categoria. Dessa forma, o autor prope ser
possvel perceber propriedades mais salientes nas categorias, as pro-
priedades prototpicas. A concluso foi de que cada categoria possui
um membro que tem todas as caractersticas mais especficas para
pertencer quele grupo. Essa teoria ficou conhecida como Teoria dos
prottipos.
Nas categorias, percebe-se que h membros mais centrais,
membros menos centrais e outros, no limite da categoria. O membro
prototpico possui a maioria dos traos daquela categoria, e todos os
outros membros tm pelo menos um trao do prottipo, mas no ne-
cessariamente o mesmo trao. Isto levou Rosch (1975) seguinte con-
cluso: o prottipo a prpria representao mental da categoria, ten-
tando uma relao ideal entre objeto e categoria.
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
64
Um ponto forte dos estudos desse autor so as categorias de n-
vel bsico. Enquanto o conceito de prottipo situa-se em um nvel in-
tracategorial, em um nvel extracategorial encontra-se o conceito de
nvel bsico. o nvel prototpico que faz com que as pessoas catego-
rizem gato como gato, no como cavalo ou cachorro. J no nvel bsico,
encontra-se o porqu de, no cotidiano, preferirmos usar gato a felino
ou animal, por exemplo.
A teoria de Rosch (1975) possui trs ordens:
conceito bsico: o nvel em que uma representao men-
tal unitria possvel. Ex: cadeira.
conceito superordenado: est acima do nvel bsico, a au-
tora o considera o mais abstrato, pois no possvel uma
representao mental unitria. O termo superordenado
de cadeira seria moblia.
conceito subordinado: est abaixo do nvel bsico em que
processada a especializao, normalmente so compos-
tas por um nome mais um modificador, exemplo: cadeira
de balano.
Na perspectiva cognitiva, encontramos tambm a proposta de
Lakoff (1987). Reportando-se a Rosch, Lakoff destaca que o pensa-
mento corporificado, pois nossos primeiros contatos com o mundo
ocorrem por intermdio dos sentidos, envolvendo o corpo, e, como a
mente no separada do corpo, a organizao e a estrutura dos pen-
samentos esto diretamente associadas estrutura do nosso corpo.
A corporificao est inserida nos limites da percepo humana
em relao a objetos concretos. O autor defende que as categorias esto
fundadas nas experincias sensrio-motrizes, podendo ser ampliadas
via mecanismos imaginativos, como a metfora e metonmia conceitual.
5 FRAMES E MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS
Para abordar o significado a partir da linguagem, Langacker
(1987) institui a noo de domnio que discute as composies arma-
zenadas nas memrias semnticas permanentes, sendo os domnios
mais bsicos, aqueles relacionados s experincias corporais. Outras
estruturas cognitivas ligadas ao armazenamento de informao cultu-
ralmente compartilhada so frames e modelos cognitivos idealizados.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
65
5.1 FRAMES
Filmore (1982) conceitua o termo frame como um sistema de
conhecimento gravado na memria de longo prazo e organizado a par-
tir dos esquemas de experincias. Um exemplo do que seria um frame
dado pela autora que afirma que, quando utilizamos, por exemplo, os
verbos: comprar, vender, pagar, custar e cobrar, necessrio acessar o
frame EVENTO COMERCIAL para interpret-los. Como, por exemplo:
(1) Eu comprei um computador por R$ 2.000. (2) Ana vendeu seu
computador por R$ 2.000. (3) Eu paguei R$ 2.000 pelo computador.
Todas as sentenas utilizam o frame EVENTO COMERCIAL para a
interpretao, mas cada uma acentua aspectos diferentes desse frame,
de acordo com cada verbo selecionado.
Em aspectos gerais, percebe-se que a palavra ou expresso esco-
lhida pelo falante mostra a maneira como ele relaciona os partici-
pantes da cena e quais frames ele quer destacar. Assim, fica claro
que o significado das palavras em parte uma funo do frame que
lhe d sustentao.
5.2 MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS (MCI)
Unido aos processos de categorizao, Lakoff (1987) desenvol-
veu o conceito de Modelo Cognitivo Idealizado, que seria um conjunto
complexo de frames distintos. Lakoff (1987) ainda discute que a cate-
gorizao, mediante um modelo cognitivo idealizado, responsvel
pela organizao do conhecimento, podendo ser um modelo acadmi-
co, ou seja, um modelo j convencionalizado na sociedade, ou um mo-
delo no acadmico, que estruturado por meio de experincias soci-
oculturais do falante. Esses modelos so idealizados, pois:
No preciso que eles sejam perfeitamente adequados
ao mundo, j que so originados da cognio humana e
da realidade, determinados por crenas, valores, neces-
sidades etc.
Podem ser construdos modelos diferentes para a com-
preenso de uma situao, podendo ser inclusive contra-
ditrios entre si.
importante salientar que MCI diferente de frame, pois este
um recorte de um MCI. Por sua vez, o MCI um conjunto de frames.
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
66
6 SIGNIFICADO E LXICO
O termo semntica, de acordo com Koch (2005), foi definido pela
primeira vez no livro Essai de Semantique (1873), de Michael Bral,
incitando os estudiosos a voltar os olhos para a significao.
A significao estuda vrios processos, entre eles: hipnimos e
hipernimos, que so palavras pertencentes a um mesmo campo se-
mntico. A pesquisa apresentada neste trabalho foi baseada no estudo
de hipernimos.
Hiperonmia corresponde palavra ou expresso que pertence
ao mesmo campo semntico de outras, porm com sentido mais
abrangente.
Em oposio a esse termo, h o hipnimo, que corresponde a um
vocbulo no qual cada parte ou cada item possui sentido mais limita-
do, apresentando uma relao de incluso aos significados dos lxicos.
Por exemplo: Pastor alemo e Labrador constituem caso de hiponmia,
visto que cada uma dessas palavras parte de um todo neste caso,
cachorro.
Podemos pensar tambm na relao hipernimo-hipnimo em
categorias, ou seja, a categoria de comida, que inclui feijo, carne, bis-
coito etc. Assim, nessa relao, comida hipernimo de feijo e feijo
hipnimo de comida.
7 HIPERONMIA E CATEGORIZAO
Quando o indivduo categoriza itens lexicais de um mesmo cam-
po semntico, utiliza hipernimos. Esses itens encontram-se no nvel
bsico, segundo a classificao de Rosch (1975).
Conforme as caractersticas lingusticas, as categorias de nvel
bsico apresentam palavras consideradas morfologicamente mais
simples e curtas, talvez por isso com uma grande ocorrncia. Essas
palavras tambm so as primeiras a serem adquiridas na fase de aqui-
sio lexical das crianas.
A teoria do prottipo de Rosch (1975) aborda tambm as rela-
es semnticas com a hiperonmia. Segundo a autora, quando o falan-
te escolhe um termo pertencente ao nvel bsico (cadeira) em detri-
mento do nvel superordenado (moblia), h uma preferncia pela op-
o mais vantajosa (nvel bsico), pois a representao mental mais
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
67
plausvel. Isto ocorre, na maioria dos casos, de maneira inconsciente,
por estar convencionalizada em certas categorias dentro do modelo
sociocultural vivido.
8 METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste trabalho reproduo de parte do
experimento proposto por Monteiro (2000) em sua tese e o recorte
utilizado por Marcuschi (2007). Sua proposio derivou da afirmao
feita pelos autores de que o indivduo com baixa escolaridade tende a
priorizar as experincias individuais, registrando-as em primeiro pla-
no no processo de categorizao, embora saiba agrupar os fenmenos
de modo convencional. A curiosidade em saber se tal assertiva seria
corroborada impulsionou a replicao do experimento de Monteiro
(2000, apud MARCUSCHI, 2007).
Participaram da pesquisa, na qualidade de informantes, oito
pessoas do estado da Paraba de nveis de escolaridade diferentes, fai-
xa etria entre 20 e 64 anos, de ambos os sexos.
Os informantes foram distribudos por nvel de escolaridade,
como mostra a tabela abaixo, contendo cada nvel dois informantes,
um informante feminino e um masculino. Essa organizao foi basea-
da no Projeto Variao Lingustica no Estado da Paraba VALPB
(HORA; PEDROSA, 2001).
Quadro 1: Nvel de escolaridade proposto para pesquisa
Sem escolaridade De 15 anos de escolaridade
De 610 anos de escolaridade Com mais de 11 anos de escolaridade
A coleta de dados aconteceu por meio de um questionrio obtido
oralmente. Assim como na proposta de Monteiro, foi apresentado o
seguinte comando: Eu vou te dizer trs palavras e voc vai me dizer o
que essas trs palavras so. O que o informante deveria fazer era ten-
tar agrupar trs entidades (hipnimos) que eram relacionados e re-
present-los por uma palavra ou expresso (hipernimos).
A investigao foi realizada com 14 grupos de itens, mas, para
serem apresentados neste artigo por limitao de espao, foram sele-
cionados trs grupos. Uma viso geral de todas as categorias pesqui-
sadas ser oferecida, aps, juntamente com a discusso dos resultados.
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
68
9 ANLISE DOS DADOS
De acordo com a classificao proposta por Rosch (1975), foram
apresentados, mediante um questionrio oral, itens de nvel bsico
para os informantes. O termo esperado como resposta, est presente
no nvel superordenado, pois mais genrico, abrangendo vrios itens
do nvel bsico. Na relao goiabafruta, o primeiro termo do nvel
bsico e o segundo o superordenado.
Esse processo de categorizao s possvel via Modelo Cogniti-
vo Idealizado. Apontaremos o que acontece de diferente quando os
frames ativam um determinado MCI acadmico ou quando ativam um
MCI no acadmico. Os MCIs acadmicos so os que derivam das ex-
perincias de mundo atreladas s convencionalizaes sociais. J os
MCIs no acadmicos derivam principalmente das experincias socio-
culturais e individuais. As categorias, por fim, resultam de toda essa
relao. A seguir, mostraremos uma anlise de cada grupo de hiper-
nimos selecionados da tabela de classificao dos informantes.
9.1 CHOCOLATE, BRIGADEIRO E QUINDIM
Os itens acima foram os que mais ativaram MCIs no acadmi-
cos, fazendo com que suponhamos que os indivduos envolvidos no
experimento tenham uma relao diferenciada com os hipnimos apre-
sentados.
A informante OSS (sem escolaridade) no ativou o frame da clas-
sificao das palavras, mas o de algo ser bom ou ruim, de acordo com
as suas experincias com esses alimentos. A informante ento catego-
rizou esses itens como bom. De uma maneira semelhante, a infor-
mante ELM (15 anos) categorizou esses itens baseada nas mesmas
ideias de OSS, utilizando o conceito de gostoso.
O informante EAM (sem escolaridade), a partir de todas as possibi-
lidades de frames no acadmicos para serem ativados, de acordo com
as suas experincias e conhecimentos de mundo, ativou o frame de pre-
sente aos referidos itens, dizendo: Isso to bom que um presente.
O informante EOS (15 anos) utilizou um termo mais abrangen-
te para categorizar esses itens, que foi o de comida. Este item foi en-
quadrado de acordo com o MCI no acadmico, por no ser um hipe-
rnimo convencionalizado para essa categoria, mas no pode ter o seu
uso considerado como equivocado. E dentro do MCI no acadmico, o
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
69
informante SIA (mais de 11 anos) ativaram o frame de lanche. J os
informantes ELS e JAS (1-6 anos) e LLI (mais de 11 anos) ativam o
frame do MCI acadmico, doce.
Tabela 1: Quantificao dos dados: CHOCOLATE, BRIGADEIRO e QUINDIM
Informante Escolaridade MCI Acadmico MCI no acadmico
EAM Presente
OSS Bom
EOS 15 anos Comida
ELM 15 anos Gostoso
ELS 610 anos Doce
JAS 610 anos Doce
SAI Mais de 11 anos Lanche
LLA Mais de 11 anos Doce
TOTAL 3 5
9.2 MORCEGO, GOLFINHO E BALEIA
Todos os informantes participantes do experimento ativaram
esses itens relacionando-os com o frame animal, porm o informante
EAM (sem escolaridade) no conseguiu ativar nenhum frame para es-
ses hipnimos. Segundo ele, os trs no se encaixavam em uma mes-
ma categoria, pois: Baleia e golfinho so bichos do mar, e o morcego
um inseto no ? Ele voa. Embora o informante saiba que os trs itens
pertencem categoria de animal, o nvel de categoria que ele queria
utilizar estava no nvel subordinado (mais especfico) e assim no era
possvel categorizar.
Tabela 2: Quantificao dos dados: MORCEGO, GOLFINHO e BALEIA
Informante Escolaridade
MCI
Acadmico
MCI no acadmico
EAM Baleia e golfinho so bichos do
mar, e o morcego um inseto.
OSS Animal
EOS 15 anos Animal
ELM 15 anos Animal
ELS 610 anos Animal
JAS 610 anos Animal
SIA Mais de 11 anos Animal
LLA Mais de 11 anos Animal
TOTAL 7 3
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
70
9.3 MERCRIO, VNUS E JPITER
A informante OSS (sem escolaridade) ativou o frame de rem-
dio ao ouvir a palavra Mercrio, no entanto, no ativou nenhum
frame ao ouvir as palavras Vnus e Jpiter, justificando: O resto eu
no sei no, viu? De maneira semelhante, o informante EOS (15
anos) ativou o frame remdio ao ouvir esses trs itens, provavel-
mente ativado pelo item Mercrio. A informante ELM (15 anos) se-
guiu a mesma linha de ativao dos outros informantes, mas, para ela,
o mais proeminente foi que, em um contexto geral, os itens ativados
por Mercrio, estariam dentro do hospital.
Nesse caso, percebemos claramente que, quando encaixamos
itens em uma determinada categoria, mesmo que inconscientemente,
tentamos encontrar uma ou mais caractersticas que pertenam a to-
dos os itens mencionados, estando evidente que a categorizao no
ocorre aleatoriamente, existe uma lgica interna. Possivelmente, se,
no lugar de Mercrio, tivssemos utilizado o termo Netuno, por exem-
plo, o frame ativado no seria o mesmo. Pois Mercrio ativado pelos
informantes no o planeta, e sim a Preparao farmacutica desti-
nada a destruir parasitas do corpo (AURLIO, 2002), no tendo esse
significado nenhuma semelhana com itens como: Vnus, Jpiter ou
Netuno.
Por meio do MCI acadmico, o informante EAM (sem escolarida-
de), ELS e JAS (610 anos) e LLA e SIA (mais de 11 anos) ativaram o
frame planeta.
Tabela 3: Quantificao dos dados: MERCRIO, VNUS e JPITER
Informante Escolaridade MCI Acadmico MCI no acadmico
EAM Planeta
OSS Mercrio: Remdio, Vnus e
Jpiter:
EOS 15 anos Remdio
ELM 15 anos Hospital
ELS 610 anos Planeta
JAS 610 anos Planeta
SIA Mais de 11 anos Planeta
LLA Mais de 11 anos Planeta
TOTAL 5 3
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
71
10 ANLISE DOS GRFICOS
Transformando os dados coletados em grficos, podemos reali-
zar algumas observaes, como as descritas abaixo.
Retirando as categorias verdura, transporte, famlia, jogo, bebi-
da, poltica, pas, mveis, artista, comida e escritor, que no foram ana-
lisadas neste trabalho, por limitaes de espao foram retiradas. O
grfico dos trs itens abordados (doce, animal, planeta) aparece como
a seguir representado:
Grfico 1: MCI acadmico e no acadmico dos dados analisados
Das seis respostas divididas nas trs categorias analisadas, cons-
tata-se que os indivduos no escolarizados admitiram duas respostas
enquadradas no MCI acadmico e quatro no MCI no acadmico. Os
indivduos de 15 anos encontram-se com duas respostas no MCI aca-
dmico e com quatro no MCI no acadmico. J os indivduos com 6
10 anos categorizaram os seis itens com o MCI acadmico. Por fim, os
informantes com mais de 11 anos de escolarizao categorizaram cin-
co itens no MCI acadmico e apenas uma resposta no est nesse MCI.
De acordo com o Grfico 1, percebemos que h uma relao dire-
ta entre a escolarizao e o enquadre de categorias dentro de um MCI
acadmico. Com relao aos MCIs no acadmicos, categorizar um
item dentro desse MCI significa que o indivduo ao fazer uma escolha
de classificao no considera uma pr-classificao existente na socie-
dade, e sim a relao das suas experincias individuais com aqueles
itens de classificao. A escolha da categoria feita automaticamente e,
em determinados casos, percebemos que o indivduo sabe em que MCI
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
72
acadmico est quele item, porm, o frame ativado, quando ouve as
palavras e as relaciona com as suas experincias, leva-o em outra dire-
o. Por exemplo, o informante SIA com mais de 11 anos de escolarida-
de provavelmente sabe que: quindim, brigadeiro e chocolate se enqua-
dram na categoria de doce, no entanto, ao ouvir essas palavras, o frame
de lanche foi muito mais proeminente a partir das suas experincias.
Para confirmar as nossas afirmaes, tomemos como base as tabelas de
repetio separadas por categorias e organizadas mediante os dados
analisados.
Tabela 4: MCI no convencionalizado de DOCE
CHOCOLATE, BRIGADEIRO E QUINDIM
Termo escolhido Nmero de repetio Escolaridade
Bom 0 Sem escolaridade
Presente 0 Sem escolaridade
Gostoso 0 1-5 anos de escolaridade
Comida 0 1-5 anos de escolaridade
Lanche 0 Mais de 11 anos de es-
colaridade
Tabela 5: MCI no convencionalizado de ANIMAL
MORCEGO, GOLFINHO E BALEIA
Termo escolhido Nmero de repetio Escolaridade
No h uma categoria.
Baleia e golfinho: bichos
do mar.
Morcego: inseto porque
voa.
0 Sem escolaridade
Tabela 6: MCI no convencionalizado de PLANETA
MERCRIO, VNUS E JPITER
Termo escolhido Nmero de repetio Escolaridade
Remdio 1 Sem escolaridade e 1-5
anos de escolaridade
Hospital 0 1-5 anos de escolaridade
Neste ponto, percebemos que, devido ao baixo ndice de repeti-
es, a maior parte dos frames ativados por esses informantes tem um
carter nico, emergido das experincias individuais.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
73
No momento em que utilizamos todas as categorias de anlise, o
grfico se configura da seguinte forma:
Grfico 2: MCI acadmico e MCI no acadmico dos dados coletados
Cada escolaridade nos proporcionou vinte e oito respostas divi-
didas em catorze categorias. evidente a relao do MCI acadmico
com a escolaridade dos informantes, esse MCI prevalece, embora a
diferena entre os MCIs aumente de acordo com o nvel de escolaridade.
Os informantes sem escolaridade apresentam: dezessete itens
acadmicos e onze no acadmicos. Os de 15 anos mostram que
quinze itens se enquadram no MCI acadmico e treze no. Dos infor-
mantes com mais escolaridade, essa diferena discrepante, os de 6
10 anos tm vinte e quatro categorias enquadradas no MCI acadmico
e dois no MCI no acadmico. Os com mais de 11 anos de escolaridade
tm vinte e trs itens no MCI acadmico e trs no no acadmico. Os
informantes com escolaridade mais baixa tendem a utilizar um MCI
no acadmico para organizar o conhecimento.
11 CONSIDERAES FINAIS
Os resultados da presente pesquisa indicam que h relao direta
entre escolaridade e ativao dos frames via Modelos Cognitivos Idea-
lizados convencionalizados, quando os indivduos categorizam. Entre-
tanto, necessrio mencionar que as palavras selecionadas interferi-
ram no processo de ativao dos frames. Se, no caso do MCI de plane-
tas, no estivesse Mercrio, muito provavelmente no teramos res-
postas como: Hospital ou remdio, pois a categorizao no feita
de forma aleatria. H uma relao entre os domnios que se estabele-
ce de maneira clara.
Thalita M. L. Aureliano, Jan E. R. Leite, Danielly L. Lopes & Mbia N. Toscano
74
Os dados provenientes da presente anlise mostram evidncias
que corroboram a hiptese inicial de a escolaridade ser fator determi-
nante para o tipo de categorizao feita pelo indivduo. O que confirma
o pensamento de que categorizamos sobre bases culturais, muitas ve-
zes etnocntricas.
Esses resultados, porm, so indcios de uma afirmao genrica.
preciso que se aprofundem os estudos aqui apresentados, de modo a
alargar o leque de informantes pesquisados, a fim de fortalecer a hip-
tese aqui defendida e, para isso, utilizar um nmero maior de catego-
rias lexicais. No podemos assegurar enfaticamente que essa relao
se estenda para a comunidade de uma forma geral, devido ao pequeno
grupo de informantes, mas com certeza esse o primeiro passo em
prol de pesquisas em torno da categorizao.
REFERNCIAS
AURLIO. O minidicionrio da lngua portuguesa. 4. ed. rev. e ampl. do minidicio-
nrio Aurlio. 7. impr. Rio de Janeiro, 2002.
FAUCONNIER, G.; TURNER M. Blending as a central process of grammar. In:
FELTES, Helosa. P. M. Semntica Cognitiva: ilhas, pontes e teias. Porto Alegre:
EdiPUCRS, 2007.
FERRARI, Lilian. Introduo Lingustica Cognitiva. So Paulo: Contexto, 2011.
FILLMORE, C. J. Frame Semantics. In: THE LINGUISTIC SOCIETY OF KOREA
(Org.). Linguistics in the morning calm. Seoul: Hanshin, 1982.
HORA, D.; PEDROSA, Juliene Lopes Ribeiro (Orgs.). Corpus do Projeto Variao
Lingstica no Estado da Paraba (VALPB). Joo Pessoa: Idia, 2001.
KOCH, Ingedore V. Coeso textual. So Paulo: Contexto, 2005.
LANGACKER, R. W. Foundations of cognitive grammar: Theoretical Prerequisites.
Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
LAKOFF, G. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago, 1980.
LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things. Chicago/London: The University
of Chicago Press, 1987.
LYONS, John. Linguagem e Lingustica uma introduo. Rio de Janeiro: LTC,
1987.
MARCUSCHI, Luiz A. Cognio, linguagem e prticas interacionais. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2007.
ROSCH, E. Cognitive representation of semantic categories. Cognitive Psychology,
4, p. 328-350, 1975.
SALOMO, Maria Margarida Martins. A questo da construo do sentido e a re-
viso da agenda dos estudos da linguagem. Veredas Revista de Estudos Lingus-
ticos, v. 3, n. 1, p. 61-79, jan./jun. 1999.
TAYLOR, John R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. 2
nd
ed. Oxford: Clarendon Press, 1995.
ESTUDO DAS CONSTRUES CONDICIONAIS
EPISTMICAS NA GRAMTICA COGNITIVA
Andra de Oliveira Gomes Martins
1
Fbio Lcio Gomes Barbosa
2
Jan Edson Rodrigues Leite
3
Auriclia Moreira Leite
4
1 INTRODUO
A Lingustica Cognitiva uma teoria lingustica que busca en-
tender a relao entre cognio e linguagem e prope modelos teri-
cos para estudar esse fenmeno. Diante dessa assertiva, propusemo-
nos a fazer uma investigao referente relao entre aspectos gra-
maticais e funes cognitivas como espaos mentais, mesclagem con-
ceitual e postura epistmica, tendo em vista que a linguagem possui
dimenso social e cognitiva. Essas funes podem ser identificadas
pelo entendimento da gramtica como um sistema de padres formais
no uso real da fala.
Neste trabalho, propomos destacar as Construes Gramaticais
baseadas em alguns postulados da Lingustica Cognitiva. Para isto, nos
embasamos nos estudos da Gramtica de Construes de Salomo
(2009). Vamos investigar a introduo dos Espaos Mentais e da Mes-
clagem Conceitual nas construes condicionais epistmicas e nas
construes condicionais contrafactuais. Na perspectiva cognitivista
no possvel tratar separadamente forma e significado, tendo em
1
Graduanda PIBIC/CNPq Universidade Federal da Paraba.
E-mail: andr3aogm@gmail.com
2
Mestrando UFPB/CAPES Universidade Federal da Paraba.
E-mail: bito-1@hotmail.com
3
Professor/Orientador Universidade Federal da Paraba.
E-mail: edson123@gmail.com
4
Graduanda PIBIC/CNPq Universidade Federal da Paraba.
E-mail: celialeite.educ@gmail.com
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
76
vista que cada construo o emparelhamento de uma estrutura sin-
ttica (forma) e um contedo semntico (sentido).
A partir desse aporte terico, demonstramos de que maneira os
itens gramaticais atuam na construo desses espaos, bem como no
processo de Mesclagem Conceptual que um desdobramento da teo-
ria dos Espaos Mentais proposto por Fauconnier (1994). Para isto,
partimos de uma reviso terica sobre o assunto abordado e utiliza-
mos, como exemplos, dados do corpus do Projeto Variao Lingustica
do Estado da Paraba VALPB (HORA; PEDROSA, 2001), que busca
traar o perfil lingustico do falar pessoense. O corpus constitudo de
uma amostragem do portugus falado na Paraba, coletado por meio
de entrevistas com 60 informantes dos sexos masculino e feminino de
diferentes nveis de escolarizao e de diferentes faixas etrias. Apre-
sentamos, em seguida, exemplos de cada uma das construes condi-
cionais que nos propusemos analisar.
Devido complexidade do corpus, escolhemos um recorte dos
dados, o qual demonstra, de maneira geral, como os informantes cons-
troem o sentido, e analisamos as variantes morfossintticas encontra-
das na fala da variedade lingustica pessoense, comparando-as s es-
truturas padro do Portugus Brasileiro.
Objetivamos observar a variabilidade morfossinttica levando
em considerao a necessidade que o falante tem de atuar contextual-
mente, modelando sua atividade lingustica a partir de motivaes
cognitivas. Por fim, demostramos os resultados da anlise realizada.
2 FUNDAMENTAO TERICA: TEORIA DOS ESPAOS MENTAIS
E MESCLAGEM CONCEITUAL
A Lingustica Cognitiva prope, entre outras premissas, que a
linguagem organiza processos que so entendidos como espaos men-
tais. Esses espaos so domnios conceptuais construdos com as
transferncias de informaes entre domnios e que servem para
compreenso de novos significados, ou seja, se ancoram em uma de-
terminada situao comunicativa. Uma das premissas da teoria dos
espaos mentais a de que os espaos formam operaes de corres-
pondncia entre domnios, sendo que essas operaes so indicadas
por estruturas lingusticas especficas.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
77
A maneira como pensamos e agimos, isto , como recortamos a
nossa realidade, estruturada por um sistema de conceitos que apre-
endemos e utilizamos de modo inconsciente. Segundo Fauconnier
(1994), a teoria dos Espaos Mentais prope que espaos so cons-
trudos medida que o discurso se desenvolve, e que espaos men-
tais representam estruturas construdas no nvel cognitivo.
Os construtores de Espaos Mentais nas construes gramaticais
so apresentados de formas variadas, como sintagmas preposicionais,
sintagmas adverbiais, marcadores de tempo e modo verbal. De acordo
com Ferrari (2010, p. 111), espaos mentais so, portanto, domnios
conceptuais locais que permitem o fracionamento da informao, dis-
ponibilizando bases alternativas para o estabelecimento da refern-
cia. Assim, alguns conceitos so utilizados para compreenso desses
espaos, que so as noes de domnios e projees. Quanto s proje-
es, segundo Rodrigues (2010, p. 72), as projees tm como funo
construir e ligar domnios. As projees entre domnios so essenci-
ais para o processo de mesclagem conceitual. A projeo conceptual
tem lugar entre espaos mentais, que so definidos como representa-
es temporrias construdas pelos falantes.
A mesclagem pode ocorrer no lxico, na sintaxe ou em situaes
comunicativas. Ainda de acordo com Rodrigues (2010, p. 79), a mes-
clagem no trata, portanto, apenas da projeo de um domnio fonte
em um alvo, como o mapeamento analgico, mas conduz a um nvel de
ao integrada, ou seja, a um novo domnio emergente. Com isso, a
mesclagem percebida em vrios processos da criao como na arte,
no humor, nas construes lingusticas, etc.
A mesclagem constituda de dois domnios (inputs 1 e 2) e um
terceiro domnio, denominado espao genrico, que define a corres-
pondncia entre os inputs, mais um quarto domnio, o espao-mescla,
que possui propriedades dos inputs, mas tambm apresenta proprie-
dades originais, resultando disso uma estrutura emergente, conforme
figura abaixo:
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
78
Figura 1: Diagrama bsico do processo cognitivo de mesclagem
3 GRAMTICA COGNITIVA E GRAMTICA DE CONSTRUES
De acordo com os tericos da Gramtica Cognitiva, o significado
construdo cognitivamente. Essa teoria tem como caracterstica mar-
cante investigar as diferentes perspectivas estabelecidas pelas estru-
turas lingusticas, tanto nos aspectos dinmicos da gramtica quanto
na forma como o falante codifica a linguagem.
A Gramtica de Construes uma das teorias da Lingustica
Cognitiva e tem como funo principal analisar a integrao entre es-
truturas lingusticas e processos cognitivos. Para cumprir esse objeti-
vo, a GC se baseia no pareamento formasignificado enquanto unida-
des simblicas que se sustentam no uso e tem como caracterstica a
esquematizao das estruturas lingusticas, as quais so recortadas
dos eventos de fala reais dos informantes. Em outras palavras, essas
construes so as unidades bsicas do conhecimento da linguagem.
O elemento crtico que levou postulao das Construes como
unidades bsicas da gramtica resultou da percepo de que, no ca-
so das expresses lingusticas reconhecveis como objetos analti-
cos, o todo no a soma das partes. (SALOMO, 2009, p. 39)
As construes so unidades simblicas baseadas no uso e tm
como caracterstica a abstrao ou esquematizao das estruturas lin-
gusticas recortadas dos eventos reais de comunicao.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
79
Podemos compreender a construo sinttica por intermdio da
gramtica de construes, visto que esta tenta explicar a construo
como um todo e no apenasse baseando em um item lexical.
No modelo de Goldberg (1995), uma construo gramatical defi-
nida como um par forma-significado, sendo que no se pode predi-
zer algum aspecto da forma ou do significado a partir das partes
componentes da construo ou de outras construes previamente
estabelecidas. (FERRARI, 2010, p. 135)
Nesse sentido, a Gramtica de Construes um sistema de co-
nhecimento que inclui os nveis morfolgicos, sintticos e lexicais. Se-
gundo Salomo (2009), construes so unidades bsicas do conhe-
cimento lingustico, ou seja, so as unidades bsicas da gramtica que
o conjunto de todas as construes de uma lngua.
Levando em conta que este trabalho baseado na perspectiva
sociocognitivista, optamos por analisar construes condicionais epis-
tmicas e construes contrafactuais.
As Construes Condicionais Epistmicas so construes que
exprimem uma dependncia semntica entre proposies e apresen-
tam aspectos particulares no pareamento entre forma e sentido. A
ideia de que o conhecimento de um evento representado na prtase
suficiente para formular a concluso expressa na apdose, podendo
ainda traduzir uma relao de causalidade entre os eventos da estru-
tura condicional e, ainda, ser caracterizado como postura negativa,
neutra ou positiva (Se chover, eles vo cancelar o passeio/ Se chovesse,
eles cancelariam o passeio/ Chovendo, eles vo cancelar o passeio).
A prtase a sequncia de contedo que mantm uma relao hi-
errquica de dependncia com a apdose que possui proposicional-
mente o contedo semntico de uma determinada sentena. Essa rela-
o de causalidade permite a ligao dos elementos dentro do dom-
nio condicional. Assim, a construo condicional aquela na qual o
mundo real especificado epistemologicamente. Nesse tipo de cons-
truo, a relao entre prtase e apdose decorre do fato de que
enunciado uma generalizao que remete a um mundo acessvel, ou
seja, o mundo real.
As formas verbais podem sinalizar postura epistmica. De acordo
com Bezerra (2009), alm de sinalizar postura epistmica, as formas
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
80
verbais podem tambm sinalizar o movimento de distanciamento do
enunciador em relao ao evento da apdose. Neste domnio epist-
mico, as condicionais expressam a ideia de que o conhecimento do
evento ou estado de coisas expresso na prtase seria uma condio
suficiente para determinar a concluso expressa na apdose. Em ou-
tras palavras, a prtase exprime uma condio proposicional na ap-
dose em que o nexo entre ambas as proposies se d na localizao
temporal dos estados de coisas descritos em construes hipotticas
futuras. Nesse tipo de construo os verbos esto localizados no mes-
mo perodo de tempo sejam eles presente, passado ou futuro. Tendo
em vista que a prtase pode iniciar por se, caso, no caso de, etc. Assim,
as condicionais podem expressar a ideia de que o conhecimento do
evento ou estado de coisas expresso na prtase seria uma condio
para determinar a concluso expressa na apdose.
As Construes Condicionais Contrafactuais estabelecem uma
relao geral entre as proposies que se verificam no mundo no real
ou irreal. Assim, a prtase verifica-se num mundo alternativo em que
no mesmo intervalo de tempo sua negao se verifica no mundo real.
Ou seja, a contrafactualidade remete para um intervalo de tempo pas-
sado no qual estabelece ou pode estabelecer uma relao entre duas
proposies, que aludem a um mundo impossvel. Assim, a contrafac-
tualidade pode ser um processo de comparao entre o domnio do
desejo do falante e do domnio da vida real. Ressaltando as diferenas,
essas construes so fatos postulados em outro domnio que no o da
realidade, por exemplo:
(i) Se eu fosse voc, eu me contrataria.
Nesse tipo de construo pode ocorrer, na prtase, o modo tem-
poral pretrito imperfeito do subjuntivo, que situa o estado de coisas
descritos no passado fosse, e na apdose, o modo temporal pode es-
tar no futuro do pretrito contrataria, em que os estados de coisas
no esto localizados temporalmente. Na linguagem, essa construo
mostrada mediante diferentes mecanismos cognitivos, como por
exemplo, a mesclagem e os espaos mentais.
No existem estruturas condicionais rgidas, formas prontas, nas
quais o significado temporal ou contrafactual deva ser encaixado.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
81
Existem esquemas sintticos dos quais o falante lana mo para
construir a forma lingustica que melhor consiga expressar o con-
ceito que ele traz consigo. (MEIRELES; BEZERRA, 2009, p. 174)
Em construes desse tipo, as formas verbais podem indicar dis-
tanciamento epistmico dependendo do posicionamento do enuncia-
dor. Ou seja, o movimento de distanciamento do enunciador em rela-
o ao evento da apdose sinaliza esse distanciamento, isso pode
ocorrer a partir do grau de ligao de causalidade entre prtase e
apdose.
4 ANLISES DAS OCORRNCIAS
Definidas as caractersticas bsicas para a compreenso das
construes que nos propomos estudar, passaremos s anlises apon-
tando suas particularidades.
Ao levantarmos os dados, observamos que nas ocorrncias das
Construes Contrafactuais, as formas verbais servem para indicar a
relao do falante com aquilo que ele expressa.
Informante: 3 Anos de escolarizao: 1 a 4
Sexo: Masculino Faixa etria: 15 a 25 anos Linhas: 153-157
A o professo cham tudo a ateno, dizeno que na hora de tra-
balho pra trabalha, no pra cachorrada. A eu expliquei a ele que
quem tava comeano com as cachorrada foi ele, ento eu sem t
brincano, ele pego e me empurro. A, eu me segurei ainda no
andame, sorte minha tambm foi o cinto, puque o cinto tava tra-
vado no ferro, mays se ele no tivesse travado no ferro, eu tinha
descido com tbua com tudo, a gente.
Nessa construo encontramos a relao de um enunciador e um
enunciado. O uso da forma pretrito imperfeito do subjuntivo tives-
se, indica tratar-se de um contrafato, ou seja, um fato que pertence a
um domnio que no o da realidade. O falante verifica qual a melhor
maneira de expressar o que ele idealiza ou conceptualiza no esquema
sinttico, uma vez que tenta expressar o mundo no como ele , mas
como ele o concebe. Trazendo para a teoria dos espaos mentais, os
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
82
indicadores lingusticos ou construtores de espaos mentais introduzem
as marcas de diferena entre um espao e outro. Nesse caso, uma condi-
cional no pretrito (se tivesse) o operador que introduz a postura
epistmica da contrafactualidade na prtase, e essa mesma postura
utilizada na apdose.
Sem: CAUSARSUPOR < agente paciente beneficirio >
R: < >
PRED
Sint: V Suj. Obl. Obj.
Figura 2: Diagrama de construo de movimento causado
Informante: 4 Anos de escolarizao: 1 a 4
Sexo: Masculino Faixa etria: 15 a 25 anos Linhas: 88-95
Olhano o meu quadro assim da minha pessoa que eu s uma
pessoa muito necessitada tambm, eu, se eu pudesse, ajudaria to-
dos necessitados. tanto que s veze quano eu v ao centro,
qualqu coisa assim, que'u passo por uma pessoa que no tem
condio que me pede uma esmola, quano eu no tenho condio
de ajud, eu fico assim um pco sentido, porque no pude ajud
aquela pessoa, no porque eu no quis, mays porque eu no pu-
de. E infelizmente, existe muitas pessoas hoje em dia que pode,
mays no ajuda porque no d val, acha que j tem muita coisa e
num d nenhum val quela pessoa aqui no tem, mas eu sei que
muitas passa, porque tambm eu passo por esse processo, ento,
se eu pudesse eu ajudaria muito a: parte pobre do nosso Bra-
sil.
A construo condicional (2) contrafactual introduzida pela
conjuno se, e determina uma relao de causalidade entre a pr-
tase, que estabelece condio para afirmar o que se encontra na ap-
dose. Como esse tipo de construo busca ressaltar diferenas, obser-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
83
vamos a inteno do falante ao utiliza o pretrito imperfeito do sub-
juntivo se eu pudesse, indicando que o evento contrrio s expec-
tativas do informante. Nesse caso, um espao mental hipottico
construdo, assim, o falante apresenta uma postura que se distancia da
realidade. O uso da forma verbal passada indica um evento tomado
como fato. Assim, o impedimento encontrado na prtase contraria a
forma verbal futura ajudaria, encontrado na apdose.
Informante: 4 Anos de escolarizao: 1 a 4
Sexo: masculino Faixa etria: 15 a 25 Linhas: 193-201.
Bom, se: eu tivesse um pai compreensivo, um pai que realmente
desse val ao filho, um pai que realmente : considerasse + Eu te-
nho certeza que hoje eu tinha um bom relacionamento memo,
teria uma vida muito boa, porque por no <ter:> criado pelo meu
pai, eu sempre fui um moo que dependi de mim mesmo, por
tra da ajuda de algumas pessoas que eu tenho a mai aproxima-
o. Porque eu sempre trabalhei pra mant a minha pessoa, sem-
pre fi muito as coisa pra mim. Tudo em geral eu sempre fi pra
mim, qu diz hoje, : se eu tivesse um pai eu tinha um bom rela-
cionamento, como no tenho + um bom, uma boa vida, eu acho, po-
dia no t tambm, mas optava pelo lado de t, mas como no te-
nho pai hoje passo por algum processo, porque no conheo o meu
pai. (VALPB, 2001)
Neste exemplo de construo contrafactual (3), a construo
condicional introduzida pela conjuno se, a qual determinante
para observar a relao de causalidade entre a prtase que estabelece
condies especficas para afirmar o que se encontra na apdose. Com
isso, o falante utiliza o modo temporal pretrito imperfeito do subjun-
tivo se eu tivesse, indicando que o evento contrrio s suas expec-
tativas, tratando-se de um contrafato, ou seja, um fato que pertence a
um domnio que no o da realidade. Nesse caso, um espao mental hi-
pottico construdo e o falante assume uma postura que se distancia
totalmente da realidade.
O uso da forma verbal passada indica um evento tomado como
fato. Com isso, o impedimento situado na prtase contraria a forma
verbal futura teria, encontrado na apdose. Dessa forma, o falante
verifica qual a melhor maneira de expressar o que ele idealiza ou con-
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
84
ceptualiza no esquema sinttico, uma vez que o falante tenta expressar
o mundo no como ele , mas como ele o concebe. O significado dessa
sentena envolve um mapeamento do espao real em que eu desejaria
ter um pai compreensivo, para um espao contrafactual em que a dis-
posio do falante e no sua situao foi transferida para o ouvinte. Essa
construo sinttica sinaliza uma relao em que os eventos 1 e 2 se
mesclam, estabelecendo um mapeamento entre domnios.
Eu1 Eu2
Pai1 Pai2
Input 1 Input 2
Eu
Pai
Mescla
Figura 3: Diagrama do Domnio Contrafactual
Observamos nas ocorrncias das Construes Epistmicas que
estas possuem uma relao de causalidade entre os eventos da estru-
tura sinttica, ou seja, h uma causalidade entre a prtase e a apdose.
Informante: 8 Anos de escolarizao: 9 a 11
Sexo: Masculino Faixa etria: 15 a 20 Linhas: 648-653.
De manh eu estudo, tarde eu fao Educao Fsica, depois da
educao fsica eu estudo. Quando tem ensaio de cinco e meia,
como t sen0o agora, a eu, e:u: v0, ensaio at, vamo0 dize0, at se-
te, sete e meia, quan0o chego em casa s veze0 no d tempo es-
tud0, eu num estudo, mays eu estudo j depois da Educao Fsica
j por causa disso. Sempre assim. De Segunda + Sexta de manh
aula; Segunda, Tera e Quinta tarde a Educao Fsica, eu estudo e
fao o ensaio, e no Sbado tarde v0 ao teatro mays volto cedo.
(VALPB, 2001)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
85
Nessa construo (4), o marcador quando, apresenta uma rela-
o de causalidade, em que um conhecimento prvio do falante, leva-o
a uma concluso especfica. Como podemos observar nessa estrutura
sinttica, o fato de o falante no ter tempo para estudar quando chega
a sua casa, por frequentar a escola pela manh e praticar Educao
Fsica tarde, nos leva a considerar uma postura epistmica temporal,
em que a relao de causalidade pautada pelo conhecimento prvio
do enunciador, no qual o posicionamento epistmico deste caracte-
rizado pela postura positiva. Nesse caso temos a relao CAUSAR-
-SUPOR.
Conforme a marcao verbal utilizada na construo o presen-
te do indicativo chego percebemos que o enunciador considera o
enunciado como fato. Assim, as construes condicionais epistmicas
estabelecem uma relao de correspondncia entre a prtase e a ap-
dose, em que o falante demonstra convico a respeito do evento ex-
presso na construo sinttica em si, tornando-a assim, uma estrutura
semntica condicional epistmica. De acordo com Bezerra (2009, p.
155) construes temporais so interpretadas como construes
condicionais, se a relao de temporalidade que representam passa a
expressar uma relao genrica de causa possvel do evento subse-
quente pelo evento antecedente. Assim, existe uma relao causal en-
tre os eventos da estrutura condicional epistmica.
Sem: CAUSARSUPOR < agente paciente beneficirio >
R: < >
PRED
Sint: V Suj. Obl. Obj.
Figura 3: Diagrama de construo de movimento causado
Informante: 3 Anos de escolarizao: 1 a 4
Sexo: Masculino Faixa etria: 15 a 25 Linhas: 232-237
Andra de O. G. Martins, Fbio L. G. Barbosa, Jan E. R. Leite & Auriclia M. Leite
86
A gente brincava na rua assim, mays, comparao, [a gente tinha ot]
eu e meus irmo tinha medo, sabe? do meu pai, porque, compa-
rao, a gente brincava no mei da rua, quando ele apontava na
esquina a gente corria com medo dele, que ele no queria a gente
no mei da rua. Comparao, ele queria assim, que a gente, assim
desse [pa vid] pa gente, mais tarde. Ento ele butava em cima da
gente, a gente tinha medo. A por isso que eu digo que a gente
no tinha essa liberdade que hoje em dia essas criana tem.
(VALPB, 2011)
As construes epistmicas condicionais que possuem em sua
estrutura o marcador temporal quando, apresentam uma relao de
causalidade, ou seja, evidenciam que o conhecimento prvio do falante
o conduz a uma concluso especfica. No relato, quando o pai se apro-
ximava de casa, todos corriam com medo. Observamos nessa estrutura
sinttica uma situao que nos leva a consider-la uma postura epis-
tmica temporal. A relao de causalidade pautada pelo conheci-
mento prvio do enunciador, e o posicionamento epistmico deste
caracterizado pela postura positiva. Nesse caso temos a relao
CAUSAR-MOVER.
Existe uma relao causal entre os eventos da estrutura condici-
onal epistmica, que se traduz na utilizao verbal da construo o
pretrito imperfeito do indicativo apontava. Percebemos que o
enunciador considera o enunciado como fato. Assim, as construes
condicionais epistmicas estabelecem uma relao de correspondn-
cia entre a prtase e a apdose, na qual o falante est convicto do que
ele relata.
Sem: CAUSARSUPOR < agente paciente beneficirio >
R: < >
PRED
Sint: V Suj. Obl. Obj.
Figura 4: Diagrama de construo de movimento causado
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
87
5 CONSIDERAES FINAIS
As anlises desenvolvidas pelo presente estudo constituem uma
amostragem das construes condicionais e gramaticais do Portugus
Brasileiro, com base nos postulados da Lingustica Cognitiva. Procu-
ramos focalizar a variabilidade morfossinttica na construo do sen-
tido dos falantes estudados.
Verificamos que h relao entre as construes sintticas con-
dicionais aqui tratadas. Enquanto a conjuno se sinaliza uma nego-
ciao para a introduo dos espaos mentais condicionais, o uso de
quando indica que estes espaos j foram negociados anteriormente,
tendo em vista que esta uma das formas que o enunciador tem para
marcar a estrutura epistmica por meio da forma verbal. E ainda que
os verbos utilizados no ocorram na variedade padro da lngua, em-
bora se reconhea sua utilizao no dialeto falado por pessoas de pou-
ca escolaridade.
Nossa pretenso foi analisar as variantes morfossintticas en-
contradas no falar pessoense comparando-as com as estruturas do
Portugus Brasileiro padro, levando em considerao a necessidade
que o falante tem de atuar contextualmente, modelando sua atividade
lingustica a partir de motivaes cognitivas.
REFERNCIAS
FAUCONNIER, Gilles. Mental spaces: aspects of meaning construction in natural
language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
FERRARI, L. V. Introduo lingustica cognitiva. So Paulo: Contexto, 2011.
FERRARI, L. V. Postura epistmica, ponto de vista e mesclagem em construes
condicionais na interao conversacional. Veredas, (UFJF), Juiz de Fora, v. 3, n. 4,
p. 115-128, 1999.
HORA, Dermeval da; PEDROSA, Juliene Lopes Ribeiro (Orgs.). Projeto Variao
Lingustica no Estado da Paraba. Joo Pessoa: Ideia, 2001. v. I, II, III, IV e V.
MEIRELES, F. A. R.; BEZERRA, W. S. Um estudo sobre construes condicionais
no PB. In: MIRANDA, N. S.; SALOMO, M. M. M. (Orgs.). Construes do portugus
do Brasil: da gramtica ao discurso. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009. p.
150-176.
RODRIGUES, Jan Edson. Conceptualizao na linguagem: dos domnios cognitivos
mente social. Joo Pessoa: Editora Universitria UFPB, 2010.
SALOMO, M. M. M. Tudo certo como dois e dois so cinco: todas as construes
de uma lngua. In: MIRANDA, Neusa Salim; SALOMO, Maria Margarida Martins
(Orgs.). Construes do Portugus do Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2009. p. 33-74.
TORRENT, T. T. A Construo de Dativo com Infinitivo. In: MIRANDA, Neusa Sa-
lim; SALOMO, Maria Margarida Martins (Orgs.). Construes do Portugus do
Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2009. p. 122-149.
A SEGUNDA ABOLIO NO BRASIL:
A PROJEO DE DOMNIOS DA EXPERINCIA
NA CONSTRUO DE SENTIDO
Vincius Nicas
1
Nossas representaes so projees de um mundo elaborado men-
talmente na base de experincias no apenas individuais, mas socia-
lizadas e constitudas em discursos. Trata-se da linguagem como
forma de ao social para constituir um sentido pblico usando a
lngua. (MARCUSCHI, 2007b, p. 40)
1 INTRODUO
A luta dos trabalhadores por melhores condies de trabalho,
salrios e benefcios tem sido algo constante nas sociedades ao longo
dos anos. Hodiernamente, a sociedade brasileira vivenciou um desses
captulos: a aprovao da PEC (Projeto de Emenda Constituio) que
concede diversos direitos aos empregados domsticos. Essa ao foi
conceituada metaforicamente como a segunda abolio do Brasil.
As metforas esto presentes em todos os discursos, esferas, n-
veis e domnios da sociedade, como integrante das mais diversas pr-
ticas, concebidas como operaes lingustico-cognitivas essenciais pa-
ra a atuao do ser humano na sociedade, contribuindo para a cons-
truo discursiva, para o entendimento de mundo e para compreen-
der um discurso, devemos compreender as metforas e as teorias so-
ciais usadas para estrutur-lo (LAKOFF, 1985, p. 60).
Nessa perspectiva, a elaborao metafrica realizada sob a tica
desse momento/movimento histrico, poltico e social do Brasil apre-
senta uma forma de perceber como a sociedade observa e conceitua o
1
Mestrando em Lingustica no Programa de Ps-Graduao em Letras da Universidade
Federal de Pernambuco. E-mail: viniciusniceas@hotmail.com
Vincius Nicas
90
mundo. Tal realizao propicia a produo discursiva de uma socieda-
de (ou um grupo social) de uma maneira particular. Observaremos, a
seguir, algumas questes sobre a construo dessa metfora e do dis-
curso produzido a partir dela.
2 TRATANDO DA TEORIA DA METFORA CONCEPTUAL
A teoria da Metfora Conceptual, desenvolvida por Lakoff e John-
son (2002), busca compreender a influncia das metforas na lingua-
gem humana, bem como no pensamento e nas aes, a partir da asser-
tiva de que o ser humano possui um sistema conceptual metafrico
que subjacente linguagem. As metforas so compreendidas como
um recurso de pensamento (logo, um aparato cognitivo) que nos faz
falar, ver e agir sobre determinados fenmenos de uma maneira e no
de outra (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 29). A metfora , ento, uma
metfora conceptual: um processo mental de representao que pos-
sibilita ver um domnio da experincia em termos de outro.
A materialidade textual desse processo mental de elaborao
metafrica denominada expresso lingustica metafrica (ELM), ou
seja, a realizao lingustica de uma metfora conceptual. a relao
e/ou projeo de elementos do domnio fonte e do domnio alvo que
constitui a elaborao de uma determinada metfora conceptual e a
compreenso das expresses lingusticas metafricas. Tambm, im-
portante salientar que uma mesma metfora conceptual pode orientar
diversas expresses lingusticas metafricas distintas.
Lakoff e Johnson (2002) organizam as metforas conceptuais a
partir das experincias que se vivencia, sinalizando que cada metfora
relacionada com as experincias vivenciadas, no podendo ser as
mesmas em contextos sociais e/ou culturais distintos. A tipologia das
metforas dividida em trs grupos, a saber: (i) as metforas orienta-
cionais, (ii) as metforas ontolgicas e (iii) as metforas estruturais, as
quais se baseiam na orientao corporal no espao; nas relaes de
entidade, recipiente e pessoa; e nos usos de um conceito para estrutu-
rar outro, respectivamente.
Marcuschi (2007a, p. 120) chama a ateno para a anlise da
atividade cognoscitiva humana, considerando a possibilidade de cria-
o no mundo por meio da linguagem, isto , enfatiza a necessidade de
ver mais o processo do que o produto. Tal perspectiva relevante
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
91
para analisar a relao estabelecida entre pensamento e linguagem,
pois nessa relao que se desenvolvem os discursos.
Nesse direcionamento terico, a elaborao de metforas um
processo constitutivo das prticas do discurso. Segundo Ferro ([s.d.],
p. 13), a anlise de metforas permite verificar que nos apoiamos em
modelos do mundo concreto para conceptualizar fenmenos abstratos
e que a metfora lingustica s concretizada porque existem metfo-
ras no nosso sistema conceptual. com este princpio que desenvol-
vemos nossa anlise.
3 ACD E A NOO DE ACESSO DISCURSIVO
Os estudos investigativos na Anlise Crtica do Discurso (ACD)
tm tratado de diversos aspectos como a ideologia, o poder, o abuso
de poder, o controle e o acesso discursivo, observando a conexo entre
a fala cotidiana por um lado e a produo e manuteno dos sistemas
de poder, desigualdade e injustia, e a resistncia a esses sistemas, por
outro
2
(VAN DIJK, 2001, p. 266). Ou ainda, a ACD visa construir uma
base cientfica para investigaes da vida social que almejam contri-
buir para a superao de relaes de dominao (RESENDE;
RAMALHO, 2006, p. 24).
fundamental observar que os grupos sociais que so conside-
rados dominantes exercem poder no discurso, perpetuando suas
aes na relao que e estabelece entre dominante e dominado, bem
como exercem poder sobre o discurso, controlando as aes daqueles
que esto sob sua dominao. Ao discutir sobre o acesso mdia por
parte dos grupos sociais em dominao, Van Dijk (2001) trata de um
controle discurso. Falcone (2005, p. 21) afirma que a anlise sobre o
acesso que dado aos grupos e aos seus discursos tem que levar em
conta as classes sociais, os papis das instituies envolvidas, as rela-
es de poder existentes nesta sociedade e as organizaes discursi-
vas dentro desse contexto.
, nesse sentido, indispensvel a anlise de como o grupo bene-
ficiado com a aprovao dessa emenda constitucional, que um grupo
sob dominao, teve acesso ao espao discursivo nessa cobertura da
2
[...] la conexin entre el habla cotidiano por un lado y la produccin y mantenimiento de
los sistemas de poder, desigualdad y injusticia, y la resistencia a esos sistemas, por el
otro. (Traduo livre do autor).
Vincius Nicas
92
aprovao da PEC das domsticas, pois os grupos possuem (maior ou
menor) poder se forem capazes de exercer (maior ou menor) controle
sobre os atos e as mentes dos (membros de) outros grupos (VAN
DIJK, 2008, p. 117). Nessa perspectiva, consideramos que controlar o
acesso dos grupos sociais ao discurso vital para o controle das aes
de tais grupos e a falta de acesso desses grupos dominados um dos
aspectos mais evidentes da dominao.
4 ANLISE DAS NOTCIAS
A metfora da segunda abolio, veiculada pelo Correio Brazilien-
se, traz tona um conhecimento prvio, scio-histrico, compartilhado
socialmente como domnio fonte. Van Dijk (2008, p. 117) afirma que a
cognio, pessoal e social, compe o uso da linguagem, no que mem-
rias, conhecimentos e opinies pessoais, bem como aqueles comparti-
lhados com os membros do grupo ou da cultura como um todo so
acionados e, no caso das metforas, projetados em outros domnios.
Esses tipos de cognio influenciam a interao e o discurso dos
membros individuais, enquanto que as representaes sociais com-
partilhadas governam as aes coletivas de um grupo (VAN DIJK,
2008, p. 117). Acreditamos que esse nvel das representaes sociais
que possibilitou a projeo de domnios, construindo a relao entre
escravos e trabalhadores domsticos.
A relao entre domnio fonte e domnio alvo e a projeo entre
domnios o que licencia as expresses lingusticas metafricas. A me-
tfora conceptual LEI ABOLIO tomada como a projeo que li-
cencia as expresses lingusticas nessas notcias. A realizao dessa
metfora conceptual se d pela organizao estrutural A B, sendo o
elemento A o domnio fonte e o elemento B o domnio alvo. Essas me-
tforas permite-nos fazer mais do que simplesmente orientar concei-
tos, referirmo-nos a eles, quantific-los etc. [] elas nos permitem
usar um conceito detalhadamente estruturado e delineado de maneira
clara para estruturar um outro conceito (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p.
134-135).
Nesse direcionamento, a relao entre a aprovao da PEC das
domsticas pode ser metaforizada como uma abolio, pois se trata de
um acontecimento histrico de grande importncia para o pas. Essa
a caracterstica salientada com a metfora conceptual, que foi projeta-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
93
da nas expresses lingusticas metafricas. A metfora conceptual LEI
ABOLIO organizou o pensamento e licenciou expresses lingusti-
cas como: (i) Brasil aprova, enfim, a segunda abolio [a PEC das do-
msticas] [Correio Braziliense, manchete de capa, 27.03.2013] e (ii)
a aprovao da PEC pode ser considerada a correo de uma injusti-
a [NOTCIA 1, 27.03.2013].
A projeo de domnios se realiza mediante a relao entre a as-
sinatura da lei que libertava os escravos e a assinatura da emenda
constitucional que concedeu direitos aos trabalhadores domsticos.
Essa relao se d na medida em que as metforas salientam aspectos
que tem importncia na nossa cultura, pois o que elas enfatizam cor-
responde de maneira muito prxima ao que experienciamos e ao
mesmo tempo que so fundamentais em nossas experincias fsicas e
culturais, elas tambm fundamentam nossas experincias e aes
(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 141).
A projeo fica clara no s nas expresses metafricas licencia-
das, mas tambm no prprio discurso, direto e indireto, dos atores so-
ciais, retomando o acontecimento histrico que se configura no dom-
nio fonte, como podemos ver nos excertos que seguem:
(1) Especialistas em direito trabalhista avaliam que a aprovao da
PEC pode ser considerada a correo de uma injustia que vem
desde 1945, quando a categoria foi discriminada pela Consolidao
das Leis do Trabalho (CLT) e, posteriormente, pela Constituio de
1988. Entre eles, h um consenso de que a tendncia que o Brasil
siga os passos dos pases desenvolvidos, onde ter uma empregada
em casa, devido aos altos custos trabalhistas, se tornou h muito
tempo um luxo restrito aos mais abastados. [NOTCIA 1, 27.03.2013]
(2) Antonino Ferreira dos Santos fixou-se em Braslia 20 anos atrs,
quando acabou conseguindo um emprego de caseiro em uma casa
no Lago Norte Fazia de tudo. Eu era tipo um escravo, define ele,
relembrando que chegava a trabalhar aos domingos e feriados, sem
ganhar nada a mais por isso. [NOTCIA 11, 31.03.2013]
(3) O senador frisou que os benefcios (44 horas semanais de traba-
lho, seguro-desemprego, hora extra, salrio compatvel) vo gerar
custos aos empregadores, mas que so necessrios para garantir os
mesmos direitos a todos trabalhadores. Assim como a liberdade
tem um preo, a igualdade tambm tem um preo. Por fim, Calhei-
ros disse que esse um processo que comeou h 125 anos com a
lei urea e s foi encerrado agora. [NOTCIA 19, 02.04.2013]
Vincius Nicas
94
Podemos perceber, nos trs exemplos, que independentemente
do ator social, seja o jornalista (1), seja um trabalhador domstico (2)
ou uma autoridade poltica (3), a relao estabelecida com o conheci-
mento compartilhado que possibilitou a projeo de domnios se man-
tm, pois essas as representaes sociais compartilhadas governam
as aes (VAN DIJK, 2008).
importante ressaltar que as questes tratadas nas duas aboli-
es so distintas: a primeira abolio concedeu liberdade aos escra-
vos; a segunda concede igualdade de direitos aos trabalhadores do-
msticos. Os escravos conseguiram ser livres, mas no obtiveram con-
dies de sobrevivncia adequada
3
. Os trabalhadores domsticos con-
seguiram igualdade perante os demais trabalhadores, o que no os
isenta de problemas e conflitos nas relaes de trabalho.
Outro aspecto relevante que na metfora Brasil aprova, enfim,
a segunda abolio, alm apontar a necessidade da abolio, perce-
be-se que a afirmativa da necessidade e da espera pela aprovao des-
sa lei (emenda constitucional) se materializa linguisticamente no uso
do item lexical enfim, o qual denota o trmino de uma expectativa.
Organizando, sinteticamente, as relaes que se estabeleceram
na projeo de domnios, temos o seguinte quadro.
Quadro 1: Comparao entre as duas abolies no Brasil
QUADRO COMPARATIVO DAS ABOLIES NO BRASIL
PRIMEIRA ABOLIO
Maio/1888
SEGUNDA ABOLIO
Maio/2013
FAVORECIDOS Escravos Empregados domsticos
EFETIVAO Lei urea Proposta de Emenda Constitucional
AUTORIDADE Princesa Isabel Senador Renan Calheiros
BENEFCIOS Liberdade Igualdade de direitos
Alm da metfora da segunda abolio, a expresso emenda
constitucional da igualdade tambm foi utilizada nesses discursos. Se
LEI ABOLIO e essa aprovao concedeu igualdade de direitos aos
trabalhadores domsticos, ento podemos compreender tambm que
LEI IGUALDADE e que ABOLIO IGUALDADE.
3
O Estado brasileiro no se preocupou em oferecer condies de vida para os
ex-escravos. A maioria dos negros encontrou grandes dificuldades para conseguir em-
pregos e manter uma vida com o mnimo de condies necessrias.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
95
Isso nos permite perceber o novo sentido construdo para a re-
lao de trabalho dessa classe. A mudana de perspectiva que se de-
senvolveu em relao primeira abolio, que concedeu liberdade, e a
segunda abolio, que concede igualdade est, assim, conceptualmente
construda.
No tocante ao acesso discursivo, observamos que durante o pro-
cesso de aprovao e promulgao da emenda, diversas autoridades
tiveram acesso ao espao discursivo numa tentativa de minimizar as
possveis interpretaes e posicionamentos da sociedade. E, como
apontou Van Dijk (2008, p. 119), entre muitos outros recursos que
definem a base de poder de um grupo ou instituio, o acesso comu-
nicao e ao discurso pblico ou o controle exercido sobre esses ele-
mentos representam um importante recurso simblico, como no caso
do conhecimento e da informao. Os atores que obtiveram acesso ao
espao discursivo apontaram, predominantemente, que as diversas
mudanas que sucedem a aprovao da PEC reorganizariam as rela-
es entre patres e empregados e construiriam, assim, novo rumo
para a profisso.
Nas vinte notcias que formaram o corpus, vinte e quatro atores
sociais tiveram acesso ao espao discursivo, sendo vinte e dois de
forma direta e dois de forma indireta. A quase totalidade dos atores
trazidos para as notcias so autoridades polticas e jurdicas ou exer-
cem influncia na sociedade (advogados, analistas, polticos, professo-
res universitrios).
Observamos que, exceo dessas autoridades j mencionadas,
apenas um ator social na condio de empregador teve acesso ao es-
pao discursivo [NOTCIA 8, 29.03.2013] e apenas dois empregados
domsticos tiveram espao no discurso miditico [NOTCIA 11,
31.03.2013], salientando que nenhum desses empregados era do sexo
feminino nem trabalhador domstico no sentido estrito do termo
(eram um motorista e um jardineiro), especificidades que generalizam
os beneficirios da lei, ou seja, as empregadas domsticas.
Organizando esses dados, propomos o seguinte grfico:
Vincius Nicas
96
Grfico 1 Atores sociais com acesso discursivo
88%
4%
8%
ATORES SOCIAIS COM ACESSO
DISCURSIVO
AUTORIDADES EMPREGADORES TRABALHADORES DOMSTICOS
Com a anlise desses acessos discursivos, podemos perceber
que o discurso reverberado pode ser entendido como uma tentativa
de minimizar as possveis interpretaes e posicionamentos da socie-
dade a respeito do tema, no qual as autoridades salientaram a impor-
tncia da aprovao da PEC das domsticas e os benefcios que os tra-
balhadores domsticos adquiriram. Das 21 autoridades, apenas qua-
tro sinalizaram possveis dificuldades provenientes da aprovao da
PEC. Tambm, autoridades que tiveram participao direta na aprova-
o da emenda, como o ministro do trabalho e a ministra do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) tiveram acesso em vrias notcias.
Outro aspecto que merece destaque que a ministra do TST, De-
lade Arantes, foi apresentada, por meio de apostos, como uma mulher
que j trabalhou como empregada domstica, recurso constante nas
variadas notcias que a ministra teve acesso ao espao discursivo:
[Para] Delade Miranda Arantes, ex-empregada domstica, a ampliao
dos direitos desses trabalhadores ser uma questo de adaptao
[NOTCIA 15, 02.04.2013], o que sinaliza que essa autoridade, por tal
caracterstica pessoal, direcionada a posicionar-se a favor desse
grupo social e da concesso dos direitos trabalhistas.
No discurso do empregador, notou-se uma adequao s novas
regras, ao que se espera dos demais empregadores, e uma preocu-
pao com a relao trabalhista a partir dessa nova realidade: Apesar
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
97
de garantir que cumprir todas as obrigaes, Pena pessimista e
acredita que muitas pessoas deixaro de pagar os direitos dos traba-
lhadores [NOTCIA 8, 29.03.2013]. O acesso apenas desse discurso,
na categoria dos empregadores, sinaliza de que maneira se espera a
compreenso da posio de empregador nessa nova realidade social.
J no discurso do empregado domstico, observamos que a rela-
o entre os domnios tambm foi construda e os aspectos salienta-
dos pela metfora foram assumidos, visto que ele afirmou que traba-
lhava como um escravo [NOTCIA 11, 31.03.2013]. A relao de tra-
balho entre as abolies estabelecida e compreendida na projeo.
Esse acesso aponta a realidade que os trabalhadores domsticos vi-
venciavam, bem como a identificao desses com a metfora.
5 ALGUMAS CONSIDERAES (FINAIS)
A metfora funda-se na capacidade criadora e um pensamen-
to concreto e sem capacidade generalizadora (MARCUSCHI, 2007a, p.
130). Na esteira dessas afirmaes que percebemos a metfora da
segunda abolio como construo de sentido histrico e culturalmente
situada, a qual d conta da experincia que se vive e realizvel pela
criatividade inerente ao ser humano para a prtica da linguagem.
Assim, a elaborao lingustica metafrica da segunda abolio,
por meio da metfora conceptual LEI ABOLIO, permitiu uma
construo de sentido que identifica os trabalhadores domsticos de
maneira particular e posiciona os grupos em situao desfavorvel
socialmente no centro das prticas sociais, embora sem espao discur-
sivo amplo para se posicionarem.
REFERNCIAS
FALCONE, Karina. 2005. O acesso dos excludos ao espao discursivo do jornal.
Recife: PPGL-UFPE. 112p. (Coleo Teses).
FERRO, M. C. T. Teoria da metfora conceptual: uma breve introduo. Dispon-
vel em: <http://www.pessoal.utfpr.edu.br/paulo/metafora%20conceptual.pdf>.
Acesso em: 16 abr. 2013.
LAKOFF, G. A metfora, as teorias populares e as possibilidades de dilogo. Ca-
dernos de Estudos Lingusticos, Campinas, Unicamp, n. 9, p. 49-68, 1985.
Vincius Nicas
98
LAKOFF, G; JOHNSON, M. Metforas da vida cotidiana. Campinas: Mercado das
Letras, 2002.
MARCUSCHI, L. A. Fenmenos da linguagem: reflexes semnticas e discursivas.
Rio de Janeiro: Lucerna, 2007a. (Srie Dispersos).
MARCUSCHI, L. A. Cognio, linguagem e prticas interacionais. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2007b. (Srie Dispersos).
RESENDE, V; RAMALHO, V. Anlise de discurso crtica. So Paulo: Contexto, 2006.
VAN DIJK, T. A. El Discurso como interaccin en la sociedad. In: VAN DIJK, Teun
A. (Org.). El discurso como interaccin social: Estudios sobre el discurso II Una
introduccin multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa Editorial, 2001. v. 2, p. 19-66.
Van DIJK, T. A. Discurso e poder. So Paulo: Contexto, 2008.
A METFORA COMO UMA EMERGNCIA DINMICA,
CATICA E COMPLEXA
Joo Paulo Rodrigues de Lima
1
A Teoria da Metfora Conceitual (LAKOFF; JOHNSON, 1980)
abordou a perspectiva de uma metfora como uma estrutura concei-
tual derivada das particularidades das experincias no mundo. Os ma-
peamentos para a composio das metforas, uma vez definidos, pare-
cem estar consolidados de forma a no permitir muitas variaes. Esta
a crtica que a metfora conceitual tem recebido ao longo dos anos.
Se sua estrutura parece ser to convencional, como a Teoria da Met-
fora Conceitual pode justificar a criatividade do pensamento e da lin-
guagem, que origina metforas novas e peculiares ao contexto de pro-
duo? Isto , se as metforas so convencionais, como explicar o sur-
gimento dirio de metforas no convencionais no discurso?
Considere a metfora conceitual ESTRUTURAS POLTICAS SO
EDIFCIOS
2
, baseada na pesquisa de Musolff (2000) sobre discursos a
respeito da integrao europeia na dcada de 90. Durante o discurso,
termos como o teto e as sadas de emergncia foram utilizados
(MUSOLFF, 2000, p. 220-221):
Ns estamos felizes que a unificao da Alemanha acontea debaixo
do teto europeu (Documentao da Federal Press and Information
Office, Bonn);
[A casa europeia ] um prdio sem sadas de emergncia: no d
para escapar se isto der errado. (Guardian [Manchester], 2 de maio,
1998);
1
Mestre em Lingustica, Professor Assistente na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano
Matos (FAFIDAM), da Universidade Estadual do Cear (UECE).
E-mail: jptranslater@gmail.com
2
A notao das metforas conceituais se d nesta formatao (times new roman, tama-
nho 11, caixa alta). Para diferenciar destas, as metforas sistemticas possuem a
mesma formatao, contudo estaro em itlico, como sugere Cameron (2007).
Joo Paulo Rodrigues de Lima
100
[ um] prdio pegando fogo sem sadas. (Times [Londres], 20 de
maio, 1998)
Se as metforas conceituais que usam EDIFCIOS como fonte so
convencionais
3
, ento os interlocutores do discurso no deveriam
conceitualizar ESTRUTURAS POLTICAS usando estes termos. O que
se pode sugerir aqui que, neste caso, no foi o domnio fonte que ma-
peou o alvo, mas, por meio da dinmica e dos propsitos discursivos,
aconteceu o inverso: o domnio alvo mapeou o que seria til da fonte
para expressar a ideia do discurso. Por exemplo, se um pas no con-
corda com a unificao europeia e tem uma opinio negativa a respei-
to deste fato, possvel dizer que esta proposta de unificao seja um
prdio sem sadas de emergncia (KVECSES, 2010). Este um ele-
mento de domnio fonte, em geral, no muito usado, mas que se encaixa
perfeitamente a este propsito discursivo, sugerindo que o mapea-
mento nem sempre se d em via nica para as metforas conceituais
complexas, contrariando, assim, a predio proposta por Lakoff e
Johnson, na teoria de 1980.
Cameron (2007) sugere que, para se compreender a metfora,
necessrio estud-la no seu uso dialgico como parte integrante do
uso da lngua, por sua vez, entendida como um sistema dinmico
complexo, e no s como uma instanciao de uma competncia fixa e
preexistente.
Pensamento e fala so processos dinmicos que requerem inter-
pretao constante por parte dos participantes. O ajuste da compreen-
so se d medida que intenes e emoes evoluem no fluxo do dis-
curso. Na opinio de Gibbs e Cameron (2007, p. 4),
[] as abordagens dinmicas enfatizam a dimenso temporal dos
processos sociais e cognitivos e as maneiras pelas quais o compor-
tamento de um indivduo emerge a partir da interao crebro-
corpo-ambiente, incluindo a interao com outros sujeitos. Os pa-
dres comportamentais simples e complexos, incluindo o desem-
penho metafrico no discurso, so produtos super ordenados e
emergentes de processos que se auto-organizam. Assim, o compor-
tamento surge da frequente interao no-linear entre os compo-
3
Isto , so convencionais os termos que so mapeados do domnio fonte para o alvo,
como, por exemplo, os fundamentos, os pilares, as estruturas, a construo,
mas nunca as janelas, o teto ou at mesmo as sadas de emergncia.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
101
nentes de um sistema, ao invs de mecanismos cognitivamente e
neurologicamente especializados.
As metforas emergem no discurso como tentativas de estabili-
zar a dinmica e a variabilidade discursiva. Consequentemente, pa-
dres metafricos so gerados quando os interlocutores assumem um
pacto conceitual de como falar sobre determinados tpicos. As met-
foras que so situadamente escolhidas para tpicos, contextos e in-
teraes discursivas especficas por meio do discurso frequente sobre
este ou aquele tpico. Com base nisto, as metforas no possuem sig-
nificados similares em contextos diversos, mas so dinamicamente
recriadas, dependendo das histrias particulares de cada participante
na ao discursiva.
Gibbs e Cameron (2007) comparam o sistema dinmico a um jo-
go de sinuca. No jogo, a bola que usada para rebater outras modifica
o jogo e precisa ser rebatida de acordo com a configurao do jogo
atual. Duas tacadas nunca so iguais, pois elas dependem desta confi-
gurao, da mutvel natureza do jogo. O mesmo ocorre com as met-
foras, que nunca so idnticas ou simplesmente armazenadas na me-
mria, sendo relativo o seu uso e dependentes da natureza do discur-
so que se configura no momento de interao.
1 SISTEMAS DINMICOS COMPLEXOS ADAPTATIVOS (SDCA)
Aplicada em diversos campos do saber, tais como a lgica, a ma-
temtica, a biologia, a filosofia, as cincias humanas e cognitivas, a Teo-
ria dos Sistemas Dinmicos tem recentemente tambm tocado nas
questes relativas corporificao (os problemas sobre a relao men-
te-corpo) e a fenomenologia (a intencionalidade) (WALMSLEY, 2008).
Quanto primeira questo, os processos mentais no esto dispersos
na massa cinzenta, mas eles so como so, devido estrutura biol-
gica que lhe oferece condio de existncia, no caso, o corpo como um
todo. O corpo mais um elemento influenciador dentro de um sistema
complexo que conjuga uma srie de outros fatores que interagem entre
si para fazer emergir padres de comportamento e de compreenso
de mundo. Dentre estes outros fatores, aspectos culturais, sociais e
histricos tambm se configuram como elementos que participam ati-
vamente desta rede interativa, e muitas vezes, estes so os elementos
Joo Paulo Rodrigues de Lima
102
que do carter particular a determinadas emergncias discursivas e
comportamentais. Da a razo pela qual a Teoria dos Sistemas Dinmi-
cos Complexos e Adaptativos (doravante TSDCA) tem interesse nos
estudos fenomenolgicos.
Os sistemas dinmicos abordam a noo ecolgica do compor-
tamento humano. Um SDCA composto de vrios tipos diferentes de
agentes ou elementos que interagem dinamicamente por meio de dis-
tintas relaes e conexes. dito complexo, no somente devido
multiplicidade de elementos e conexes entre os componentes, mas,
pelas mudanas que constantemente ocorrem nas relaes entre os
elementos, o que resulta em auto-organizaes e emergncias. Isto
mostra que os sistemas complexos no so sistemas fechados, auto-
contidos, mas esto abertos a novas energias e interagem com ele-
mentos externos e internos a eles prprios, estando altamente pro-
pensos a mudanas. desta instabilidade que decorrem adaptaes e
evolues no sistema, o que equivale a dizer que o sistema dinamica-
mente se adequa ou muda a ponto de fazer emergir uma nova ordem.
As mudanas podem acontecer de forma suave e contnua ou podem
ser repentinas medida que o sistema muda de comportamento.
De uma forma geral, a interao discursiva pode ser tambm
compreendida de acordo com esta perspectiva. Cameron e Maslen
(2010, p. 116) apresentam a noo de discurso que o define como
[...] um resultado dos processos cognitivos e lingusticos, em que as
pessoas se engajam quando falam e escrevem. O que expresso ou
entendido no fluxo do discurso o melhor resultado disponvel no
momento, sob algumas restries e circunstncias. Estes resultados
no so arbitrrios; eles refletem as mltiplas influncias das experi-
ncias passadas, conveno sociocultural e restries do processa-
mento.
O discurso visto como um sistema dinmico, repleto de instabi-
lidades, fazendo convergir uma srie de variveis que visam a estabi-
lidade deste sistema. Assim, as metforas e metonmias no discurso
aparecem como uma temporria estabilidade da negociao de con-
ceitos entre os interlocutores, sugerindo ser mais situada do que se
pensava, ou seja, no tendendo a generalizaes frequentes, como
propunha a teoria da metfora conceitual (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
103
Este trabalho se prope a descrever a emergncia da metfora
sob a tica da teoria dos sistemas dinmicos complexos adaptativos
no discurso sobre violncia urbana, produzido por um grupo focal de
seis jovens adultos (faixa etria de 20 a 30 anos) universitrios resi-
dentes em Fortaleza/CE, sendo estes participantes vtimas diretas
e/ou indiretas de violncia urbana. Antes de a conversa ser iniciada, o
grupo foi orientado quanto aos objetivos e justificativa da pesquisa,
alm de serem informados de que suas verdadeiras identidades esta-
riam protegidas, portanto, os nomes que aparecem na transcrio so
fictcios. O discurso foi gravado em udio e vdeo, depois transcrito
segundo os procedimentos listados por Cameron et al. (2009).
As metforas sistemticas em anlise foram identificadas median-
te a localizao de veculos metafricos (CAMERON; MASLEN, 2010) e
estes, posteriormente, foram agrupados com os tpicos discursivos, os
quais podem ser definidos como os fragmentos da conversao em
que h participao colaborativa, assentada em um complexo de fato-
res contextuais, tais como o conhecimento recproco dos interlocuto-
res, os conhecimentos partilhados, as circunstncias da conversa, as
diferentes vivncias e crenas sobre o mundo, os aspectos cognitivos
envolvidos etc. (JUBRAN et al., 1992).
Entende-se por veculo metafrico um item lexical ou expresso
que tem o seu sentido contrastado com o significado contextual do
discurso, isto , quando ocorre uma transferncia de sentido, que torna
o significado contextual capaz de ser entendido nos termos do signifi-
cado bsico (CAMERON, 2007; CAMERON; MASLEN, 2010). As sees
seguintes destacaram as propriedades de um SDCA e como esto asso-
ciadas emergncia do uso figurado da linguagem no discurso.
2 CAOS E COMPLEXIDADE
O termo caos frequentemente entendido como desordem e
aleatoriedade, uma falta de padro e uma srie de imprevisibilidades.
No entanto, o novo uso do termo pela cincia tem sugerido uma de-
sordem aparente, respaldada por uma ordem subjacente a um conjunto
de sistemas determinsticos. Tais sistemas so dependentes das con-
dies iniciais e das mudanas internas que podem ocorrer (LORENZ,
2001). Apesar do determinismo destes sistemas e, consequentemente,
de ser possvel prever os desdobramentos imediatos que as condies
Joo Paulo Rodrigues de Lima
104
iniciais podem provocar, outros resultados, e estes, em longo prazo,
no podem ser determinados. O termo caos se justifica pela imprevi-
sibilidade que as aparentes aleatoriedades podem causar: ns at
podemos acreditar que algum fenmeno governado por leis deter-
minsticas e que ele reage de forma regular, para depois descobrirmos
que seu comportamento mais irregular do que suspeitvamos
(LORENZ, 2001, p. 157).
O discurso deve ser entendido como um sistema, que at se tor-
na previsvel em determinados momentos, mas, ao longo da interao
com outros participantes, no possvel controlar o seu fluir, podendo
exceder ou no as expectativas dos prprios interlocutores. Durante a
interao aqui em anlise, o moderador do grupo focal introduz o t-
pico Mudana Comportamental por meio da seguinte pergunta: se
vocs j tiverem enfrentado situaes de violncia urbana no dia a dia,
como que o comportamento de vocs mudou? O veculo metafrico
enfrentado na pergunta possibilitou a conceitualizao deste tpico
nas seguintes metforas sistemticas: VIOLNCIA AGRESSOR e
MUDANA COMPORTAMENTAL SO AES BLICAS. O veculo en-
frentado provocou a emergncia de outros veculos que no haviam
sido previstos (se defender, mecanismo de defesa, agredir,
agredida, agresso, agride, agredindo, agresses, atingida,
fase da defesa, partir pro ataque, no ponto do ataque, defesa,
estado de alerta, passiva, combater, fase do ataque, blicos e
treinado), exemplificando a propriedade do caos, em que no caso, h
uma aparente organizao, j que os veculos esto semanticamente
relacionados como aes blicas, no entanto, o simples input enfren-
tado estimulou a construo colaborativa da metfora com veculos
no previstos, como mostram alguns fragmentos retirados do Corpus
Grupo Focal 1_GELP (2010):
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
105
3 MUDANA COMPORTAMENTAL SO AES BLICAS
Excerto 1
Excerto 2
Joo Paulo Rodrigues de Lima
106
VIOLNCIA AGRESSORA
Excerto 3
Nestas metforas, ao mesmo tempo que os participantes se ma-
nifestavam a respeito do tpico introduzido pela pergunta, eles tam-
bm conceitualizavam a violncia como o inimigo, ou seja, no era
apenas uma metfora que estava emergindo, mas duas sob o mesmo
tpico discursivo e no mesmo momento de interao, o que caracteri-
za a complexidade da emergncia.
Um sistema complexo caracterizado por ter outros sistemas
complexos dentro de si, podendo gerar resultados caticos (imprevi-
sveis), devido s suas condies iniciais. Palazzo (1999, apud
AUGUSTO, 2009) diferencia sistemas complexos de sistemas lineares
ao afirmar que os primeiros so todos constitudos de outros todos,
isto , so subsistemas de sistemas. Ele utiliza a ilustrao de um rel-
gio, que desmontado, constitudo de partes e no de todos, pois se
uma das partes faltar, o relgio no funcionar. Os sistemas comple-
xos, por sua vez, no tm este tipo de relao de dependncia entre
seus elementos: [] se uma clula morre ou uma formiga se perde,
isto tem pouco efeito sobre o sistema ao qual pertencem (PALAZZO,
1999, apud AUGUSTO, 2009, p. 39-40).
O fato que o sistema autnomo e se mantm vivo, mesmo so-
frendo algumas adaptaes. As conexes entre os elementos do siste-
ma so to complexas, que rapidamente este encontra um meio de
adaptar-se, embora no seja possvel determinar o impacto destas
adaptaes. De acordo com Brooks (2007), onde caos e complexida-
de se complementam, pois a imprevisibilidade dos sistemas caticos
surge da sensibilidade a qualquer transformao nas condies que
controlam o seu desenvolvimento.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
107
O desenvolvimento deste tpico proporcionou ainda a emergn-
cia de mais uma metfora sistemtica: MUDANA COMPORTAMEN-
TAL MOVIMENTO, a qual est imbricada na metfora MUDANA
COMPORTAMENTAL SO AES BLICAS, j que muitos dos veculos
desta ltima metfora apareceram acompanhados de veculos que
prope movimento de ataque ou defesa: retornar, ir , vai chegar
no ponto, vamos chegar a uma questo e contornar, conforme al-
guns exemplos a seguir:
Excerto 4
Caos e complexidade se encontram no ponto crtico do sistema,
o que Waldrop (1993, p. 12) denomina a beira do caos: a zona de ba-
talha em constante alternncia entre a estagnao e a anarquia, o pon-
to onde um sistema complexo pode ser espontneo, criativo e vivo.
Em outras palavras, as sequncias de adaptaes estimulam (for-
am) a dinamicidade do sistema para que este continue existindo. O
sistema no se encaminha para um equilbrio, pois estar morto, mas
busca a estabilidade. Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 58) argu-
mentam que um sistema no limite do caos muda adaptativamente
para manter a estabilidade, demonstrando um alto nvel de flexibili-
dade e sensibilidade. Tais estabilidades so encaminhadas para esta-
dos chamados de atratores.
Joo Paulo Rodrigues de Lima
108
Um sistema simples opera de forma previsvel, pois estabelece
conexes estticas, como, por exemplo, os semforos (LARSEN-
-FREEMAN; CAMERON, 2008), os quais no so de maneira alguma
afetados por elementos externos (carros, motoristas, pedestres, ou-
tros sinais de trnsito etc.). Por outro lado, caracterstico de um
SDCA variar muito, de fato, quanto mais variaes tiver, mais forte e
duradouro ele se torna, j que h uma ampla gama de conexes entre
os diversos elementos internos e externos que o compe:
Em sistemas complexos, cada componente ou agente se encontra
em um ambiente produzido por suas interaes com outros agentes
no sistema. Est constantemente agindo e reagindo ao que outros
agentes esto fazendo. E por causa disso, essencialmente nada no
seu ambiente est fixo. (WALDROP, 1992, p. 145)
O discurso rico em variaes conceituais, pois as infinitas pos-
sibilidades de conexes que pode haver entre os agentes proporcio-
nam isto. Ainda que o sistema apresente agentes que por si j so es-
tveis, as suas relaes com os outros agentes especificam e alteram o
sistema, fazendo emergir particularidades inerentes ao prprio dis-
curso. Sendo a cognio um dos agentes do discurso, pode-se dizer
que as operaes cognitivas no se manifestam sempre da mesma
forma, mas fazem emergir metforas e metonmias reveladas de ma-
neiras bem especficas e variadas no discurso.
No corpus em anlise, a metonmia ESTAR DENTRO POR ESTAR
SEGURO emergiu com a participao coletiva e frequente do grupo fo-
cal. Visto que o ESTAR DENTRO, assim como o ESTAR FORA, enten-
dido em termos literais (mudana metafrica literalizao), ou seja,
significa realmente estar dentro ou estar fora de um lugar nas falas dos
participantes, ento, no se trata propriamente de uma metfora, mas
de uma metonmia: uma parte da experincia humana com lugares
estendida subjetividade do sentimento de segurana/insegurana.
Veculos metonmicos do domnio de fechar, trancar e den-
tro apareceram com regularidade para simbolizar a segurana, en-
quanto o inverso tambm foi verdadeiro, que a insegurana est do
lado de fora; portanto, sair arriscado e manter-se trancado a me-
lhor proteo. Outro veculo muito significativo para este conceito foi
vidro, sinnimo da fronteira de segurana, contextualmente:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
109
Excerto 5
Excerto 6
Joo Paulo Rodrigues de Lima
110
Os comentrios de Mateus e Elisa so bastante pertinentes
quando se referem questo cultural. sabido por todos que, em For-
taleza, a partir das 22 horas, os semforos no so considerados locais
seguros, portanto, recomenda-se aos motoristas que cruzem o sem-
foro, mesmo que esteja vermelho, com cautela e velocidade reduzida.
A cautela tambm sugerida durante o dia, pois, nos semforos da ci-
dade de Fortaleza, possvel ver pessoas lavando os para-brisas de
carro ou pedindo dinheiro nos sinais, e alguns assaltantes se passam
por estas pessoas para ter a oportunidade de executar o furto. Desse
modo, frequente ver os motoristas desta cidade subindo os vidros ao
se aproximarem dos semforos. Assim, a metonmia a partir do dis-
curso tambm peculiar ao seu contexto discursivo, pois emergiu
principalmente devido experincia social, em Fortaleza.
A variabilidade uma caracterstica que tem sido apontada fre-
quentemente por diversos autores (DE BOT; LOWIE; VERSPOOR,
2007; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008) como recurso necessrio
do sistema para atingir momentos de estabilidade. Para De Bot, Lowie
e Verspoor (2007, p. 8), o novo estado emerge devido a uma interco-
nexo completa, em que todas as variveis esto inter-relacionadas, e
por isso, mudanas em uma varivel tero um impacto em todas as
variveis que fazem parte do sistema.
Ao variar, o sistema est mudando o seu padro de comporta-
mento, encaminhando-se para estados denominados atratores. Se-
gundo Larsen-Freeman e Cameron (2008, p. 50), um atrator enten-
dido como sendo uma regio especfica no espao de fases no qual o
sistema tende a se movimentar, isto , um conjunto de estados prefe-
rveis (mas no necessariamente previsveis) para os quais o sistema
tende a emergir. Dentre os possveis estados, aqueles que no so pre-
ferveis so chamados de estados repelentes (DE BOT; LOWIE;
VERSPOOR, 2007). Os atratores so temporrios, mas, dependendo da
fora que eles tm, mais ou menos energia ser exigida do sistema pa-
ra poder se movimentar e mudar para outras fases. o que acontece
no discurso quando o tpico discursivo se torna interessante e facil-
mente se conecta com o conhecimento prvio dos participantes do
grupo. O sistema est alcanando certa estabilidade e mais difcil fica
para que outro tpico seja desenvolvido. Isto , o tpico discursivo
funciona como um atrator, e dependendo de outros agentes no siste-
ma ele pode ganhar mais ou menos fora. Como possvel observar, a
metonmia ESTAR DENTRO POR ESTAR SEGURO tambm foi desen-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
111
volvida sob o tpico Mudana Comportamental, o qual se justifica co-
mo um forte atrator por ter concentrado e dinamizado uma extensa
participao cognitiva dos interactantes.
Alm deste tpico, outros tambm foram desenvolvidos, tais
como Banalizao da violncia pela mdia, Tipos de violncia, Senti-
mento de insegurana, Sociedade e grupos sociais e Aes do governo.
Estes atratores demandaram mais tempo e mais discusso, no permi-
tindo que outros tpicos fossem desenvolvidos, o que nos termos da
Teoria dos Sistemas Dinmicos Complexos Adaptativos (DE BOT;
LOWIE; VERSPOOR, 2007; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008), de-
mandaram mais energia do sistema para permanecer estvel, enquan-
to os tpicos no desenvolvidos no conseguiram obter energia o sufi-
ciente para influenciar o sistema.
A fim de tornar o conceito de atratores ainda mais claro, Augus-
to (2009, p. 47), baseando-se em Larsen-Freeman (1997; 2007) e Lar-
sen-Freeman e Cameron (2008), vale-se da seguinte ilustrao:
Se imaginarmos um casal danando uma sequncia de ritmos dife-
rentes como, por exemplo, samba, rock-and-roll, salsa e twist, vere-
mos que cada ritmo se configura como um atrator, pois o casal ter
que assumir um padro diferente de comportamento na elaborao
dos diferentes estilos de dana e assim permanecer por algum tem-
po. No entanto, o casal de danarinos poder num mesmo ritmo
apresentar variaes de comportamento. Por exemplo, a salsa pode
ser danada em diferentes ritmos e velocidades, assim como todos
os outros estilos. Nesse caso ocorreria aquilo que alguns autores
(LARSEN-FREEMAN, 1997; 2007; LARSEN-FREEMAN; CAMERON,
2008) definem como sendo variabilidade junto estabilidade.
O sistema no completamente desordenado, mas regido por
regras simples para que possa encontrar a auto-organizao tempor-
ria. Para que possa ser concebido como um sistema, ele deve ter um
nmero mnimo de regras que possibilitem momentos estveis e para
que a energia gerada pelas variaes no sistema no se percam. O dis-
curso regido por regras simples (os papis sociais, por exemplo) pa-
ra que ocorram as mais variadas interaes entre os interlocutores.
Estas regras tornam o sistema subideal. O sistema no precisa ser per-
feito para se adequar ao seu ambiente, basta que seja melhor do que
outras possibilidades para adaptar-se temporariamente e se configure
de modo satisfatrio.
Joo Paulo Rodrigues de Lima
112
A TSDCA oferece um modo de pensar o mundo e a vantagem de
realizar anlises para alm dos dados, ao prever que possveis organi-
zaes o sistema poderia ter tomado (como se fosse uma bifurcao
de possibilidades), e descobrir que elementos especficos causam de-
sestabilizao no sistema.
A metfora sistemtica se prope ser exatamente o momento em
que o sentido foi negociado entre os interlocutores; por isso, os seus
termos veculos podem ser identificados de maneira sistemtica den-
tre as diversas falas, apontando para um mesmo conceito.
Nisto se diferencia a proposta de Cameron (2007, 2008) de uma
anlise pautada em metforas conceituais (LAKOFF; JOHNSON, 1980),
pois no interessa se a metfora resultado de uma intensa interao
discursiva; se h a possibilidade dela se manifestar linguisticamente
em determinada cultura, ento ela merece ser analisada. Alm disso,
as metforas conceituais tendem universalidade, enquanto as met-
foras sistemticas so discursivamente situadas e no esto armaze-
nadas na mente, mas emergem dinamicamente em meio ao caos e
complexidade da interao discursiva.
REFERNCIAS
AUGUSTO, Rita de Cssia. O processo de desenvolvimento da competncia lingus-
tica em ingls na perspectiva da complexidade. 2009. 228f. Tese (Doutorado em
Lingustica Aplicada) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Ge-
rais, Belo Horizonte, 2009.
BROOKS, M. Climate myths: chaotic systems are not predictable. New Scientist,
16 May 2007. Disponvel em: <www.newscientist.com/article/dn11641>. Acesso
em: 3 maio 2012.
CAMERON, Lynne. Confrontation or complementarity: Metaphor in language use
and cognitive metaphor theory. Annual Review of Cognitive Linguistics, 5, 107-
135, 2007.
CAMERON, Lynne. Metaphor shifting in the dynamics of talk, chapter 2, In:
ZANOTTO, M. S., CAMERON, L.; CAVALCANTI, M. C. (Orgs). Confronting Metaphor
in Use: an applied linguistic approach. Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, 2008.
CAMERON, L.; MASLEN, R.; TODD, Z.; MAULE, J.; STRATTON, P.; STANLEY, N. The
Discourse Dynamics Approach to Metaphor and Metaphor-led Discourse Analy-
sis. Metaphor and Symbol, 24, 2, p. 63-89, 2009.
CAMERON, L.; MASLEN, R. Metaphor Analysis: research practice in applied lin-
guistics, social sciences and the humanities. UK: Equinox Publishing, 2010.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
113
DE BOT, K.; LOWIE, W.; VERSPOOR, M. A Dynamic System Theory Approach to
second language acquisition. Bilingualism: Language and Cognition 10 (1), 7-21,
2007.
GIBBS, R.; CAMERON, L. The social-cognitive dynamics of metaphor performance.
Cognitve Systems Research, p. 1-12, 2007.
JUBRAN, Cllia C. A. S. et al. Organizao tpica da conversao. In: ILARI, R.
(Org.). Gramtica do portugus falado. Campinas: Unicamp, 1992. v. II.
KVECSES, Zltan. Metaphor: a practical introduction. 2
nd
ed. Oxford: Oxford
University Press, 2010.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: Chicago University
Press, (1980) 2003.
LARSEN-FREEMAN, D. Chaos/complexity science and second language acquisi-
tion. Applied Linguistics, 18 (2), 141-165, 1997.
LARSEN-FREEMAN, D. Language acquisition and language use from a cha-
os/complexity theory perspective. In: KRAMSCH, C. (Org). Language acquisition
and language socialization. London: Continuum, 2002.
LARSEN-FREEMAN, D. On the complementarity of chaos/complexity theory and
dynamic systems theory in understanding the second language acquisition pro-
cess. Bilingualism: Language and Cognition, 10 (1), 35-37, 2007.
LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. Complex systems and Applied Linguistics.
Oxford: Oxford University Press, 2008.
LORENZ, E. N. The essence of chaos. Washington: University of Washington Press,
2001.
MUSOLFF, Andreas. Political imagery of Europe: A house without exit doors?
Journal of Multilingual and Multicultural Development 21(3), p. 216-229, 2000.
WALDROP, M. M. Complexity. Viking: Harmondsworth, 1992.
WALDROP, M.M. Complexity: the emerging science at the edge of order and cha-
os. New York: Touchstone, 1993.
WALMSLEY, Joel. Explanation in Dynamical Cognitive Science. Minds & Machines,
p. 333-348, 2008.
METFORA E PROGRESSO TPICA EM
ARTIGOS CIENTFICOS DE HISTRIA
Adriano Dias de Andrade
1
1 INTRODUO
A metfora tem sido estudada na tradio ocidental h, pelo me-
nos, dois mil anos. a partir da figura do filsofo grego Aristteles que
as discusses em torno do tema ganharam popularidade e se diversifi-
caram na histria do pensamento ocidental. No rastro do empreendi-
mento da retrica clssica e mesmo da retrica moderna, a metfora
tem sido estudada como elemento lingustico de comparao entre
imagens, ou, para colocar de outra maneira, como uma comparao
entre termos. Certamente, este reducionismo generalizador e no d
conta dos inmeros pesquisadores e das muitas concepes sobre o
fenmeno. Todavia, esse conceito parece abarcar uma concepo geral
que correu os sculos e alcanou inclusive as salas de aulas do ensino
contemporneo de lnguas, no Brasil. Essa concepo retrica da me-
tfora revela uma viso de lngua como expresso do pensamento e
limita o seu uso a discursos especiais e com finalidades artsticas ou
poticas.
O sculo XX foi especialmente importante para rupturas no pa-
radigma retrico. Surgiram, ali, vrios nomes que comeavam a im-
pulsionar novo olhar sobre a linguagem, sobre o pensamento e, tam-
bm, sobre a metfora. Nesse sentido, citamos, por exemplo, Max
Black (1966) e sua reflexo sobre a Metfora, isto , a Teoria da Inte-
rao, a qual se baseia em reflexes anteriores do filsofo anglofnico
I. A. Richards (1937). As discusses empreendidas por Black se proli-
1
Doutorando em Letras (Lingustica) pelo PPGL, Universidade Federal de Pernambuco,
E-mail: adrianoad@hotmail.com. Este artigo baseia-se em parte da pesquisa empre-
endida no mestrado em Letras (Lingustica) pela UFPE, concludo em 2010, sob orien-
tao da Profa. Dra. Beth Marcuschi.
Adriano Dias de Andrade
116
feraram nos estudos lingusticos e, desde ento, tm influenciado o
nascimento de novos olhares sobre a metfora. Contudo, com o ad-
vento da lingustica cognitiva, ou, mais especificamente, da semntica
cognitiva, nas ltimas dcadas do sculo passado, que os estudos so-
bre metfora se intensificaram de maneira acentuada no Brasil. Isso
graas ao lanamento da obra, hoje clssica, Metaphors We Live By
2
,
em 1980, por George Lakoff e Mark Johnson. A inovao proposta por
Lakoff e Johnson consiste, no nosso entendimento, em dois aspectos
centrais: (i) compreender a metfora como fenmeno do pensamento
muito mais do que de palavras ou aes e (ii) reivindicar a ideia da
onipresena metafrica, ou seja, seu uso e apario em todos os dis-
cursos da vida cotidiana.
Este artigo parte do ponto de vista da lingustica cognitiva sobre
a metfora, inaugurado por Lakoff e Johnson (2003 [1980]), para in-
vestigar como as metforas presentes no discurso terico-cientfico da
Histria permitem e colaboram para a progresso tpica nos textos
dessa rea do conhecimento acadmico. Aqui, entendemos a progres-
so tpica como o desenvolvimento dos temas centrais discutidos no
texto, ou seja, o modo como o assunto geral argumentado, levando
manuteno e recategorizao de referentes. Para tanto, utilizamos
como Corpus de anlise trs artigos cientficos da Revista Brasileira de
Histria (ver referncias), disponveis no Portal de Peridicos da
CAPES (Conselho de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior). A
escolha do gnero no se deu de maneira aleatria, mas por (a) consi-
derarmos que os artigos constituem uma amostragem bastante signi-
ficativa do discurso terico-cientfico, (b) por se constiturem como
um repertrio dos discursos produzidos e circulantes nas academias e
por (c) sua produo est sendo constantemente requerida como pro-
vas de produtividade pelos rgos de fomento brasileiros.
A metodologia deste trabalho consiste de duas etapas: na pri-
meira, fizemos a leitura dos textos e levantamos os trechos com ocor-
rncias que julgamos metafricas; na segunda, a partir das ocorrn-
cias elencadas, analisamos os casos em que as metforas ajudam a an-
corar os assuntos discutidos, permitindo a progresso tpica dos tex-
tos. As metforas so analisadas a nvel conceptual e lingustico, assim,
os exemplos destacados nas anlises traro consideraes sobre as Me-
tforas Conceptuais (MC) e Expresses Lingusticas Metafricas (ELM).
2
O livro foi traduzido para o portugus e publicado em 2002. Ver referncias.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
117
2 BASES TERICAS
Nesta seo, traremos as bases tericas gerais sobre as quais es-
te estudo se alicera. Em seguida, mostraremos como o fenmeno foi
visto e analisado nos textos e, finalmente, encerraremos com algumas
breves consideraes a partir das anlises. O nosso objetivo principal
o de mostrar como a metfora atua discursivamente para a categori-
zao e recategorizao de referentes, permitindo o desenvolvimento
temtico.
3 TEORIA DA METFORA CONCEPTUAL
A metfora foi durante muito tempo vista apenas como matria
da linguagem potica, restrita aos usos literrios e resultado exclusivo
da manipulao da linguagem. Por esta razo, ou seja, por acharem
que a metfora uma caracterstica exclusiva da linguagem, um pro-
blema de palavras muito mais do que de pensamento e aes, as pes-
soas tm como senso comum a ideia de que podem perfeitamente se
esquivarem das metforas. Contudo, isto uma utopia j que as met-
foras esto presentes em todas as esferas da vida cotidiana, no ape-
nas na linguagem, mas tambm no pensamento e nas aes. Segundo
Lakoff e Johnson (2003 [1980], p. 3), nosso sistema conceptual ordi-
nrio, em termos do que pensamos e fazemos, fundamentalmente
metafrico
3
.
Nosso sistema conceptual no apenas rege nosso intelecto, mas
tambm governa nossa existncia no mundo, no sentido de que ele
estrutura nossos posicionamentos e forma de nos inter-relacionar-
mos. Assim, o sistema conceptual desempenha um papel primordial
na definio das nossas realidades. Tal sistema fortemente marcado
pela presena de metforas, ou seja, usamos muitos conceitos em fun-
o da compreenso de outros, no entendimento de uma coisa por ou-
tra, por meio de enquadramentos sociais herdados culturalmente e
experienciados ao longo da vida.
Um dos postulados iniciais e mais importantes elencados por
Lakoff e Johnson (2003 [1980]) o de que as metforas no so uma
questo apenas da linguagem, mas o prprio pensamento metafrico
em grande parte. Assim, os autores diferenciam as metforas lingusti-
3
Traduo nossa.
Adriano Dias de Andrade
118
cas das metforas conceptuais. Nesse sentido, reportamo-nos a Ber-
ber-Sardinha (2007) quando explica que:
(i) A Metfora Conceptual uma maneira convencional de con-
ceitualizar um domnio da experincia em termos de outro
domnio da experincia (estruturas mentais de representa-
o); e
(ii) A Metfora Lingustica (Expresso Lingustica Metafrica)
a realizao lingustica da Metfora Conceptual.
Completando a explicao com as palavras dos prprios Lakoff e
Johnson (2003 [1980], p. 6), acrescentamos que as Expresses Lin-
gusticas Metafricas (doravante ELM) s so possveis porque exis-
tem as metforas conceptuais (MC) no nosso sistema conceptual.
4 SISTEMATICIDADE DAS METFORAS CONCEPTUAIS
Segundo Lakoff e Johnson (2003 [1980]), por meio do estudo
das ELM, possvel investigar a natureza metafrica dos conceitos que
estruturam as atividades do nosso dia a dia. Isso por que as expres-
ses metafricas na lngua esto ligadas s metforas conceptuais de
forma sistemtica. Segundos os autores (2003 [1980], p. 7), Ns po-
demos usar expresses lingusticas metafricas para estudar a natu-
reza das metforas conceptuais e, tambm, para adquirir conhecimen-
to sobre a natureza metafrica de nossas atividades
4
.
A fim de mostrar como o estudo das ELM til para entender a
estruturao do nosso sistema conceptual, Lakoff & Johnson (2003
[1980]) consideram a metfora conceptual TIME IS MONEY e demons-
tram vrios exemplos de ELM que so licenciadas por meio deste con-
ceito. Esta conceituao, ou seja, esta maneira convencional de pensar
e falar sobre o tempo em termos de recurso financeiro, tambm v-
lida na nossa cultura. Portanto, ao invs de apresentarmos o exemplo
original em lngua inglesa, propomos investigar o equivalente em por-
tugus: TEMPO DINHEIRO. Para tanto, fizemos uma breve consulta
no site de buscas da internet Google
5
com o intuito de encontrar ex-
presses que pudessem ser licenciadas por essa metfora conceptual.
Vejamos nossos achados:
4
Traduo nossa.
5
Buscas realizadas no dia 01.10.2009.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
119
5 METFORA CONCEPTUAL: TEMPO DINHEIRO
(1) O post de hoje no tem nada a ver com imigrao, com Canad,
nem com a nossa vida aqui. simplesmente sobre perder tempo
da vida vendo TV []
6
.
(2) Um dos problemas que faz um empresrio se transformar em
um emperrado, justamente a falta de noo de que ele mais perde
tempo do que trabalha
7
.
(3) Voc sente que no tem tempo para fazer metade das coisas
que gostaria de fazer? Voc no est sozinho
8
.
(4) Brasil onde se gasta mais tempo para resolver problemas
com impostos
9
.
(5) Como dominar os e-mails e ter tempo de sobra para viver a vi-
da
10
.
(6) Aprenda a Usar o Tempo um guia prtico repleto de solu-
es para melhorar a convivncia com o frentico ritmo de vida
atual
11
.
De maneira semelhante de Lakoff e Johnson (2003 [1980]),
nossos achados explicitam a sistematicidade da metfora conceptual
TEMPO DINHEIRO e sua larga realizao, mediante diferentes ex-
presses lingusticas. Para se ter uma ideia, a cada busca realizada no
Google obtivemos cerca de 14 milhes de ocorrncias.
Como vimos pelos seis exemplos anteriores, tempo compreen-
dido em termos de um bem valioso que se deve economizar, em ter-
mos de recurso limitado, isto , em termos de dinheiro. Segundo La-
koff e Johnson (2003 [1980]), isso no ocorre por ser algo intrnseco
ao sistema conceptual humano, ou seja, ns no conceptualizamos o
6
Trecho de um depoimento pessoal postado num blog, no qual o autor (um brasileiro)
apresenta sua experincia de vida no Canad. In: <http://diretodevan cou-
ver.wordpress.com/2009/07/22/perdendo-tempo-com-a-tv/>.
7
Trecho de um artigo no qual o autor discute a otimizao do tempo no mundo corpo-
rativo. In: <http://www.planetanews.com/news/2007/10682>.
8
Trecho de um artigo no qual o autor discute a administrao do tempo. In:
<http://www.produzindo.net/sem-tempo-para-o-lazer-aprenda-como-consegui-lo/>.
9
Trecho retirado de um artigo no qual a autora discute a questo da burocracia para se
resolver problemas de impostos no pas. In: <http://www.communitate. com.br/bra
sil-e-onde-se-gasta-mais-tempo-para-resolver-problemas-com-impostos>.
10
De um artigo num blog sobre tecnologia. In: <http://tecnoblog.net/archives/como-
dominar-os-emails-e-ter-tempo-de-sobra-para-viver-a-vida.php>.
11
Trecho da resenha de um livro de autoajuda, que versa sobre a administrao do tem-
po. In: <http://publifolha.folha.com.br/catalogo/livros/136019/>.
Adriano Dias de Andrade
120
tempo nesses termos por ser uma condio natural de nossa categori-
zao, mas sim porque esses conceitos so relacionados de alguma
forma em nossa cultura. Contudo, advertem os autores, h culturas
nas quais o tempo no visto em termos de nenhum desses conceitos.
Ns completaramos dizendo que alm de razes puramente experi-
enciais, no sentido da nossa experincia com o tempo, com o dinheiro,
com bens limitados etc., h tambm razes scio-histricas por meio
das quais nosso sistema poltico, nossa organizao social, as leis, os
hbitos, nossas inseres culturais, a partilha e o reconhecimento des-
ses variados smbolos fizeram ao longo de nossa histria com que
apreendssemos, ou melhor, conceitussemos o tempo nesses termos.
As metforas conceptuais TEMPO DINHEIRO; TEMPO UM
BEM VALIOSO e TEMPO RECURSO LIMITADO formam um sistema
nico baseado em subcategorizao. Essas subcategorizaes permi-
tem acarretamentos ou desdobramentos entre as metforas con-
ceptuais. Segundo Berber-Sardinha (2007, p. 32), esses desdobramen-
tos so as inferncias que podemos fazer a partir de uma metfora
conceptual. Assim, retomando os nossos exemplos e as reflexes de
Lakoff e Johnson (2003 [1980]), TEMPO DINHEIRO desdobra-se em
TEMPO UM BEM VALIOSO, que por sua vez desdobra-se em TEMPO
RECURSO LIMITADO e assim por diante.
Lakoff e Johnson (2003 [1980]) sugerem a utilizao da metfo-
ra conceptual mais especfica para a caracterizao do sistema inteiro,
neste caso a MC TEMPO DINHEIRO.
O exemplo sugerido pelos autores e validado por nossa breve
pesquisa via Google, mostra como as metforas conceptuais (i) se estru-
turam sistematicamente, (ii) licenciam gamas diversificadas de ELM e
(iii) possuem desdobramentos que caracterizam um sistema conceptu-
al coerente e um tambm coerente sistema de expresses lingusticas
metafricas.
6 ANLISE DO CORPUS
O sistema de notao oferecido nesta seo deve ser compreen-
dido da seguinte forma: onde se l: Exemplo 1 H1, entenda-se: trata-
se do primeiro exemplo trazido discusso, trata-se do artigo de His-
tria nmero 1 do corpus.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
121
A pesquisa tomou como Corpus trs artigos da Revista Brasileira
de Histria, todavia, devido a limitaes espaciais, neste artigo, fare-
mos aluso apenas ao exemplo analisado 1, referente ao primeiro ar-
tigo, e ao exemplo 2, do segundo artigo.
O artigo 1, intitulado Formao e atuao da rede de comiss-
rios do Santo Ofcio em Minas Colonial, investiga a atuao da Inqui-
sio, por meio de seus representantes no Brasil, no estado de Minas
Gerais, no perodo colonial. Vejamos o resumo:
Focalizando a atuao dos agentes inquisitoriais, este artigo busca
esclarecer como a Inquisio portuguesa se relacionou com a estru-
tura eclesistica de Minas colonial. A anlise se concentra na forma-
o e na atuao da rede de comissrios do Santo Ofcio na Capita-
nia do ouro. Qual era o perfil desses agentes? Como eles eram re-
crutados entre a hierarquia eclesistica local? Que papel eles de-
sempenhavam na ao inquisitorial ocorrida na capitania minera-
dora? De que forma atuavam? Qual a relao entre a insero dos
comissrios nas estruturas eclesisticas locais e as atividades in-
quisitoriais desempenhadas por esses agentes?
Palavras-chave: inquisio portuguesa Minas Colonial agentes in-
quisitoriais.
O segundo artigo investiga a produo discursiva dos viajantes
estrangeiros que visitaram o Brasil durante o sculo XVIII. Segundo a
autora, os relatos de viagens serviam para dois propsitos bsicos:
eram utilizados cientificamente para o conhecimento do Brasil pelos
estrangeiros, de forma que estes discursos servissem de guia para no-
vas empreitadas rumo ao nosso pas e, tambm, eram utilizados como
literatura de entretenimento para saciar a curiosidade da Europa com
relao s novas terras. O artigo tem por ttulo O Brasil nos relatos de
viajantes ingleses do sculo XVIII: produo de discursos sobre o novo
mundo e seu resumo pode ser lido a seguir.
O conhecimento cientfico do Brasil anterior ao perodo da aber-
tura dos portos brasileiros ao comrcio e navegao das naes eu-
ropeias. Embora seja inegvel a importncia e a novidade trazidas
pelas obras de John Mawe, Thomas Lindley, Henry Koster, Maximi-
liano de Wied-Neuwied ou do baro de Eschwege, h que conside-
rar que o Brasil tornou-se mais conhecido dos europeus do Sete-
centos graas aos roteiros, dirios de viagens, mapas e vistas de
marinheiros e traficantes, corsrios e piratas que percorreram o li-
Adriano Dias de Andrade
122
toral brasileiro durante o sculo XVIII. Assim como pelos registos
produzidos por homens ilustrados como George Anson, James Cook,
Joseph Banks, Charles Solander e Arthur Bowes Smith. O objetivo
de muitos desses relatos produzidos ao longo do sculo XVIII defi-
ne-se claramente do seguinte modo: corrigir a geografia do globo
terrestre, diminuir os perigos da navegao e tornar mais conheci-
dos os costumes, artes e produtos da colnia brasileira.
Palavras-chave: conhecimento cientfico relatos e dirios de via-
gens contrabando de informaes.
7 METFORA E PROGRESSO TPICA
Uma das funes exercidas pelas metforas nos textos investi-
gados a de permitir a continuidade tpica, ou seja, pelas metforas
muitos referentes so retomados ao longo do texto. De forma que,
nessa constante retomada, o objeto do discurso referido vai sendo
paulatinamente construdo e reconstrudo, salientando e escondendo
atributos, modificando-se ao longo da argumentao.
A funo de metaforizao para a designao de referentes pode
ser conferida pelo exemplo abaixo:
Exemplo 1 H1
Isso significa que a inquisio foi mudando sua estratgia (1), passando a
se apoiar cada vez mais na rede de agentes prprios (2) composta principal-
mente por comissrios, notrios, qualificadores e familiares.
1 INQUISIO JOGADOR
2 INQUISIO REDE
Nesse exemplo, observamos a conceptualizao da inquisio
em termos de um jogador. Mas no qualquer jogador, no se trata de
um jogador de futebol, por exemplo. A conceptualizao realizada
em termos de um jogador de guerra ou de jogos ldicos de estratgia e
persuaso, como o RPG
12
. Em complemento, alm de ser conceptuali-
zada em termos de um jogador, a inquisio tambm conceptualiza-
da em termos de rede. Quando primeiro aparecem retomados metafo-
ricamente no texto analisado (p. 146), os agentes inquisitoriais so
12
Roller Play Game.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
123
definidos em termos do domnio-fonte REDE, gerando a MC
INQUISIO REDE, conforme mostra o exemplo. Atentemos para o
esquema de desdobramentos a seguir.
Se:
INQUISIO JOGADOR
E se:
INQUISIO REDE
Ento:
JOGADORES SO REDES
Alm da metfora JOGADORES SO REDES, outras so igualmen-
te usadas para a conceptualizao da inquisio no texto analisado.
Vejamos abaixo as passagens em que o referente retomado metafo-
ricamente durante o texto.
(a) A engrenagem inquisitorial [] era composta por trs grupos
de agentes: os comissrios, os notrios e os familiares. Alm dessa
rede e integrada a ela foi relevante a complexa articulao []
(p. 147).
Em (a), temos as MC:
INQUISIO MQUINA
AGENTES SO ENGRENAGENS
(b) A rede de comissrios do Santo Ofcio comeou a ganhar fle-
go (p. 148).
Em (b), temos:
REDES SO PESSOAS
(c) A evoluo dessa rede por perodo, comarca e freguesia pode
ser observada no Quadro 1 (p. 149).
Em (c), temos:
REDES SO ORGANISMOS
(d) A montagem da rede de comissrios em Minas [] (p. 149).
Em (d) temos:
REDES SO MQUINAS
Adriano Dias de Andrade
124
(e) A Capitania teve influncia no recrutamento da rede de co-
missrios e na ao inquisitorial ocorrida na regio (p. 151).
E, finalmente, em (e) temos:
REDES SO EXRCITOS
Como podemos ver, o referente Inquisio primeiramente de-
finido em termos de um jogador, de um estrategista de guerra e tam-
bm em termos de rede (Exemplo 1 Trecho II). Em seguida (a) re-
tomado como uma mquina da qual os agentes so engrenagens. Logo
aps (b), a inquisio retomada como uma rede de pessoas, uma re-
de que capaz de ganhar flego. Em (c) a inquisio novamente me-
taforizada em termos de rede, uma rede no mais especificamente de
pessoas, mas de seres vivos em geral, uma rede que pode evoluir. J
em (d) a inquisio agora uma rede de mquinas. Mquinas que po-
dem ser montadas e desmontadas, que podem ter suas engrenagens
(agentes inquisitoriais, conforme metaforizado em [a]) retiradas ou
substitudas. Finamente em (e), a inquisio retomada como redes
de exrcitos, o que retoma a metfora que primeiro apareceu no texto
para conceptualiz-la A INQUISIO JOGADOR. Esses exemplos
mostram como os objetos do discurso so plsticos e como possvel
mold-los no decorrer dos textos. Mostram, principalmente, a metfo-
ra como uma importante estratgia de designao de referentes no
discurso cientfico.
No artigo H2, v-se uma discusso sobre a questo do conheci-
mento que produzido sobre nosso pas no sculo XVIII, segundo os
registros dos viajantes. H, nesse texto, outro exemplo bastante rele-
vante para a percepo da metfora como elemento que o discurso
utiliza para a manuteno e recategorizao de referentes ao longo
dos textos. Vejamos:
Exemplo 2 H2
(a) O conhecimento que a Europa do Setecentos foi acumulando
sobre os domnios coloniais sul-americanos. (p. 134)
Em (a):
CONHECIMENTO BEM ACUMULVEL
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
125
(b) Contribuiu para a construo do conhecimento cientfico. (p.
136)
Em (b):
CONHECIMENTO EDIFCIO
(c) Os piratas e corsrios foram tambm produtores de conheci-
mento sobre o litoral brasileiro. (p. 137)
Em (c):
CONHECIMENTO PRODUTO
(d) Confiavam em si e nas luzes da razo. (p. 144)
Em (d):
CONHECIMENTO (RAZO) LUZ
Esses trechos nos permitem observar como o referente conhe-
cimento vai sendo moldado ao longo do artigo. A fim de se conceptua-
lizar o conhecimento cientfico que surgia a partir dos relatos de viajan-
tes, o autor utiliza quatro domnios-fonte diferentes: BEM ACUMUL-
VEL; EDIFCIO; PRODUTO E LUZ. Como vemos, os domnios-fonte utili-
zados so todos domnios pertencente a experincias concretas. Ento
importante notar o esforo autoral em definir o conhecimento, em
aproximar esse conceito do leitor de seu texto. Em caracteriz-lo da
forma mais concreta possvel, a fim de que seu discurso seja inteligvel.
8 ALGUMAS CONSIDERAES
Foi possvel observar, por meio das anlises, que as metforas
cumprem funes para alm de uma taxonomia cognitiva postulada
pioneiramente por Lakoff e Johnson, em 1980, e revisada no posfcio
da edio de 2003, ou seja, podemos analisar metforas sem a obriga-
toriedade do enquadramento tipolgico: estrutural, orientacional e
ontolgico. No se trata de invalidar essas definies, mas da tentativa
de incurses mais ao nvel discursivo de anlise. Portanto, verificamos
que as metforas podem recobrir diferentes funes discursivas, den-
tre elas, a funo de promover a manuteno tpica nos textos, ou se-
ja, a funo de categorizar e recategorizar referentes, permitindo, as-
sim, a continuidade temtica.
Adriano Dias de Andrade
126
Os dois exemplos trazidos discusso neste artigo dizem respei-
to conceptualizao dos termos INQUISIO e CONHECIMENTO,
ambos so categorizados pelos autores como palavras-chave, dada a
sua importncia, pois se referem aos assuntos principais discutidos
em cada artigo. Isso demonstra que a metfora recrutada como es-
tratgia de categorizao e recategorizao de termos-chave em tex-
tos terico-acadmicos.
As anlises aqui apresentadas apontam para a necessidade de
mais estudos a respeito do nvel discursivo e, embora no tenhamos a
pretenso de generalizar, os exemplos apontam para uma questo
ainda no vista de maneira sistemtica, isto , a relao entre metfora
e palavras-chave, entre metfora e assuntos principais. Isso demanda
novas incurses na esfera acadmica e em outras esferas, para, dessa
maneira, fazer avanar nossa compreenso do fenmeno.
REFERNCIAS
ANDRADE, Adriano Dias de. A Metfora na textualizao dos artigos cientficos
de Fsica. Veredas, 15(2): 70-82, 2011.
ANDRADE, Adriano Dias de. As Metforas no Discurso das Cincias. Recife: UFPE,
2010, 173 f. Dissertao de Mestrado - Programa de Ps-Graduao em Letras,
Departamento de Letras, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.
ARISTTELES. Os pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1978. v. 1.
BERBER SARDINHA, T. Metfora. So Paulo: Parbola, 2007.
BLACK, Max. Modelos y metforas: estructura y funcin. Madrid: Editorial Tecnos,
1966.
CIAPUSCIO, Guiomar E. Las metforas en la comunicacin de la ciencia. In:
HARVEY, Anamaria. En torno al discurso. Santiago: Ediciones Universidad Catli-
ca de Chile, 2005. p. 81-93.
CONTENAS, Paula. A eficcia da metfora na produo da cincia o caso da
gentica. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
KVECSES, Z. Metaphor: a practical introduction. New York: Oxford, 2002.
KVECSES, Z. Metaphor in culture, universality and variation. New York: Cam-
bridge, 2005.
LAKOFF, George. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about
the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metaphors we live by. Chicago: The University
of Chicago Press, 2003 [1980].
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
127
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metforas da vida cotidiana. So Paulo: Mer-
cado das Letras / EDUC, 2002.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Philosophy in the Flesh. New York: Basic
Books, 1999.
MARCUSCHI, Luiz Antnio. Fenmenos da linguagem reflexes semnticas e dis-
cursivas. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
MONDADA, Lorenza; DUBOIS; Daniele. Construo dos objetos de discurso e ca-
tegorizao: uma abordagem dos processos de referenciao. In: CAVALCANTE,
Mnica; RODRIGUES, Bernadete B.; CIULLA, Alena. (Orgs.). Referenciao. So
Paulo: Contexto, 2003.
RICHARDS, I. A. The Philosophy of Rhetoric. New York and London: Oxford Uni-
versity Press, 1936.
SALOMO, Maria Margarida Martins. A questo da construo do sentido e a re-
viso da agenda dos estudos da linguagem. Veredas Revista de Estudos Lingus-
ticos, v. 3, n. 1, p. 61-79, jan./jun. 1999.
TEXTOS ANALISADOS
Artigo H1 Formao e atuao da rede de comissrios do Santo Ofcio em Minas
Colonial. Revista Brasileira de Histria, So Paulo, v. 9, n. 57, p. 145-164, 2009.
Artigo H2 O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do sculo XVIII: produo
de discursos sobre o novo mundo. Revista Brasileira de Histria, So Paulo, v. 28,
n. 55, p. 133-152, 2008.
Artigo H3 Imigrao e famlia em Minas Gerais no final do sculo XIX. Revista
Brasileira de Histria, So Paulo, v. 27, n. 54, p. 155-176, 2007.
O PAPEL DA METFORA CONCEPTUAL
NA CONSTRUO DAS MLTIPLAS LEITURAS
EM UM POEMA DE GUIMARES ROSA
Gislaine Vilas Boas
1
1 INTRODUO
Os conceitos metafricos estruturam nosso pensamento e, con-
sequentemente, tero implicaes na maneira de interpretar um texto.
Neste artigo, abordo a importncia da literatura em sala de aula, pro-
pondo uma prtica de leitura que considere a subjetividade dos leito-
res em um evento de letramento.
Por esta razo, este trabalho desenvolvido sob a corrente in-
terpretativista de pesquisa, uma corrente da metodologia qualitativa,
na qual se insere o instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho: o
Pensar Alto em Grupo, considerado, aqui, tanto um instrumento de
gerao de dados quanto uma prtica de letramento.
Assim, ao trabalhar com a prtica do Pensar Alto em Grupo, que
privilegia a interao entre os leitores, torna-se possvel investigar
como as metforas conceptuais influenciam a construo dos sentidos
das leituras durante a interpretao de um texto literrio em um even-
to social de leitura.
Pretendo, assim, destacar o papel dos conceitos metafricos no
processo de construo de leituras na interpretao do poema Impaci-
ncia, de Guimares Rosa.
Penso que a literatura deva ser estudada com novos propsitos,
ou seja, preciso nova prtica que atinja os objetivos da leitura liter-
ria em sala, qual seja dar espao para a emoo e para o sentimento do
leitor.
1
Mestre em Lingustica Aplicada e Estudos da Linguagem. UFSM.
E-mail: gvilasboas@ymail.com
Gislaine Vilas Boas
130
2 LER: UM NOVO CONCEITO
A prtica de leitura que apresento neste trabalho se baseia na
educao libertadora proposta por Freire, que critica a prtica da edu-
cao bancria, opondo-se a ela.
Minha pesquisa se apoia na educao democrtica e libertadora.
Afinal, como afirma Freire (2005/1987, p. 77), se, como educadores,
pretendemos a libertao dos homens, no podemos mant-los alie-
nados. Ao contrrio, a fim de formar cidados crticos e participantes
de uma sociedade, devemos prezar por uma educao libertadora e
problematizadora, que seja dialgica.
Na concepo libertadora da educao, os papis do educando e
do educador se transformam. No lugar de recipiente de depsitos, os
educandos passam a ser investigadores crticos, em dilogo com o
educador, que tambm assume outro papel, o de investigador crtico.
A leitura, como um dos meios mais importantes de acesso edu-
cao, atende aos pressupostos da educao bancria em vrios aspec-
tos em sala de aula. Segundo Macedo (1990), em geral, a prtica de
leitura na escola se constitui numa prtica excluda das dimenses so-
ciais e polticas.
A leitura, muitas vezes, encarada como a aquisio de formas
preestabelecidas de conhecimento, sendo os alunos corpos absolu-
tamente vazios espera de serem preenchidos pela palavra do pro-
fessor. nesse sentido que ocorre a alienao do aluno, que faz o uso
da leitura apenas para decodificar cdigos (MACEDO, 1990, p. 94). As-
sim, a prtica de leitura passa a ignorar a experincia de vida, a hist-
ria e a prtica lingustica desses alunos, tornando-se a leitura uma
atividade de conhecer o vocabulrio e significados engessados nas pa-
lavras (LAJOLO, 2008; MACEDO, 1990).
3 OS MODELOS COGNITIVOS DE LEITURA
O cognitivismo uma corrente terica que nasceu na psicologia,
com o intuito de investigar, pelos mtodos introspectivos, o que se
passa na mente humana durante um determinado processo ou ativi-
dade (MARCUSCHI, 2007). Todavia, os estudos cognitivos, segundo
Zanotto (2009), revelam que a mente humana no somente indivi-
dual, mas tambm social, o que resulta em uma abordagem sociocog-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
131
nitivista de pesquisa. Assim, as pesquisas lingusticas com relao ao
processo da leitura apropriam-se dos mtodos da vertente para en-
tender como o leitor pensa e age durante o processo de ler.
Apoiada nas palavras de Kato (1985), abordo os dois modelos
cognitivos de leitura utilizados pelo leitor do processo de compreen-
so do texto: bottom-up e top-down. O primeiro processo, o bottom-up,
conhecido como o processo ascendente e dependente do texto.
Nesse processo, para reconhecer o significado, o leitor deve fazer uso
linear e indutivo das informaes visuais contidas no texto (KATO,
1985, p. 40).
J o segundo, o top-down, conhecido como o processo descen-
dente e dependente do leitor. Esta uma abordagem no linear e faz
uso intensivo de informaes no visuais, tendo como base o conhe-
cimento prvio do leitor.
Para a autora, h dois tipos de leitores com base nesses proces-
sos: o leitor top-down e o leitor bottom-up. O leitor top-down o que
faz mais uso de seu conhecimento prvio do que da informao efeti-
vamente dada pelo texto (p. 40). J o leitor bottom-up o que faz
poucas leituras nas estrelinhas, tirando concluses com base nas in-
formaes visuais dadas pelo texto (KATO, 1985, p. 40).
No entanto, esses dois processos no so engessados, nem usa-
dos separadamente. Um nico leitor pode fazer uso dos dois processos
dependendo da familiaridade com o texto. Quanto maior sua familia-
ridade com o texto, mais top-down ser sua leitura. Enquanto menos
familiaridade resultar em maior dependncia do texto, este ser o
leitor bottom-up (KATO, 1985).
H tambm um terceiro tipo de leitor, o leitor maduro. Esse lei-
tor capaz de fazer uso dos dois processos de maneira complementar,
ou seja, o leitor e o texto devem ser considerados no processo de leitura.
Isto implica dizer que tanto o processo top-down quanto o bottom-up
devem ser utilizados para que haja uma interao entre os dois pro-
cessos, constituindo, assim, o modelo interativo, que compreende tan-
to o bottom-up quanto o top-down.
Desse modo, a leitura passa de um simples ato de decodificar,
como no estruturalismo, para um ato de interao entre texto e leitor.
O que muda, neste momento, a posio do leitor diante do texto.
Gislaine Vilas Boas
132
4 A LEITURA NA ABORDAGEM INTERACIONISTA: INTERAO LEITORAUTOR
Na abordagem interacionista, Kleiman (1999) afirma que ler no
apenas um ato cognitivo, mas um ato social. Para ela, o processo de
leitura vai alm da interao entre leitor e texto, percebendo a exis-
tncia de dois sujeitos autor e leitor no processo de compreenso.
Segundo a autora, ambos os sujeitos interagem entre si e obedecem a
objetivos e necessidades determinados socialmente.
Por essa razo, o sentido do texto no reside no prprio texto,
mas emerge dessa interao entre leitor e autor, mediados pelo texto.
Como aponta Kleiman (1999), o leitor constri, e no apenas pega o
significado contido no texto. Ele procura pistas formais, formula e re-
formula hipteses, aceita ou rejeita concluses.
J o autor tem a responsabilidade de convencer o leitor, apre-
sentando os melhores argumentos, a evidncia mais convincente da
forma mais clara possvel, organizando e deixando no texto pistas
formais a fim de facilitar a construo de significado pelo leitor
(KLEIMAN, 1999, p. 65). A interao entre leitor e autor e a construo
do sentido com base nas pistas deixadas pelo autor, a viso interaci-
onista da leitura. De acordo com Coracini (1995, p. 17), nessa aborda-
gem, considera-se a possibilidade de algumas leituras, mas estas de-
penderiam prioritariamente do texto e, de modo indireto, do autor,
que as autoriza ou no.
A questo das leituras autorizadas ou no pelo autor resulta na
discusso das inferncias feitas pelo leitor no momento da leitura.
Como aponta Colomer (2003), a escola ainda est reticente quanto a
promover o raciocnio crtico e inferencial do leitor.
5 O LEITOR E AS INFERNCIAS
Segundo DellIsola (2001, p. 43), o texto existe, o leitor infere.
Por essa razo, o ato de inferir faz parte do processo de compreender
um texto. A inferncia uma operao mental em que o leitor cons-
tri novas proposies a partir de outras j dadas (2001, p. 44). A
possibilidade da gerao de inferncias devido a lacunas existentes
em todos os textos.
O que importa discutir como essa questo da inferncia vem
sendo trabalhada na prtica de leitura em sala de aula.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
133
Trabalhar com o processo de inferncia na leitura significa ati-
var os conhecimentos individuais preexistentes no momento da leitu-
ra ou aps a leitura, o que vai trazer para cada indivduo compreen-
ses qualitativamente diferentes para o mesmo texto.
Se a inferncia leva em considerao a experincia particular de
cada um, a prtica que impe as inferncias do professor , no mni-
mo, incoerente. Para Marcuschi (2007), a produo de sentido passa
pelo processo de inferncia, ento, os processos inferenciais, segundo
ele, so construdos a partir de condies postas tanto pelo cdigo
como pelo co(n)texto e pelas intenes dos falantes numa situao
interacional (2007, p. 88).
6 A VISO PS-MODERNA DE LEITURA: A LEITURA COMO PRTICA SOCIAL
A partir do momento em que reconhecemos a leitura como pr-
tica eminentemente social e cultural, as pesquisas se expandem para
alm da leitura como um processo puramente cognitivo. Vale ressaltar
que o aspecto cognitivo da leitura no abandonado, mas sim reco-
nhecido como algo influenciado por aspectos socioculturais.
Um evento social de leitura, como define Bloome (1993, 1983),
no depende de uma discusso entre leitores. O evento social tambm
acontece na leitura individual, pois, para o autor, no processo da leitu-
ra devemos considerar a posio social que o autor tenta estabelecer,
a relao social que se estabelece entre autor e leitor, bem como con-
siderar o que est acontecendo durante o evento social em que um
texto escrito est sendo usado.
Segundo Coracini (2005), a viso ps-moderna de leitura, pro-
pe a considerao do sujeito e entende que o olhar do leitor est in-
teiramente impregnado por sua subjetividade, que histrica. De
acordo com a autora, ler, compreender, interpretar ou produzir sen-
tido uma questo de ngulo (2005, p. 23), de ponto de vista.
Porm, essa viso ps-moderna de que um nico texto admite
vrias inferncias e, por consequncia, vrias leituras no anulam o
texto, mas o transformam e o reescrevem, fazendo com que dele sur-
jam outros textos.
A prtica de leitura predominante na escola, entretanto, , em
geral, a da decodificao, na qual o texto apresenta um nico sentido,
uma nica leitura engessada nos sinais grficos.
Gislaine Vilas Boas
134
Segundo Zanotto (2010), mudar as prticas de leitura em sala de
aula e, assim, repensar os papis do professor uma maneira de
abandonarmos a prtica da educao bancria.
7 A LINGUSTICA APLICADA E A LEITURA COMO PRTICA SOCIAL
A LA ps-moderna, como aponta Zanotto (2010), no entende a
linguagem como autnoma, desconectada do contexto social, cultural
e histrico, ao contrrio, ela inteiramente constituda da subjetivida-
de e da ideologia dos sujeitos. Assim, segundo a autora, a linguagem
ideologicamente comprometida, por essa razo, sob esses parmetros,
o sentido considerado mltiplo e indeterminado (ZANOTTO, 2010,
p. 616).
A LA ps-moderna, segundo Moita Lopes (2006), busca construir
teorias que contribuam para as novas necessidades provenientes de
um sujeito social, cultural e histrico. Como observa o autor, torna-se
inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles que
vivem as prticas sociais que queremos estudar (2006, p. 31). Assim,
necessrio entendermos o leitor como um sujeito cognitivo e social,
por isso, de acordo com Kleimam (2005), o objeto de estudo da Lin-
gustica Aplicada se constitui na interface do social discursivo e do
cognitivo.
8 A METFORA CONCEPTUAL NO PROCESSO DA LEITURA
Na Teoria Conceptual da Metfora, pela qual so responsveis
Lakoff e Johnson, a metfora consiste em experienciar uma coisa em
termos de outra (1980, p. 4), ou seja, um domnio em termos de ou-
tro. Isto implica dizer que vivenciamos, por exemplo, o amor em ter-
mos de uma viagem.
Para exemplificar, utilizo a metfora conceptual AMOR UMA
VIAGEM, na qual as expresses metafricas, ou expresses lingusticas
do domnio de viagem so usadas para falar do amor.
9 EXPRESSES LINGUSTICAS
Veja a que ponto ns chegamos.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
135
Agora no podemos voltar atrs.
Ns estamos numa encruzilhada.
Nossa relao no vai chegar a lugar nenhum.
(ZANOTTO et al., 2002, p. 24)
Todas as expresses lingusticas listadas se referem a um nico
conceito metafrico, ou a uma nica metfora conceptual: AMOR
UMA VIAGEM. Com o intuito de aprofundar a questo dos conceitos
metafricos, considero necessrio entender o que so e como aconte-
cem os mapeamentos metafricos, que constituem o que Lakoff e
Johnson (1980) chamam de metfora para a Teoria da Metfora
Conceptual.
H, na metfora conceptual, um mapeamento de aspectos infe-
renciais do domnio-fonte para o domnio-alvo. A metfora AMOR
UMA VIAGEM resultado do seguinte mapeamento:
Inferncias
DOMNIO-ALVO DOMNIO-FONTE
AMOR VIAGEM
amantes Viajantes
relao Caminho
dificuldades Problemas na viagem
objetivos Destinos da viagem
Esse um exemplo de como os seres humanos vivem a experi-
ncia de uma coisa em termos de outra. Para Lakoff e Turner (1989),
os mapeamentos so os responsveis pelo fenmeno da metfora con-
ceptual, ao nos permitirem entender um conceito em termos de outro.
Dependem dos nossos modelos cognitivos e do nosso conhecimento
cotidiano, ou de mundo. De acordo com Lakoff e Turner,
[...] os esquemas conceptuais organizam nosso conhecimento. Eles
constituem modelos cognitivos dos aspectos do mundo, modelos
estes que usamos para compreender nossas experincias e para ra-
ciocinar sobre elas. Esses modelos cognitivos pelos quais entende-
mos o mundo, bem como nossas experincias, so inconscientes,
so usados automaticamente e sem nenhum esforo esses mode-
los cognitivos possibilitam os mapeamentos metafricos. (1989, p.
65-66) (traduo minha)
Gislaine Vilas Boas
136
Segundo os autores, os modelos cognitivos possibilitam a cons-
truo de inferncias. S podemos fazer um mapeamento metafrico
se conseguirmos inferir aspectos de um domnio para outro. Essas in-
ferncias so o que Lakoff (1993) chama de entailments.
Na metfora conceptual, segundo Lakoff e Turner (1989, p. 131),
a relao estabelecida entre o domnio fonte e o domnio alvo no
bidirecional. H, em uma metfora, um nico mapeamento que vai do
domnio fonte para o domnio alvo. Desse modo, h somente uma co-
nexo entre os domnios, proporcionada por uma estrutura inferencial.
No exemplo citado, AMOR UMA VIAGEM, ns estruturamos
amor em termos de viagem e mapeamos para o domnio AMOR uma
estrutura inferencial do domnio VIAGEM.
O nosso conhecimento de um domnio nos permite extrair infe-
rncias para entendermos o outro domnio. Quando um domnio serve
de fonte para um mapeamento metafrico, modelos inferenciais desse
domnio fonte so mapeados para o domnio alvo. As inferncias
permitidas pelo mapeamento no existiriam sem a metfora, pois a
metfora essencialmente inferencial (LAKOFF; TURNER, 1989, p.
120). Assim, o mapeamento, nada mais do que a capacidade de infe-
rncia metafrica, ou seja, a capacidade de usar uma estrutura infe-
rencial para entender um domnio em termos de outro.
Se a metfora dependente do mapeamento e o mapeamento
dependente da estrutura inferencial, do domnio fonte para o domnio
alvo, de quem ou de que depende a inferncia? Essa pergunta parece
j ter sido respondida, afinal, as inferncias de um domnio para o ou-
tro s acontecem se o indivduo ou, no caso da leitura, o leitor, tiver
conhecimento ou uma base experiencial que lhe possibilite fazer infe-
rncias.
Em virtude do espao de um artigo cientfico, apresento aqui
apenas dois mapeamentos acerca da concepo de tempo constru-
dos no processo de leitura do poema Impacincia.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
137
10 ANLISE DE DADOS
Impacincia
(Duas variaes do mesmo tema)
I
Eu queria dormir
longamente
(um sono s)
Para esperar assim
o divino momento que eu pressinto,
em que hs de ser minha
Mas
e se essa hora
no devesse chegar nunca?
Se o tempo,
como as outras cousas todas,
te separa de mim?!
Ento
ah!, ento eu gostaria
que o meu sono,
frissimo e sem sonhos
(um sono s)
no tivesse mais fim
II
Se eu pudesse correr pelo tempo afora,
vertiginosamente,
futuro adiante,
saltando tantas horas tediosas,
vazias de ti,
e voar assim at o momento de todos os
momentos,
em que hs de ser minha!
Mas
e se esse minuto faltar
nas areias de todas as ampulhetas?
E se tudo fosse intil:
a mquina de Wells,
as botas de sete lguas do Gigante?!
Ento
ah!, ento eu gostaria
de desviver para trs, dia por dia,
para parar s naquele instante,
e nele ficar, eternamente, prisioneiro
(Tu sabes, aquele instante em que sorrias
e me fizeste chorar)
(ROSA, Joo Guimares (1997/1967).
Magma. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira)
No processo de leitura do poema acima, duas concepes meta-
fricas acerca do conceito de tempo foram abordadas: tempo vilo
e tempo empecilho. De acordo com Lakoff e Johnson (1999, p.
139), quando buscamos conceituar o tempo no demora muito a apa-
recer uma metfora conceptual, pois, segundo os autores, pratica-
mente impossvel conceitualizarmos o tempo sem o uso da metfora.
Os conceitos de vilo e de empecilho, domnios-fonte, so mapea-
dos para o tempo, domnio-alvo. Os leitores estabelecem um mapea-
mento entre os domnios, o que traz a compreenso ou o que revela o
conceito metafrico ativado para tal compreenso.
Gislaine Vilas Boas
138
No primeiro processo, o leitor diz: na verdade aqui o tempo o
vilo. H aqui um processo de personificao, o qual apresenta a
mesma estrutura da metfora conceptual, pois para Lakoff e Johnson
(2002) a personificao uma metfora. H o mesmo mapeamento,
pois domnios ou caractersticas de vilo foram atribudos ao tempo:
TEMPO VILO
DOMNIO-ALVO DOMNIO-FONTE
Para os leitores, o eu-lrico sofre em funo de uma separao. A
partir dessa leitura construda (o sofrimento e a separao), um dos
leitores conceptualiza o tempo em termos de vilo.
Na segunda leitura metafrica, ativada por outro leitor, o empe-
cilho o tempo, aspectos do domnio-fonte fonte, empecilho, foram
mapeados para o domnio-alvo, tempo.
TEMPO EMPECILHO
DOMNIO-ALVO DOMNIO-FONTE
importante salientar que uma metfora, um mapeamento de
um domnio para outro s possvel se o leitor for capaz de estabele-
cer um processo inferencial entre os domnios. No caso do TEMPO
EMPECILHO, parece ter ocorrido um processo inferencial que, nesse
caso, metafrico.
Aspectos do conceito de empecilho como a funo de atrapalhar
algo, funo de obstculo, por exemplo, foram atribudos ao conceito
de tempo no processo de interpretao do poema. Isto requer uma
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
139
capacidade inferencial, que deve estar pautada no conhecimento em-
prico ou prvio dos leitores com relao ao conceito de tempo como
vilo e com relao ao conceito de tempo como empecilho.
11 CONSIDERAES FINAIS
As duas leituras/interpretaes foram construdas por meio da
interao entre os leitores, e essa construo se deu em meio a muita
discusso. Os conceitos metafricos aos quais os leitores recorreram
foram ativados na interao entre os participantes. Dessa forma, acre-
dito que o Pensar Alto em Grupo proporciona maior riqueza na cons-
truo de leituras, como tambm maior possibilidade de leituras.
Entendo ser a proposta da leitura na interao uma maneira de
promover um ambiente crtico em sala de aula, no qual os alunos pos-
sam se manifestar, ouvir o outro e se posicionar diante das divergn-
cias, ou mesmo ter a oportunidade de reafirmar suas posies.
possvel perceber, a partir das leituras consideradas, que o
nosso pensamento estruturado metaforicamente e os nossos concei-
tos guiam sim nossas interpretaes.
No caso da obra literria, por mais aberta que seja, ns sempre a
lemos com os nossos culos conceptuais. culos estes moldados por
nossas crenas, nossos valores e experincias. Os dois conceitos de
tempo destacados neste artigo no s influenciaram como guiaram a
construo das leituras (tempo vilo/tempo empecilho) acerca
desse fenmeno. Portanto, o papel da metfora conceptual na constru-
o do sentido do texto o de tecer, de conduzir as interpretaes dos
leitores.
Uma das caractersticas mais importantes do Pensar Alto em
Grupo permitir que o sujeito se posicione diante do outro e tambm
que aprenda a respeitar a posio do outro como outro, diferente de
si. De acordo com Zanotto (2010), o Pensar Alto em Grupo permite
que as vozes silenciadas pelo positivismo sejam ouvidas e mais do
que isso: permite ao aluno aprender a ouvir o outro, uma caractersti-
ca importante na resoluo de conflitos e na formao cidad desse
sujeito.
Ainda segundo a autora, aceitar as mltiplas leituras no passa
pela questo de dizer sim ou no leitura de um aluno, vai muito
Gislaine Vilas Boas
140
alm, passa pela questo do questionamento, ou melhor, do autoques-
tionamento do leitor; este o papel do professor dentro da nova pro-
posta da pesquisa qualitativa.
REFERNCIAS
BLOOME, David. Reading as a social process. Advances in Reading/Language re-
search, v. 2, p. 165-195, 1983.
BLOOME, David. Necessary indeterminacy and the microethnography study of
reading as a social process. Journal of Research in Reading, v. 16, n. 2, p. 98-111,
1993.
COLOMER, Tereza. O ensino e a aprendizagem da compreenso em leitura. In:
LOMAS, Carlos. O valor das palavras (I): falar, ler e escrever nas aulas. Lisboa:
ASA, 2003. p. 159-178.
CORACINI, Maria Jos R. Faria. Concepes de Leitura na ps-modernidade. In:
CARVALHO, Regina Clia; LIMA, Paschoal (Orgs.). Leitura: mltiplos olhares.
Campinas: Mercado de Letras, 2005. p. 15-44.
CORACINI, Maria Jos Rodrigues Faria. Leitura: decodificao, processo discursi-
vo? In: CORACINI, Maria Jos Rodrigues Faria. O jogo discursivo na aula de leitura.
Lngua materna e lngua estrangeira. Campinas: Pontes, 1995.
DELLISOLA, Regina Lcia Pret. Leitura: inferncias e contexto sociocultural.
Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
KATO, Mary. O aprendizado da leitura. So Paulo: Martins Fontes, 1985.
KLEIMAM, ngela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. So Paulo: Pon-
tes, 1999.
KLEIMAM, ngela. As metforas conceptuais na educao lingstica do profes-
sor: ndices de transformao de saberes na interao. In: KLEIMAM, ngela;
MATNCIO, Maria de Lourdes Meirelles (Orgs.). Letramento e Formao do Pro-
fessor. Prticas Discursivas, representaes e construo do saber. Campinas: Mer-
cado de Letras, 2005. p. 203-229.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. So Paulo:
tica, 2008.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metaphors We Live By. Chicago: The University
of Chicago Press, 1980.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Philosophy in the flesh: the embodied mind and
its challenge to western thought. New York: Basic Books, 1999.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metforas da Vida Cotidiana. Campinas: Mer-
cado de Letras / So Paulo: Educ, 2002.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
141
LAKOFF, George; TURNER, Mark. More than cool reason: a field guide to poetic
metaphor. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.
MACEDO, Donaldo. Alfabetizao e Pedagogia Crtica. In: FREIRE, Paulo;
MACEDO, Donaldo. Alfabetizao: leitura do mundo leitura da palavra. 3. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
Marcuschi, Luiz Antnio. Cognio, Linguagem e Prticas Interacionais. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2007.
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Por uma Lingstica Aplicada Indisciplinar. So Paulo:
Parbola, 2006.
ROSA, Joo Guimares. Magma. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
ZANOTTO, Mara Sophia. The multiple readings of metaphor in classroom: co-
construction of inferential chains. (As mltiplas leituras da metfora em sala de
aula: co-construo de redes inferenciais). In: DELTA, v. 2 6, p. 615-644, 2010.
ZANOTTO, Mara Sophia, Moura; Heronides Maurlio de Melo; Nardi, Isabel As-
perti; Vereza, Solange Coelho. Apresentao edio brasileira de George Lakoff
e Mark Johnson, Metforas da vida cotidiana. Campinas: Mercado de Letras, 2002.
O PRINCPIO DA RELEVNCIA E A
COMPREENSO DE ENUNCIADOS METAFRICOS
EM TEXTOS PUBLICITRIOS:
UMA ABORDAGEM NA INTERFACE ENTRE
PRAGMTICA E CINCIAS COGNITIVAS
Kri Lcia Forneck
1
A metfora tem sido objeto de estudo para muitos linguistas de
diferentes perspectivas tericas. Tambm a Teoria da Relevncia (TR)
tem contribudo para o enriquecimento do tratamento desse aspecto
da linguagem. A fim de se verificar a aplicabilidade do Princpio da Re-
levncia, escolheu-se o exemplo privilegiado dos enunciados metaf-
ricos produzidos em campanhas publicitrias, devido a seu carter
persuasivo e seu contexto comunicativo bastante peculiar. Pretende-se
verificar, de um lado, se as inferncias produzidas na interpretao
desses enunciados contribuem para incrementar o carter persuasivo
das campanhas publicitrias e, de outro, contribuir para com as dis-
cusses da interface entre pragmtica e cincias cognitivas.
Como a TR o enfoque terico adotado nesta investigao, a se-
guir, brevemente, sero apresentados os pressupostos tericos da me-
tfora adotados por Sperber e Wilson (1986 e 2008), Wilson e Sperber
(2012), Carston (2002) e Wilson e Carston (2006). Num segundo mo-
mento, apresentam-se alguns conceitos acerca da persuaso na lin-
guagem publicitria. E, por fim, apresentam-se as anlises de trs
campanhas publicitrias em cujos enunciados verbais h a ocorrncia
de metforas.
1
Mestre em Lingustica Aplicada pela PUCRS, doutoranda em Lingustica pela PUCRS,
professora da UNIVATES Centro Universitrio. E-mail: kari@univates.br
Kri Lcia Forneck
144
2 O MODELO TERICO DA TEORIA DA RELEVNCIA E O TRATAMENTO DA
METFORA
O modelo de comunicao idealizado por Sperber e Wilson
(1986) contribuiu, sobremaneira, para o entendimento do fenmeno da
metfora. Suas pesquisas incorporaram o modelo inferencial de co-
municao desenvolvido por Grice (1975). Assim como ele, esses au-
tores partem do pressuposto de que no possvel reduzir a comuni-
cao a um modelo de cdigo, popular desde Aristteles at a semiti-
ca moderna. O modelo terico de Sperber e Wilson explicou o modo
como se d o processamento cognitivo dos enunciados, acrescentando
aos estudos inferenciais a anlise da cognio humana durante o pro-
cesso comunicativo.
A Teoria da Relevncia baseada na ideia de que o ouvinte de-
ver fazer um esforo de ateno, de memria, de compreenso
para processar a comunicao se ele julg-la relevante, ou seja, se a
comunicao alterar ou enriquecer seu ambiente cognitivo, o que po-
de acontecer com o acrscimo de novos conhecimentos e crenas, ou
do cancelamento de velhas crenas, ou, simplesmente, de uma peque-
na mudana no grau de reconhecimento e confiana em suas velhas
crenas. Em quaisquer casos de comunicao verbal, desde os mais
complexos aos mais simplificados, o falante procurar garantir que a
proposio que intenciona expressar render efeitos contextuais sufi-
cientes para prender a ateno do ouvinte, quando processada em um
contexto ao qual o falante supe que o ouvinte tenha acesso. Essa a
tese central da Teoria da Relevncia, segundo a qual o Princpio da Re-
levncia (PR), por ele mesmo, suficiente para explicar o processo de
comunicao e compreenso humanas.
Em outras palavras, a TR baseia-se na ideia de que as pessoas es-
to atentas queles fenmenos que lhes parecem relevantes. O Princ-
pio da Relevncia, cuja definio norteia o trabalho de Sperber e Wil-
son, apresentado da seguinte maneira: Todo ato de comunicao
ostensiva
2
comunica a presuno de sua prpria relevncia tima
(SPERBER; WILSON, 1986, p. 158).
2
Neste estudo, comunicao ostensiva significa o ato de tornar manifesto aos interlocu-
tores a inteno informativa do falante. Em se tratando de uma comunicao verbal, o
prprio enunciado a evidncia direta dessa inteno. Trata-se, pois, de uma garantia
de relevncia apresentada pelo falante.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
145
Subjacentes ao Princpio da Relevncia esto as definies a se-
guir:
quanto maior o efeito cognitivo obtido pelo processa-
mento de alguma informao, maior a relevncia para o
indivduo que a processa;
quanto menor o esforo envolvido no processamento de
alguma informao, maior sua relevncia para o indiv-
duo que a processa.
O Princpio da Relevncia diz respeito s noes de efeito cogni-
tivo e de esforo de processamento, o que denota uma relao cus-
to/bene-fcio, na qual, de um lado, temos o pressuposto de que, em
uma situao comunicativa, se busque o mximo de benefcio e, de ou-
tro, que esse benefcio se d a partir do menor esforo de processa-
mento.
Para exemplificar essa ideia, tomemos o enunciado a seguir:
(1) A cobertura ficou desastrosa.
Para reconhecer a interpretao mais relevante, de acordo com
seu ambiente cognitivo, o ouvinte dever ser capaz de encontrar o re-
ferente adequado para COBERTURA
3
, que em (1) no est suficiente-
mente delimitado. O ouvinte ter, ento, que escolher dentre as inter-
pretaes possveis para o enunciado contido em (1), alguma que seja
mais relevante, tal como pode ser sugerido por (1a), (1b) ou outras
tantas possibilidades:
(1) (a) A participao dos jornalistas na transmisso de um evento
importante no foi satisfatria.
(b) A consistncia da cobertura do bolo no correspondeu s
expectativas do cozinheiro.
O modo como o ouvinte interpretar (1) vai depender, obvia-
mente, do contexto e de seu conhecimento enciclopdico. A fim de
avaliar qual das possibilidades acima a mais relevante para o ouvinte
e qual ser seu efeito cognitivo, preciso levar em conta o conjunto de
3
Conceitos lexicais so expressos por versaletes: COBERTURA; j os conceitos ad hoc,
por versaletes e asterisco: COBERTURA*.
Kri Lcia Forneck
146
suposies
4
que o ouvinte traz j internalizadas. O conjunto de suposi-
es fator crucial na interpretao mais relevante de um enunciado.
Em todos os casos o processamento o mesmo: o ouvinte recorre
a um conjunto de supostos especficos para o contexto e deriva, ento,
um conjunto de inferncias tambm especficas a esse contexto.
Quanto s metforas, Sperber e Wilson (2008) e Wilson e Sperber
(2012) procuraram explicar esse fenmeno lingustico a partir da
ideia de relevncia subjacente sua teoria, atualizando, inclusive, o
que j tinham proposto no modelo standard de 1986. Para eles, a me-
tfora no necessita de um tratamento especial nos estudos lingusti-
cos. O entendimento de um enunciado metafrico segue, portanto,
exatamente os mesmos caminhos inferenciais que qualquer outro
enunciado, diferentemente de linguistas antecessores, para quem a
compreenso de metforas seria consequncia de quebras de para-
digmas da linguagem literal
5
.
De acordo com a perspectiva da TR, o significado de um enunci-
ado metafrico emerge a partir do ajuste conceitual de elementos con-
textuais e de estreitamento (narrowing) ou alargamento (broadening)
de um conceito. Dessa associao de propriedades decorre a produo
de um conceito ad hoc, especfico para cada situao de comunicao.
A seguinte resposta, dada de A para B, serve para elucidar essa
questo:
(2) A: um gato.
Como primeira alternativa, reconheceremos o contexto em que
(2) esteja inserida, como sendo uma conversa entre A e B, no caso de B
ter perguntado qual era o bicho de estimao de A e, como resposta, A
proferisse (2). A fim de obter relevncia tima, a interpretao deve
considerar que GATO a que A se refere um animal, seu bicho de es-
timao. Portanto, nesse caso, teremos o significado ad hoc GATO*.
Entretanto, (2) pode significar algo diverso, se tomado em um
contexto em que duas garotas conversam sobre um rapaz que est
4
Neste trabalho, suposio corresponde ao conjunto de pensamentos que os indiv-
duos consideram como representaes do mundo real, conforme Sperber e Wilson
(1986, p. 2). Sero usados os termos supostos e suposies como sinnimos.
5
Para aprofundar o estudo destas questes recomenda-se a leitura de Grice (1975;
1981; 1991), Bergmann (1979; 1991), Searle (1982), Davidson (1984), Lakoff e John-
son (1980), Martinich (1991) e Levinson (2000).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
147
passando perto delas. B pergunta a A qual sua impresso sobre o ra-
paz, e esta responde:
(2) A: um gato.
Nesse caso, o contexto mais acessvel o de que o rapaz muito
bonito. A moa que ouve tal declarao sabe, de antemo, que deve
interpretar (2) como querendo significar:
(2) (a) Este garoto muito bonito e charmoso.
Temos, nesse caso, o conceito ad hoc GATO**. Os conceitos ad
hoc so frutos da produo de inferncias, aliadas ao contexto espec-
fico. So, portanto, conceitos tambm especficos a cada situao de
uso da linguagem. Nesse caso, houve um alargamento (broadening) de
significado: GATO deve ser entendido, desconsiderando-se relaes de
sentido que envolvem conceitos de zoologia, para ento se agregarem
conceitos que envolvem descries e avaliaes da aparncia de seres
humanos.
Sperber e Wilson argumentam, ainda, que o falante, de maneira
geral, pretende comunicar um pensamento complexo formado por v-
rias proposies, algumas mais salientes e conscientes do que outras.
Ao ouvinte cabe a tarefa de perceber justamente quais os aspectos
mais salientes, as propriedades emergentes, do que foi dito. Os auto-
res sugerem que o ouvinte sabe que uma declarao deve ser interpre-
tada como um pensamento do falante e que a informao comunicada,
por conta do Princpio da Relevncia, vem com uma garantia de ver-
dade e de relevncia. Dessa forma, o ouvinte deve computar, em or-
dem de acessibilidade
6
, aquelas implicaturas que devem ser mais rele-
vantes para ele.
Ento, se levarmos em conta a segunda possibilidade de contex-
to proposta para (2), possvel dizer que (2a) a inferncia mais rele-
vante para aquele contexto e que o acesso a ela mais forte do que
qualquer outra.
Aprofundando ainda mais a questo, tomemos como exemplo o
enunciado (3), em que o uso da metfora exige de parte do ouvinte
6
A noo de acessibilidade, aqui pretendida, refere-se s partes de informao que es-
to mais disponveis para os interlocutores e prximas do contexto em que se d a
comunicao.
Kri Lcia Forneck
148
uma interpretao a partir da relao entre Maria e mquina, que
normalmente no aparecem juntas em uma relao sujeito-predicado:
(3) Maria uma mquina.
Diferentemente do exemplo anterior, em (3) no h uma nica
implicatura forte que venha automaticamente mente do ouvinte. Ao
contrrio, para estabelecer a relevncia de (3) preciso encontrar
uma srie de efeitos contextuais que podem ser considerados como
implicaturas
7
mais fracas, tais como:
(3) (a) Maria muito eficiente.
(b) Maria trabalha sem descanso.
(c) Maria vive obedecendo a ordens.
(d) Maria dificilmente erra.
(e) Maria no tem tempo para o lazer.
Os autores argumentam que, em casos como (3), o ouvinte deve-
r assumir uma responsabilidade maior em relao derivao de in-
ferncias, a fim de interpretar aquilo que foi dito pelo falante, j que
lhe permitido ir alm da explorao do contexto imediato e de seu
conhecimento prvio, ou seja, o ouvinte tem uma liberdade maior para
acessar uma rea mais ampla de conhecimento e pode recorrer, por-
tanto, a vrias implicaturas mais fracas. Teramos, assim, para (3a)
MQUINA*, para (3b) MQUINA**, (3c) MQUINA***, e assim por di-
ante.
Wilson e Sperber (2012) abordam esse processamento da se-
guinte forma:
O ouvinte desenvolve (em paralelo) tentativas de interpretao dos
componentes explcitos e implcitos do significado proposto pelo fa-
lante, encerra-as quando esses se unem juntamente com o sentido
contextualmente explicitado, podendo, ento, derivar as implicatu-
ras conclusivas. (WILSON; SPERBER, 2012, texto digital)
Para os autores, algumas metforas so muito fceis de interpre-
tar, por produzirem uma implicatura mais forte (especialmente quando
7
Neste trabalho, implicatura refere-se ao contedo que implicado (entendido) pelos
falantes, de forma dedutiva, a partir daquilo que explicitamente dito (GRICE, 1975).
Dito e implicado podem no corresponder mesma ideia, como em uma ironia, por
exemplo.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
149
o enunciado literal correspondente exigir maior custo de processa-
mento). Outras metforas exigem um maior nmero de implicaturas
fracas para seu processamento tome-se (2a) para o primeiro caso e
(3a, b, c, d, e) para o segundo , embora produzam maiores efeitos
contextuais, devido a sua maior liberdade de interpretao.
Em relao a esse segundo grupo de metforas, Sperber e Wilson
(2008) sustentam a noo de efeito potico. Em metforas mais criativas,
portanto, a relevncia poder depender da gerao de vrias implicatu-
ras fracas e decorrente delas, a gerao de efeitos contextuais adicionais.
Alm de Sperber e Wilson, como j se disse, outros pesquisado-
res tambm abordaram a metfora, via TR. Em Carston (2002) e Wilson
e Carston (2006) argumenta-se, tambm, em favor de uma anlise da
metfora a partir da definio de compreenso dos enunciados veicula-
da noo de conceito ad hoc e ao Princpio de Relevncia e enfatiza-se
que a pragmtica tem um papel determinante na constituio da pro-
posio que o falante pretende comunicar. Em ambos os estudos,
afirma-se, ainda, que a TR no descreve com preciso de que modo se
d a passagem de uma palavra a um conceito ad hoc e que essa descri-
o um trabalho complexo para a lingustica contempornea. Sua
maior contribuio est na distino entre o entendimento de metfo-
ras mais convencionais e de metforas ditas mais criativas aquelas
que Sperber e Wilson sugerem produzir efeitos poticos, como j dito
anteriormente.
A fim de descrever esse processo, vejamos o seguinte exemplo:
(4) Roberto um trator.
8
Para compreender o significado de (4), o ouvinte precisa acessar
as entradas enciclopdicas de ROBERTO e TRATOR, que normalmente
no aparecem juntas em uma relao sujeitopredicado. Para o ouvin-
te, a relevncia de (4) depende dos efeitos contextuais produzidos na
formulao de implicaturas. Nesse caso, no h uma implicatura mais
forte que emerge do enunciado, primeira vista, mas um conjunto de
implicaturas como as apresentadas a seguir:
8
Robert is a bulldozer. (CARSTON, 2002, p. 85; WILSON; CARSTON, 2006, p. 17).
Kri Lcia Forneck
150
(4) (a) Roberto persistente.
(b) Roberto obstinado.
(c) Roberto insensvel.
(d) Roberto se recusa a cometer um desvio em seu caminho.
O problema que emerge desse exemplo o fato de que, se a pro-
duo de implicaturas depende do conhecimento enciclopdico de
trator, de que modo so produzidas as implicaturas acima, j que
conceitos de PERSISTNCIA, OBSTINAO, INSENSIBILIDADE no
podem ser associados ao conceito de TRATOR? Apenas seres humanos
podem ter essas caractersticas psicolgicas, mquinas no. As autoras
argumentam que, intuitivamente, propriedades humanas de ROBERTO
interagem com propriedades de TRATOR, de modo que so apontadas
diferentes propriedades que podem ser plausivelmente aplicadas como
predicao de Roberto (CARSTON, 2002; WILSON; CARSTON, 2006).
Defende-se, assim, a ideia de que uma anlise mais coerente das met-
foras deve levar em conta esse problema e que uma possvel explicao
para essa questo estaria em subdividir a anlise da metfora em dois
casos, conforme os exemplos:
(5) Joo um malabarista.
no contexto em que Joo no seja um malabarista profis-
sional, mas tenha uma habilidade muito grande em se sair
bem de situaes embaraosas e
(6) Joo uma porta.
no contexto em que Joo tenha muitas limitaes de co-
nhecimento e dificuldade de compreenso.
Em (5) as habilidades de Joo implicadas tm relao direta com
as habilidades que um malabarista profissional tem de ter. Assim, o
conceito ad hoc MALABARISTA* que construdo na compreenso do
enunciado inclui propriedades emergentes de um profissional dos ma-
labares. Semelhante ao problema apresentado em (4) Roberto uma
mquina, o exemplo (6) no segue o mesmo padro de (5), j que
PORTA* no apresenta caractersticas emergentes em comum com
PORTA.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
151
Segundo Carston (2002), caso aceitemos essa premissa, teremos
trs possibilidades de anlise:
a) Casos de estreita aproximao, resultantes de uma relao
entre o termo enunciado (item lexical) e o termo a ser inter-
pretado (conceito), como em Meu caf est gelado.
b) Casos em que algumas propriedades so compartilhadas,
como em (5).
c) Casos em que as propriedades implicadas no conceito ad hoc
no podem ser encontradas na entrada enciclopdica do
item lexical enunciado, como em (4) e (6).
Em Wilson e Carston (2006), reconhece-se a necessidade de a
Lingustica contempornea se debruar sobre tais especificidades, na
tentativa de melhor descrev-las e explic-las. As autoras sugerem que
uma explicao possvel para a compreenso dos enunciados est no
fato de as pessoas fazerem analogias entre elementos que parecem
no ter propriedades em comum. Ou seja, o falante e o ouvinte tm a
habilidade de mapear propriedades emergentes do domnio entre
MALABARISTAS e PESSOAS GEIS, entre TRATORES e PESSOAS
OBSTINADAS e entre PORTAS e PESSOAS COM DIFICULDADES DE
COMPREENSO.
Uma consequncia emerge, ento, do fato de se incorporar con-
ceitos ad hoc na explicao da compreenso da metfora: trata-se da
indeterminao dos conceitos ad hoc. De acordo com a TR, a inteno
manifesta pelo falante nem sempre requer do ouvinte a produo de
uma implicatura forte. Ou seja, para cada enunciado metafrico existe
a possibilidade de se constituir uma gama de implicaturas, de acordo
com o conhecimento enciclopdico do ouvinte. Alm disso, a produo
de implicaturas, como j dito neste trabalho, depende dos supostos
utilizados pelo ouvinte e da relevncia deles resultante, o que significa
que de responsabilidade do ouvinte a derivao das implicaturas dos
enunciados. Como resultado, a produo de conceitos ad hoc tambm
depender da relevncia percebida pelo ouvinte e, em alguns casos,
possvel que um mesmo elemento lexical produza diferentes conceitos
ad hoc, como o que acontece a partir de trator em (4) Roberto um
trator: TRATOR*, TRATOR**, TRATOR***, e assim por diante. Dado o
fato de que o ouvinte constri um conceito ad hoc que toma o lugar do
conceito decodificado pelo termo lexical na comunicao proposicio-
Kri Lcia Forneck
152
nal explcita, a caracterstica da indeterminao acaba sendo estendi-
da s implicaturas de muitos enunciados metafricos.
De que modo essa indeterminao pode ser favorvel persuaso
em anncios publicitrios? o que se mostrar nas prximas sees.
3 A METFORA NA LINGUAGEM PUBLICITRIA
Embora neste estudo no se tenha a pretenso de se desenvol-
ver uma abordagem sistemtica do texto publicitrio, algumas consi-
deraes a esse respeito podem ser feitas.
A tarefa fundamental de um anncio publicitrio atrair a aten-
o do receptor/leitor ou consumidor em potencial. por isso que a
linguagem verbal veiculada na publicidade um mecanismo extre-
mamente importante, como recurso de persuaso. Carvalho (2002)
sugere que a palavra o principal instrumento da linguagem publici-
tria. Segundo a autora, "a palavra deixa de ser meramente informati-
va, e escolhida em funo de sua fora persuasiva, clara ou dissimu-
lada" (CARVALHO, 2002, p. 18). Essa seleo das palavras empregadas
em um anncio publicitrio pode ser fator decisivo para se estabelecer
o grau de originalidade da campanha publicitria e, por conseguinte,
garantir o aliciamento do consumidor. J em 1997, Umberto Eco ar-
gumentava que
[...] a tcnica publicitria, nos seus melhores exemplos, parece ba-
seada no pressuposto informacional de que um anncio mais atrai-
r a ateno do espectador quanto mais violar as normas comuni-
cacionais adquiridas (e subverter, destarte, um sistema de expecta-
tivas retricas). (ECO, 1997, p. 157)
Neste ponto, pode-se dizer que o uso de jogos de palavras, que
tem como um de seus mecanismos o fenmeno lingustico da metfo-
ra, serve como um dos meios de quebra de expectativas do interlocu-
tor, j que subverte a linguagem comum da publicidade e, portanto,
auxilia na consecuo da ateno desejada por parte do anunciante.
Tambm Daz Prez (2000) argumenta em favor do uso da met-
fora nos anncios publicitrios, justificando que esse uso produzir
um efeito mais atrativo, o que, em consequncia, aumentar as chan-
ces de captar a ateno do leitor, especialmente, devido ao efeito sur-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
153
presa que produz. Esse autor sugere que, por esse motivo, a metfora
contribui efetivamente para que um anncio publicitrio seja relem-
brado com mais facilidade e durante mais tempo, o que altamente
favorvel ao anunciante, bem como ao fabricante do produto anunciado.
Os estudos envolvendo a anlise particularizada da linguagem
publicitria, tratando especificamente do uso de metforas e tendo
como base teorias lingusticas e seus conceitos, a fim de explicar, des-
crever e reconhecer de que modo se d a compreenso desse fenme-
no, podem contribuir, portanto, para o desenvolvimento em particular
desse aspecto da linguagem humana.
4 A METFORA NA PUBLICIDADE E AS INFERNCIAS PRAGMTICAS
Nesta seo do trabalho, pretende-se ilustrar de que modo se
aplicam, em trs peas publicitrias veiculadas na mdia impressa e
disponveis em sites da Internet, os conceitos abordados nas sees
anteriores, a fim de se evidenciarem as vantagens do emprego de me-
tforas em textos publicitrios.
Embora as mensagens visuais sejam altamente sugestivas para a
interpretao dos anncios, no se tem a pretenso de especific-las,
por no se terem aprofundado nesta anlise conceitos de semitica.
Basta reconhec-las como auxiliares na produo do significado dos
anncios como um todo, na medida em que o leitor tambm se vale do
efeito visual produzido pelas imagens para interpretar uma campanha
publicitria. Portanto, o enfoque est na linguagem verbal, embora se
reconhea que a TR tambm possa ser aplicada anlise das infern-
cias produzidas com a leitura da imagem.
Figura 1: Pea Publicitria
Fonte:
<http://www.ccsp.com.br/
site/anuarios/anuarios.php?
ano=25&c= R&p=2&pag=5>
Acesso em: 15 mar. 2013.
Kri Lcia Forneck
154
(1) Voc um anjo e no sabia.
Primeiramente, preciso situar o contexto no qual esse anncio
est inserido. Trata-se de uma campanha de uma companhia telefnica
que, durante um perodo x de tempo, destina parte da renda obtida com
as ligaes a uma instituio de apoio criana e ao adolescente com
cncer. Esse contexto pode ser extrado da frase em menor evidncia:
(2) Em dezembro, parte dos DDDs feitos com a 15 vai para o Hospi-
tal do Grupo de Apoio ao Adolescente e Criana com cncer.
O emprego da metfora ANJO relacionada ao leitor (VOC) suge-
re uma intencionalidade por parte do falante
9
: comunicar-se via met-
fora pode significar uma economia de palavras, alm de uma reao
positiva por parte do possvel consumidor, j que um anncio com
metforas causa surpresa e estranhamento. Se a empresa, em lugar do
texto empregado, tivesse utilizado o texto a seguir, muito provavel-
mente, o interesse do receptor seria menor:
(3) A Telefnica quer fazer com que voc se sinta uma pessoa ex-
tremamente boa, porque est fazendo o bem a outras pessoas, sem
que voc se d conta disso.
Apesar da vantagem aparente que supe o emprego da metfo-
ra, o emissor tem que pagar um preo, j que o esforo de processa-
mento de um enunciado metafrico maior que o de um enunciado
literal. mais fcil interpretar voc uma pessoa muito boa do que o
enunciado (1), porque a relao de significao, a partir da combina-
o entre traos emergentes menos complexa entre PESSOA MUITO
BOA e VOC, do que ANJO e VOC, uma vez que o primeiro par pode
apresentar mais traos emergentes em comum do que o segundo.
Isto pode ser explicado pela anlise do conceito ad hoc de
ANJO*: percebemos que existem algumas caractersticas salientes (ou
propriedades emergentes) de ANJO que so associadas ao conceito
VOC que corresponde, nesse caso, diretamente personificao do
prprio leitor. Para interpretar o conceito ANJO, o leitor/ouvinte preci-
9
Tomaremos o termo falante representando o anunciante do texto publicitrio.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
155
sa acessar vrios supostos, tais como a ideia de divindade e de sobrena-
turalidade e a ideia de bondade e de caridade. Desses, resulta que os
menos salientes, como DIVINDADE e SOBRENATURALIDADE, no po-
dem ser associadas a VOC, por ser esta uma pessoa do mundo real, e
no do mundo sobrenatural. Entretanto, BONDADE e CARIDADE po-
dem. Para garantir as implicaturas resultantes do processo de interpre-
tao, o leitor precisa ajustar, por meio de estreitamento (narrowing), o
conceito ANJO s inferncias produzidas para o novo conceito ad hoc
ANJO*, adaptando os supostos acessados: se VOC estiver usando o
produto, ento UMA PESSOA EXTREMAMENTE BOA E CARIDOSA*. Ao
emissor cabe a tarefa de possibilitar a contextualizao dessa informa-
o, mas o receptor que precisa recuperar seu conhecimento enciclo-
pdico para reconhecer quais das caractersticas so mais salientes que
as outras, para o contexto da publicidade.
Quando se processa neste contexto, (1) produzir uma implica-
tura forte como em (a):
(a) Voc que usa a Telefnica uma pessoa extremamente boa.
Entretanto, se o emissor quisesse transmitir simplesmente isso,
poderia t-lo feito diretamente. possvel, ento, que quisesse que a
audincia recuperasse outras implicaturas mais fracas, resultantes
dessa primeira, que compensam o esforo de processamento adicional
originado em (1):
(b) Voc que usa a Telefnica est ajudando outras pessoas.
(c) A Telefnica faz voc ser algum muito especial.
(d) A Telefnica preocupa-se com os outros.
(e) A Telefnica uma boa empresa porque ajuda os outros.
Os efeitos contextuais em (1b-e) poderiam compensar o esforo
de processamento adicional demandado por (1a). Assim, a relevncia
tima de (1a) ser evidenciada mediante a inferncia de implicaturas
mais fracas derivadas do conceito ANJO*.
Kri Lcia Forneck
156
Figura 2: Pea Publicitria
Fonte: <http://www.ccsp.com.br/site/anuarios/anuarios.php?ano=20&c=
R&p=6&pag=2>. Acesso em: 15 mar. 2013.
(4) A mamadeira da mame.
Trata-se de um anncio do iogurte batido Danone. Embora no
siga, explicitamente, a forma conceitual de metfora SER (x, y), est
subentendido algo parafrasevel como DANONE A MAMADEIRA DA
MAME.
Neste anncio, a linguagem no verbal tem papel importante,
porque o conceito MAMADEIRA est diretamente relacionado ima-
gem da me grvida.
O leitor sabe que a inteno do anunciante vender um produto
que, nesse caso, uma marca de iogurte. O leitor sabe, tambm, que
em um anncio so as caractersticas positivas do produto que so
evidenciadas, no intuito de influenciar o consumo. Com base nesse
contexto e no reconhecimento da inteno do anunciante, o leitor usa
o input MAMADEIRA, para acessar seu conhecimento enciclopdico,
num movimento cognitivo de relacionar os conceitos IOGURTE e
MAMADEIRA. Da resulta a ativao de vrios supostos, entre os quais:
o contedo das mamadeiras costuma ser leite, leite faz bem ao beb,
iogurte derivado do leite, uso da mamadeira, limpeza da mamadeira,
tomar leite demais pode engordar, as mes do de mamar aos filhos,
dar de mamar ao beb , alm de nutritivo e saudvel, um ato de amor
e carinho, uma mulher grvida bem alimentada, muito mais que com-
partilhar sade com o beb, preocupa-se com ele, entre outras. Alguns
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
157
desses supostos, por serem irrelevantes a esse contexto, sero aban-
donados. Permanecero aqueles que contm conceitos de NUTRIO*,
COMPOSIO*, RELAO MES E FILHOS* e AFETIVIDADE* por servi-
rem de premissas para que se estabelea uma relao entre o iogurte
anunciado e o conceito MAMADEIRA. Desse processamento, o leitor
constri, por alargamento (broadening), um conceito ad hoc MAMADEI-
RA*, especfico para esse contexto.
A partir de ento, o leitor, levando em conta o grau de acessibili-
dade dos supostos, vale-se do conceito ad hoc MAMADEIRA* para dele
derivar as implicaturas:
(a) Danone, que derivado do leite, faz bem mame.
(b) Danone, em consequncia de (a), faz bem ao beb, que est
dentro da barriga da mame.
(c) Danone preocupa-se com o bem-estar da me e do beb.
(d) Danone, por ser muito nutritivo, o melhor iogurte para
mulheres grvidas.
Percebe-se um alto custo no processamento dessa propaganda,
embora o benefcio seja igualmente alto. Do enunciado (4), derivaram-
-se vrias implicaturas, altamente positivas, qualificando o produto
aos olhos do leitor.
Figura 3: Pea Publicitria
Fonte:
<http://www.ccsp.com.br/anua
rios/anuarios.php?ano=20&c=
R&p=2#nav>. Acesso em: 20
maio 2013.
Kri Lcia Forneck
158
Antes de dormir, no esquea de apagar os insetos.
Esta uma pea publicitria que est anunciando o inseticida
Rodasol.
O termo empregado em sentido metafrico APAGAR. Porm, o
anunciante faz um jogo de palavras entre o sentido literal e o metaf-
rico dessa palavra. Como a transitividade do verbo exige uma com-
plementao, o leitor induzido a pensar, no ato da leitura, em algo do
tipo: apagar a luz, a televiso, o som, o ar condicionado ou qualquer
outra coisa que pressuponha conexo com a rede eltrica. Mas, como
APAGAR vem complementado por OS INSETOS, h uma significao
metafrica para o verbo. H dois caminhos de interpretao possveis
para que se consiga relacionar APAGAR com RODASOL.
No primeiro, o leitor, valendo-se de seu conhecimento enciclo-
pdico, precisaria ativar, dentre os supostos possveis, o de que
APAGAR pode significar desligar algo ligado corrente eltrica, ou seja,
fazer parar de funcionar. Disso resulta o fato de que esse suposto no
pode ser relacionado ao produto Rodasol, porque no essa a funo
do produto. Todavia, num processo de adaptao, por alargamento
(narrowing), que envolve ajustamento pragmtico do material concei-
tual armazenado na entrada enciclopdica do conceito decodificado,
tal suposto pode servir de premissa para um novo conceito, ad hoc,
que se valha das caractersticas salientes do produto e da ao de dei-
xar de funcionar INANIO*, que poderia ser relacionado a
INSETOS, se se considerar que a inanio provocada pelo inseticida
equivale morte dos insetos. Ento, seriam derivadas as seguintes
implicaturas:
(5) (a) Insetos vivos perturbam o sono.
(b) Rodasol faz com que os insetos parem de agir.
(c) Rodasol permite ao consumidor um sono tranquilo.
Outra possibilidade est relacionada ao j cristalizado sentido de
APAGAR que, inclusive, figura em verbetes de dicionrios como gria.
Nesse caso, acionando seu conhecimento enciclopdico, o leitor preci-
saria acessar como mais relevantes os conceitos de FAZER COM QUE
DEIXE DE VIVER*, EXTINGUIR* de MATAR* e relacion-los ao conceito
APAGAR, ao contexto de uso e inteno do anunciante. Desse proces-
so, resulta o conceito ad hoc APAGAR** e, a partir dele, a derivao das
seguintes implicaturas:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
159
(5) (a) Insetos vivos perturbam o sono.
(d) Rodasol mata os insetos.
(e) Insetos mortos equivalem a sono tranquilo.
Para um nico contexto, h a possibilidade de se produzirem
dois tipos de inferncias, semelhantes entre si, mas que exigem proce-
dimentos interpretativos diferentes. o leitor quem decide que cami-
nho vai traar para interpretar o enunciado, e sua escolha vai depen-
der da relao custo-benefcio: provvel que cada leitor interprete o
enunciado utilizando o procedimento que despender menor custo.
Apesar do alto custo de processamento, tem-se neste caso um
exemplo de como os efeitos contextuais adicionais compensam esse
processamento.
5 CONSIDERAES FINAIS
A fim de verificar com maior preciso a relao entre os pressu-
postos tericos da TR e a compreenso de enunciados metafricos de
campanhas publicitrias, foram apresentados os tericos que reconhe-
cem os fatores pragmtico-cognitivos como responsveis pela adequa-
o do significado das proposies contidas nas sentenas. Em razo
disso, conclui-se que, ao processo de compreenso da metfora foi
acrescida a ideia de que o acesso aos supostos armazenados na mem-
ria enciclopdica do leitor guiado pelo Princpio da Relevncia, e que,
como resultado de uma adaptao pragmtica ao contexto, via broade-
ning ou narrowing, e intencionalidade do falante, tais supostos consti-
tuem-se em premissas para a formao dos conceitos ad hoc que com-
poro as inferncias derivadas. Adita-se, ainda, que a compreenso das
metforas de anncios publicitrios segue o mesmo princpio da com-
preenso da linguagem literal, mas que a metfora pode favorecer o al-
cance da persuaso, uma vez que surpreende o leitor porque foge do
lugar-comum dos textos publicitrios, tornando-os mais atraentes.
No se pretendeu aqui desenvolver uma tese sobre a publicida-
de em seu carter complexo e geral. O propsito era tratar de uma
questo pontual, que pode ser analisada a partir de uma teoria lingus-
tica, no caso a Teoria da Relevncia. Sabe-se, entretanto, que h muito
a ser explicado no que diz respeito publicidade, e muito a ser discu-
tido, em se tratando de relevncia. H que se debater, por exemplo,
como se constituem os supostos, dos quais so derivadas as proprie-
Kri Lcia Forneck
160
dades dos conceitos. De qualquer forma, a interface entre Pragmtica
e as cincias da cognio pode e deve ser levada em considerao, co-
mo aqui se prope.
REFERNCIAS
BERGMANN, Merrie. Metaphor and formal semantics. Poetics, v. 8, n. 1/2, p. 213-
230, April 1979.
BERGMANN, Merrie. Metaphorical assertions. In: DAVIS, S. Pragmatics: a reader.
New York: Oxford University Press, 1991. p. 485-494.
CARSTON, Robin. Metaphor, ad hoc concepts and word meaning. UCL working
papers in linguistic, 14, p. 83-105, 2002.
CARVALHO, Nelly de. Publicidade: a linguagem da seduo. So Paulo: tica,
2002.
DAVIDSON, Donald. What metaphors mean. In: _______. Inquires into truth and
interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984. p. 245-264.
DAZ PREZ, F. J. Sperber and Wilsons relevance theory and its applicability to
advertising discourse: evidence from British press advertisements. Atlantis
XXII(2), p. 37-50, 2000.
ECO, Humberto. A estrutura ausente. 7. ed. So Paulo: Perspectiva, 1997.
GRICE, Paul. Mening. In: STEINBERG, Danny; JAKOBOVITS, Leon. Semantics: a
interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology. Cambridge:
Cambridge Unversity Press, 1975. p. 52-65.
GRICE, Paul. Presupposition and conversational implicature. In: COLE, Peter.
Radical pragmatics. New York: Academic Press, 1981. p. 183-198.
GRICE, Paul. Logic and Conversation. In: DAVIS, S. Pragmatics: a reader. New
York: Oxford University Press, 1991. p. 305-315.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University of Chica-
go Press, 1980.
LEVINSON, Stephen C. Presumptive meanings: the theory of generalized conver-
sational implicature. Cambridge MA: MIT Press, 2000.
MARTINICH, A. P. A theory for metaphor. In: DAVIS, S. Pragmatics: a reader. New
York: Oxford University Press, 1991. p. 507-518.
SEARLE, John R. (1982) Metaphor. In: DAVIS, S. Pragmatics: a reader. New York:
Oxford University Press, 1991. p. 519-539.
SPERBER, Dan; WILSON, Deirdre. Relevance: communication & cognition. 2
nd
ed.
Cambridge: Blackwell, 1986.
SPERBER, Dan; WILSON, Deirdre. A deflationary account of metaphors. In:
GIBBS, R. (Ed.). The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008. p. 84-105.
WILSON, Deidre; CARSTON, Robin. Metaphor, Relevance and the 'Emergent
Property' Issue. Mind and Language, 21 (3), p. 404-433, 2006.
WILSON, Deidre; SPERBER, Dan. Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012. E-book.
A RELAO DOS PROCESSOS COGNITIVOS
DE INFERNCIA E PREDIO: UMA INTERFACE
ENTRE PSICOLINGUSTICA E PRAGMTICA
Jonas Rodrigues Saraiva
1
1 INTRODUO
Ao se estudar o processamento cognitivo da linguagem humana,
possvel deparar-se com a capacidade de produzir e reconhecer in-
formaes que no esto presentes no cdigo materializado, mas que
so dele retiradas (inferenciao). Essa capacidade, a partir dessas
informaes, parece poder potencializar o processo de antecipao da
materializao do cdigo, ou seja, de predizer a linguagem (predio).
O presente captulo se ancora no eixo cognitivo dos estudos da
linguagem, estando baseado em um trabalho que utilizou fundamen-
tos das reas da Pragmtica e da Psicolingustica, tendo como objetivo
central o de contribuir para os estudos que buscam interfaces produ-
tivas entre reas da lingustica, como essa. Para tentar aproximar as
duas reas citadas, foram estudados, de maneira relacionada, os fe-
nmenos da inferenciao e da predio, pertencentes a elas respecti-
vamente. Mais especificamente, o trabalho se deu a partir da anlise
lingustica de um texto do gnero propaganda radiofnica, buscando
relaes internas e externas existentes entre processos inferenciais e
preditivos, visualizando, por meio dessa anlise, os pontos de contato
entre as reas envolvidas. A hiptese principal era de que esses fen-
menos se do em uma relao de interdependncia, na qual, para
ocorrer o segundo, necessita-se do primeiro.
Este captulo visa relatar o trabalho citado, apresentando a se-
guir os pressupostos tericos que o embasaram, a anlise e as conclu-
1
Mestre em lingustica pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul. Con-
tato: jonasrsaraiva@hotmail.com
Jonas Rodrigues Saraiva
162
ses que puderam ser construdas a partir do seu escopo terico-
metodolgico.
2 PRESSUPOSTOS TERICOS
A viso de linguagem como processo cognitivo aqui assumida,
tendo em vista a possibilidade de assim relacionarem-se as reas de
Psicolingustica e Pragmtica.
Falar em processamento cognitivo, hoje, significa assumir os
processos mentais que envolvem toda a experienciao, aquisio,
produo, alterao, armazenamento e evocao do conhecimento
considerando as variaes para esses termos na literatura das diver-
sas teorias.
Nessa viso, a Psicolingustica e a Pragmtica so reas da lin-
guagem que buscam conhecer processos mentais para o uso da lin-
guagem natural
2
, ponto de interesse que as aproxima. Dois desses
processos so a predio e a inferenciao.
3 A PSICOLINGUSTICA E A ESTRATGIA DE PREDIO
A Psicolingustica, em linhas gerais
3
, a rea da cincia que une
Psicologia e Lingustica para o estudo do processo de produo da lin-
guagem humana e considera esse processo como totalmente cognitivo.
Considerando o processamento, o leitor, segundo Sol (1998) e
Pereira (2009), entre outros autores, faz uso de estratgias para com-
preenso. Essas estratgias so utilizadas dependendo dos intuitos
que o usurio tem ao entrar em contato com a informao lingustica.
Por exemplo, em um trecho que contm um relato histrico, se
houvesse a inteno por parte do leitor em buscar o ano de nascimen-
to de determinada personalidade, no seria necessrio reler todo o
texto, atentando para todas as informaes disponveis e no relaci-
onadas diretamente informao buscada. Seria mais rpido e estra-
tgico direcionar a ateno e os movimentos oculares a pontos espec-
ficos no texto (nmeros agrupados em 4 algarismos) para otimizar o
2
Entende-se por linguagem natural a linguagem humana em processo de execuo, de
uso, falado ou escrito, e por qualquer meio transmissor, desconsiderando linguagens
lgicas e linguagens no criativas e no recursivas.
3
Sugere-se o texto de Scliar-Cabral (1991) para aprofundamento nas bases da rea.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
163
processo. Essa estratgia de leitura chamada de Skimming e utili-
zada para os casos em que no se faz necessria uma leitura linear e
detalhada do texto para a obteno de alguma informao ou compre-
enso de algum aspecto especfico.
Para um conhecimento maior sobre cada uma dessas estratgias
e suas funes, podem ser verificados os escritos das referidas auto-
ras. O presente trabalho detm-se sobre somente uma dessas estrat-
gias, que parece ser, segundo os estudos de Pereira, a estratgia-chave:
a predio.
Predio um conceito primordial, em se tratando de compreen-
so, pois a capacidade de formular hipteses prvias, com base em pis-
tas lingusticas (ou no
4
), sobre conceitos, informaes e dados que es-
to mais adiante no texto no importando o meio por que veiculado.
Smith (1989, p. 34), um dos principais autores dessa abordagem,
afirma que
[...] a previso o ncleo da leitura. Todos os esquemas, scripts e
cenrios que temos em nossas cabeas nosso conhecimento pr-
vio de lugares, situaes, de discurso escrito, gneros e histrias
possibilitam-nos prever quando lemos, e, assim, compreender, ex-
perimentar e desfrutar do que lemos. A previso traz um significa-
do potencial para os textos, reduz a ambiguidade e elimina, de an-
temo, alternativas irrelevantes.
O autor ressalta que compreenso e predio esto interligadas.
Para ele, prever fazer perguntas, e compreender ter capacidade de
responder a perguntas. Essas perguntas, realizadas durante uma leitura,
por exemplo, so previses sobre os trechos sucessores. So previses
hipotticas que podem ser corroboradas ou negadas medida que o
trecho alvo da predio vai sendo lido e compreendido.
Essas hipteses preditivas, segundo Smith, so feitas em nveis
diferentes, desde os mais globais aos mais focais.
Parece haver, portanto, nveis abaixo (ou acima) do lingustico
materializado para a chegada concluso (e compreenso). Nveis
tanto de informaes quanto de raciocnio, processamento do no ex-
plcito, ou seja, do implcito.
4
Embora a teoria no abarque a anlise de pistas no lingusticas para a predio, tam-
pouco exclui essa possibilidade que claramente existe e utilizada.
Jonas Rodrigues Saraiva
164
Nesse ponto, podem ser feitas as perguntas: A predio feita
somente com base em informaes in presencia? Que processamentos
so utilizados para gerar as hipteses preditivas?
No intuito de respond-las, pode-se comear citando a afirmao
de Kato (1995): O leitor [] se apoia principalmente em seus conhe-
cimentos prvios e sua capacidade inferencial para fazer predies
sobre o que o texto dir.
Para dar seguimento a essas questes, os estudos pragmticos
tm especial importncia, no sentido de inserirem-se os conhecimen-
tos sobre o processo de inferenciao.
4 A PRAGMTICA E A INFERENCIAO
A viso Pragmtica
5
aqui assumida considera possveis para o
ser humano dois processos cognitivos em linguagem natural: a produ-
o e a compreenso de inferncias. Na histria da lingustica, so
abundantes os estudos sobre essa capacidade. Dentre eles, as produ-
es de Levinson (1983, e outros), Grice (1957; 1975) e Sperber e
Wilson (2005) so de especial importncia para a presente reflexo.
Deles, Grice foi o pioneiro, apresentando a Teoria da Implicaturas, que
ser abordada a seguir.
A capacidade de fazer inferncias em linguagem natural se refe-
re possibilidade de entender o no dito, o subentendido, o implcito,
de acrescentar ao texto
6
informaes nele no presentes, mas poss-
veis por pistas lingusticas presentes.
Sobre o assunto deste tpico, cabe esclarecer que no h a preo-
cupao pela construo de uma caracterizao terica das inferncias,
nem mesmo de uma tipificao. Tambm no se quer dar conta de
abarcar todos os casos. Nas anlises feitas na sequncia do estudo, esta-
ro em pauta o reconhecimento da necessidade inferencial e a recupe-
rao de informaes inferidas, no sua categorizao. Porm, para efei-
tos de estudo e aprofundamento, cabem essas categorizaes, que de-
vem observar, como dito, o principal aspecto que permite diferenciar
inferncias: o reconhecimento de sua base lingustica principal.
5
Sugere-se o texto de Costa (2008) para aprofundamento na rea.
6
Entenda-se por texto qualquer realizao lingustica com sentido em linguagem na-
tural (texto, discurso, imagem, cdigo em uso).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
165
Quando se trata de reconhecimento de inferncias, sempre de-
vem considerar-se as diferenas nos processos inferenciais, no conhe-
cimento prvio e experincias de cada indivduo, j que a mesma situa-
o pode gerar inferncias diferentes para mais de um usurio da ln-
gua. A noo de relevncia particularmente importante para tanto, j
que inferncias podem ser niveladas, organizadas hierarquicamente
por relevncia com relao ao input que as gerou.
Segundo Sperber e Wilson (2005), criadores da TR (Teoria da
Relevncia), intuitivamente, relevncia no uma questo de tudo ou
nada, mas uma questo de graus. Esses graus fazem com que o ouvinte
opte por uma das implicaturas dependendo do seu grau de relevncia.
Na origem da noo de relevncia, um dos conceitos bsicos a
relao custo-benefcio, ou esforo-efeito, que avaliada pelo indiv-
duo por meio de julgamentos comparativos intuitivos.
Em linhas gerais, busca-se a compreenso de inferncias por
meio de hipteses que so elencadas e ordenadas mentalmente de
acordo com a relevncia que apresentam para a situao, para o enun-
ciado, para o contexto, para os falantes etc.
A busca pela relevncia (Princpio Cognitivo de Relevncia) ,
segundo a TR, uma tendncia universal da cognio humana. Em qual-
quer situao, h a busca da maximizao da relevncia
7
.
5 UMA ANLISE CONJUNTA
Com base em todo o exposto at este ponto, parece haver relaes
de dependncia entre processos inferenciais e processos preditivos.
As hipteses de predio so feitas com base em elementos textuais e
extratextuais, porm a unio destes elementos feita por processos
externos aos textos e basilares predio, ou seja, diferentes dela, mas
inerentes a ela.
No sentido de explorar essa relao e propor pontos de contato
entre as reas s quais pertencem os estudos desses dois processos
cognitivos, construiu-se uma metodologia que visa a demonstrar teo-
7
No sentido de corroborar essa teoria e aproximar ainda mais as duas reas (Pragmti-
ca e Psicolingustica), veja-se, na citao de Smith (1989, p. 34), o uso no casual da
palavra relevncia ao tratar do processamento da predio: A previso traz um signi-
ficado potencial para os textos, reduz a ambiguidade e elimina, de antemo, alternati-
vas irrelevantes. (grifo do autor).
Jonas Rodrigues Saraiva
166
ricamente por meio da anlise lingustica de um texto como eles se
mesclam e em que medida interdependem ambos.
O texto, do gnero propaganda radiofnica mencionado em sua
forma transcrita original e completa a seguir:
Incio.
Toque de telefone.
Dilogo:
Al.
(Tom de desespero) Z Carlos? a Tereza do 42. A minha pia entupiu,
t alagando tudo!
A senhora no tem Porto Seguro? s discar 333-PORTO.
Toque de telefone.
(Tom de preocupao) Z? T com um problema no disjuntor aqui!
C tem Porto Seguro? 333-PORTO.
Anncio:
Quem tem servios de reparos ao imvel da Porto Seguro tambm
pode discar 333-PORTO, o telefone fcil da Porto Seguro. Consulte seu
corretor.
Toque de telefone.
Dilogo:
(Tom sensual) Ai, Z, meu chuveiro queimou e eu t toda ensaboada.
A senhora tem Porto S T subindo a, t subindo a.
Fim.
Para fins de relato de estudo, como o caso do presente captu-
lo, no ser utilizada toda a anlise desenvolvida na metodologia ori-
ginal. Os dados tero o intuito de demonstrar o processo e o raciocnio
que levaram s concluses.
Como forma de organizar a anlise, as informaes sero estru-
turadas de forma a apresentar:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
167
Trecho (T) = o texto ser analisado em partes para que
se possa (tentar) identificar todas as inferncias poss-
veis de cada trecho.
Inferncias possveis (IP) = em cada trecho sero levan-
tadas as inferncias cabveis
8
, considerando-se a nature-
za (base) da informao semntica, sinttica, pragmti-
ca, retrica, lgica
Nvel das inferncias (N) = Considerando a noo de re-
levncia, as inferncias possveis levantadas sero anali-
sadas e classificadas em quatro nveis (de fora/rele-
vncia):
F = forte MF = muito forte
F = fraca MF = muito fraca
Hipteses de predio (HP) = sero feitas predies hi-
potticas a partir das informaes de cada trecho (consi-
derando-se tambm as diferentes naturezas dessas in-
formaes).
Confirmao ou refutao das inferncias possveis
(CRI) = com base na sequncia de leitura dos trechos, as
inferncias possveis podero ser confirmadas ou rejei-
tadas.
Confirmao ou refutao das hipteses de predio
(CRH) = com base na sequncia de leitura dos trechos, as
predies hipotticas feitas podero ser confirmadas ou
rejeitadas.
Observaes (Obs) = esclarecimentos sobre a natureza e
as bases das inferncias e hipteses de predio levanta-
das.
A construo do mtodo se d no intuito de possibilitar a de-
monstrao e a anlise das relaes entre as inferncias possveis e as
hipteses de predio possveis.
8
Teoricamente e de acordo com a percepo do pesquisador.
Jonas Rodrigues Saraiva
168
5.1 ANLISE
A seguir, apresentada parte da anlise preditivo-inferencial feita
do texto supramencionado, organizada conforme a estrutura proposta.
T1: Toque de telefone.
IP: i1) o som de uma chamada telefnica (MF); i2) uma propa-
ganda est iniciando (F); i3) algum est ligando para algum
(MF); i4) chamadas podem ser/devem ser/ comum que sejam
atendidas no primeiro toque (MF); i5) chamadas podem no
ser atendidas (F).
HP: h1) a chamada ser atendida (com base em i4); h2) o telefone
tocar mais de uma vez e no ser atendido (com base em i5).
Obs.: 1) em i1 e i2, dado o contexto de uma programao radiofnica,
na qual as propagandas de produtos e servios so veiculadas
sem indicao prvia no so anunciadas, mas apenas apare-
cem em sequncia nos intervalos da programao oficial de cada
rdio e apresentam, geralmente, tom cmico, ao ouvir o sinal
sonoro, a primeira inferncia feita reconhec-lo como toque de
telefone (dada a aplicao pragmtica desses sons e o conheci-
mento de mundo referente a eles) pertencente a uma propagan-
da ou anncio publicitrio da prpria estao de rdio ou no;
2) i2 a concluso de uma inferncia lgica que comearia con-
siderando o fato de que um toque telefnico durante a progra-
mao de uma rdio no normal; 3) i3 pode ser considerada
uma pressuposio; 4) tendo em vista o fato de que quando se
liga para algum, comum que a chamada seja atendida, e, ten-
do em vista o contexto publicitrio, tem-se i4; 5) tendo em vista
o contexto publicitrio, se houver inteno, pode-se ter i5; 6) i4
mais forte que i5, pois mais comum; 7) no caso deste texto,
preciso considerar dois nveis inferenciais que devem ser perce-
bidos pelo ouvinte: i1 e i2 so inferncias pertencentes a um n-
vel externo ao texto, e i3, i4, i5 so, com relao ao texto, infe-
rncias internas
9
; 8) todas as inferncias deste trecho dependem
9
Na sequncia, quando casos semelhantes ocorrerem, haver indicao de infern-
cia interna ou externa.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
169
em algum nvel do conhecimento de mundo; 9) h2 exigir uma
explicao por parte do anunciador.
T2: Al.
CRI: T1-i5
10
refutada; no se refuta T1-i2; as demais inferncias so
confirmadas.
CRH: T1-h1 confirmada; T1-h2 refutada.
IP: i1) um homem atendeu o telefone (MF); i2) est se iniciando
um dilogo (MF); i3) a ligao pode cair (MF).
HP: h1) quem est ligando falar (com base em i2).
Obs: 1) todas as inferncias so feitas com base nas aplicaes prag-
mticas e nos conhecimentos prvios sobre a gravao de um te-
lefonema; 2) em i1, pela voz masculina que disse Al; 3) para ba-
se de i2, um telefonema pressupe um dilogo, que, no caso, d-
se entre um homem e outra pessoa ainda no conhecida; 4) i3
muito fraca, dado o contexto, mas precisa estar presente, pois
pode vir a se confirmar se for inteno do anunciador e pode-
ria estar presente em todas as anlises dos demais trechos pelo
mesmo motivo.
T3: (Tom de desespero) Z Carlos?
CRI: T2-i3 refutada; T2-i2 confirmada.
CRH: confirma-se T2-h1.
IP: i1) quem fala uma mulher (MF); i2) o homem se chama Jos
Carlos (MF); i3) ela tem certeza de que est falando com Z Car-
los (F); i4) ela tem dvida sobre se est falando com Z Carlos
(F); i5) ela o chama para confirmar que ele quem est falando
(F);
HP: h1) ele responder confirmando que ele prprio (com base em
i4); h2) ela seguir falando (com base em i3).
10
Indicao da inferncia 5 do primeiro trecho. Essa legenda ser usada a partir deste
ponto para indicao de inferncias e hipteses de trechos anteriores.
Jonas Rodrigues Saraiva
170
Obs: 1) em i1, pela voz feminina que fala; 2) i2 uma inferncia que
associa, tambm pelo conhecimento de mundo, o apelido Z ao
nome Jos; 3) i3, i4, i5 so inferncias que consideram o tom
da falante, a influncia desse tom no contedo e o uso do vocati-
vo em uma fala de dilogo telefnico, que pode servir para con-
firmar quem est falando tanto quanto para simplesmente cha-
mar essa pessoa.
T4: a Tereza do 42
CRI: T3-i1 e T3-i3 so confirmadas; T3-i4 e T3-i5 so refutadas; per-
de-se a relevncia, para a compreenso e entendimento do con-
texto, de confirmar ou refutar T3-i2.
CRH: confirma-se T3-h2; rejeita-se T3-h1.
IP: i1) a mulher que est falando chama-se Tereza (MF); i2) a pala-
vra (preposio) de pode indicar a presena de algum tipo de
identificao do nome (sobrenome, origem, pertena) (MF);
i3) a estrutura do 42, aps o nome, reconhecida como usual pa-
ra identificao em imveis com vrios moradores (como um
condomnio/um prdio) (MF); i4) Tereza mora em um condo-
mnio/prdio (F); i5) Z Carlos mora no mesmo condom-
nio/prdio que ela (F); i6) o nmero do(a) apartamento/casa
42 (MF); i7) ela mora nesse(a) apartamento/casa (MF); i8) Z
Carlos conhece Tereza e ela o conhece (MF); i9) tm, ambos,
certo grau de intimidade e/ou amizade (MF); i10) Tereza
tem/est com algum problema (F); i11) Z Carlos est, de al-
guma forma, envolvido no problema (F).
HP: h1) a mulher contar seu problema a Z Carlos (com base em i9,
i10, i11).
Obs.: 1) i1 vem da estrutura a nome, que advm da expresso
Aqui quem fala a nome; 2) i2 e i3 esto baseadas em conhe-
cimentos de mundo expressos na estrutura Fulano de Tal ou
Fulano de Lugar; 3) i4, i5, i6, i7 so baseadas nas inferncias
anteriores; 4) i8 e i9 esto relacionadas entre si e relacionadas
principalmente aos elementos pragmticos no tratamento dos
dois personagens; 5) i10 advm da prosdia, dado o tom de de-
sespero e a agitao na fala de Tereza; 6) i11 uma inferncia
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
171
lgica, pois, se a mulher est ligando para ele com demasiada eu-
foria, ento ele tem algo a ver com o que ela quer falar.
T5: A minha pia entupiu, t alagando tudo!
CRI: T4-i10 se confirma; as demais no so negadas.
CRH: confirma-se T4-h1.
IP: i1) Jos Carlos como um sndico/zelador (MF); i2) Jos Carlos
um amigo (F); i3) Jos Carlos um encanador (F); i4) Jos
Carlos pode resolver o problema (MF); i5) Z Carlos pode no
ter condies ou no querer resolver o problema (F); i6) tudo
se refere casa/apartamento de Tereza (MF); i7) Tereza est
fazendo uma solicitao indireta a Z Carlos (MF).
HP: h1) A funo de Z Carlos ser conhecida (com base principal-
mente em i1 e i3); h2) Z Carlos resolver o problema (com base
principalmente em i7 e i4); h3) Z Carlos no resolver o pro-
blema (com base em i5).
Obs: 1) i1, i3 e i4 so possveis pelo fato de Tereza estar contando a
Z seu problema, o que indica, pragmaticamente, que ele est
capacitado para resolv-lo; 2) i4 tem o mesmo peso lgico de
T4-i11; 3) i5 representa uma possibilidade baseada em conhe-
cimento de mundo, em contraponto a i4; 4) i6 est baseada em
conhecimentos lingusticos no que se refere indefinio do
pronome tudo e ao seu uso vinculado a expresses hiperblicas,
alm de conhecimentos pragmticos e de mundo no referente ao
fato de pia estar dentro de casa; 5) i7 quase bvia dado o con-
texto da situao, o tom de Tereza e o conhecimento de mundo
que revela a possibilidade de contar a algum uma necessidade
visando ajuda desse algum. Poderia ser considerada uma im-
plicatura gerada pela quebra da mxima de relao: no h rele-
vncia em Tereza ligar para Z Carlos contando que sua pia en-
tupiu se no for pela inteno de lhe pedir ajuda. 6) h1 expressa
algo que, embora no seja totalmente relevante para o enredo,
esperado, at pelo fato de que produto e anunciante ainda no
so conhecidos.
Jonas Rodrigues Saraiva
172
6 CONCLUSO
At este ponto, todo o exposto colaborou para um encontro en-
tre aspectos tericos vinculados Pragmtica e Psicolingustica. A
anlise aqui apresentada procura demonstrar a importncia dos pro-
cessos preditivos para a compreenso textual, afirmando e demons-
trando sua base inferencial. Na sequncia, so feitas revises breves
dos tpicos tericos tendo em vista relacion-los anlise.
Todos os tpicos tericos levantados se inter-relacionaram, sen-
do demonstrados praticamente nos percursos de raciocnio apresen-
tados nos trechos do texto.
Sobre o conceito de predio como perguntas e previses focais
ou globais de Smith (1989), pode-se considerar o reconhecimento do
incio de uma propaganda no contexto de uma emisso radiofnica
como uma predio global, e a certeza de, aps o primeiro Al, em
T2, ouvir-se a fala de outra pessoa, como uma predio focal (e, veja-
se, baseada em uma inferncia pragmtica ou no conhecimento prvio
de que, em um dilogo telefnico, na maioria das vezes em que uma
pessoa atende, outra falar com ela em seguida).
Ainda sobre as predies, como dito, sempre haver a possibili-
dade de que sejam confirmadas ou refutadas, dependendo da infor-
mao apresentada na sequncia do texto. O campo CRH dedicou-se a
mostrar esse processo, em cada trecho, informando a confirmao ou
a refutao das hipteses de trechos anteriores. Ressalte-se nesse
campo a diferena entre as expresses no refutada e confirmada.
A hiptese no refutada no deve ser entendida como confirmada,
mas tampouco como refutada. Ela provavelmente receber sua con-
firmao ou refutao em trechos posteriores.
Finalmente, no que se refere noo de relevncia (TR), poderiam
ser colocadas muitas outras inferncias possveis em cada trecho,
principalmente se houvesse o levantamento dos percursos inferenciais
de vrios informantes, por exemplo. Porm, a maximizao da rele-
vncia sempre leva a filtrar as principais inferncias possveis. Por
isso h poucas de nvel MF ou mesmo F.
importante ressaltar que, ao construir-se essa estrutura de
anlise, buscou-se o mximo de organizao e clareza na forma de
apresentao das informaes, tendo em vista a dificuldade de explici-
tar e demonstrar anlises de textos longos. Historicamente, os estudos
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
173
lingusticos tm preferido deter-se no nvel da frase, dada essa dificul-
dade. Ou seja, a estrutura construda revelou-se como tentativa de ex-
plorao de um texto e de demonstrao das (complexas) relaes en-
tre as partes.
O presente trabalho abordou a capacidade humana de produzir
e compreender inferncias, relacionando-a com a capacidade de fazer
predies em contextos lingusticos. Nos fundamentos das reflexes,
esto a Psicolingustica e a Pragmtica utilizadas em conjunto, fato que
tambm era intuito, dada a necessidade atual de promover as relaes
entre as reas do conhecimento para o avano deste: as interfaces.
Para tais intuitos, procedeu-se anlise de um texto do gnero
rdio-propaganda
11
dividido e analisado em trechos, levando em conta
os percursos inferenciais de cada trecho e as relaes destes com as
predies possveis (entre trechos).
A anlise permitiu delimitar as fronteiras entre processos infe-
renciais e preditivos em linguagem natural. Ao incio do trabalho, pa-
recia um tanto confusa a margem limite entre o fim de uma infern-
cia e o incio de uma predio; os processos pareciam mesclar-se.
Portanto, foi necessria a compreenso de que a inferncia um
raciocnio obrigatoriamente anterior ao raciocnio preditivo e, logo,
houve necessidade de explicitar esse raciocnio inferencial em que se
baseia cada predio.
Durante a anlise, foi possvel perceber que so feitas muitas in-
ferncias para que se chegue a uma hiptese preditiva, j que h ne-
cessidade de completude de vrios vazios, no ditos, antes de surgir
a previso. Logo, todas as inferncias feitas, de maneira geral, esto
direta ou indiretamente ligadas s predies. Nesse sentido, pode-se
afirmar que o nmero de raciocnios inferenciais no est ligado ao
nmero de hipteses preditivas j que eles no so proporcionais.
As inferncias, assim como as hipteses de predio, tambm
passam por um processo de confirmao ou refutao j que qualquer
raciocnio, mesmo o mais lgico, pode gerar concluses equivocadas
em linguagem natural. Mas h inferncias que, mesmo no sendo con-
firmadas nem refutadas, so aceitas para o bem da construo, do con-
texto e da coerncia da situao comunicativa. No caso, aceita-se, por
inferncia, embora no seja dito nem confirmado em momento algum
11
Cedido pela seguradora Porto Seguro.
Jonas Rodrigues Saraiva
174
no texto, que Z Carlos um tipo de sndico ou zelador do prdio e que
os demais personagens so condminos ou moradores do prdio ou
bloco, dada a necessidade dessas duas informaes para a lgica in-
terna da situao.
Dadas tais reflexes, deseja-se reafirmar a viso interftica as-
sumida durante todo o percurso no sentido de relacionar predio e
inferncia, Pragmtica e Psicolingustica. A anlise auxilia na corrobo-
rao da hiptese de que a capacidade preditiva s possvel se fun-
damentada em processos inferenciais de forma a: tomar a linguagem,
considerar seus vazios, complet-los, produzir a hiptese preditiva.
Campos resume esse processamento afirmando que a predio uma
inferncia para o futuro.
REFERNCIAS
COSTA, Jorge Campos. A relevncia da Pragmtica na Pragmtica da Relevncia.
Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008.
GRICE, P. Logic and Conversation. In: COLE, P., MORGAN, J. L. Syntax and seman-
tics. New York: Academic Press, 1975.
GRICE, P. Meaning. The Philosophical Review, Cornell University, v. 66, n. 3, p.
377-388, 1957.
LEVINSON, S. C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
PEREIRA, Vera Wannmacher. Estratgia de predio: plano semntico da lngua
e ensino da leitura. Signo. Santa Cruz do Sul, v. 34, n. 57, 2009. Disponvel em:
<http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/880/919>. Acesso
em: 11 dez. 2013.
SCLIAR-CABRAL, L. Introduo psicolingstica. So Paulo: tica, 1991.
SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma anlise psicolingstica da leitura e
do aprender a ler. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1989.
SOL, Isabel. Estratgias de leitura e de escrita. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Parte II
LEITURA NA EDUCAO BSICA
LEITURA DO LIVRO DE IMAGEM NO CONTEXTO
ESCOLAR: ALGUMAS REFLEXES NECESSRIAS
Marlia Forgearini Nunes
1
A leitura do texto verbal ensinada com afinco e ateno pela
escola, pois trata-se de uma aprendizagem com valor social e cultural
j estabelecidos. No entanto, em relao ao texto imagtico, o ato de
ler uma prtica cujo ensino resume-se a aes esparsas ou inexisten-
tes. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, quando ainda no h
um professor especialista cuja ao esteja voltada para esse gnero de
texto, normalmente as aes so empricas e, por vezes, com pouca
conscincia de seu real objetivo.
Justificativas para esse comportamento podem ser vinculadas ao
valor social e cultural assumidos pela escrita, ou voltadas para a ques-
to do processo de aprendizagem que, em relao imagem, pode ser
encarada como algo natural e, portanto, sem necessidade de que se
reflita sobre o seu ensino. H, porm, no contexto da escola, lugar por
excelncia do ensino e da aprendizagem, a presena de um texto que,
para ser plenamente lido, necessita de uma ao consciente de leitura
da imagem.
O livro de imagem, como objeto de arte literria e imagtica, exi-
ge um olhar atento daquilo que se apresenta em suas pginas, um tex-
to com constituio prpria profundamente implicada com seu conte-
do discursivo, numa interao recproca entre expresso e contedo.
Dessa forma, o presente trabalho pretende discutir os modos de pro-
duo de sentido do livro de imagem, em sua constituio interna,
bem como possibilidades de mediar a leitura desse livro, possibilitan-
do uma prtica pouco presente na escola: o letramento visual.
1
Mestre em Letras UNISC; Doutoranda em Educao UFRGS/PPGEDU; Bolsista
CNPq; Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educao e Arte (GEARTE/UFRGS/
CNPq). E-mail: mariliaforginunes@gmail.com
Marlia Forgearini Nunes
178
Para que essa inteno seja alcanada, inicialmente, buscaremos
compreender a produo de sentido interna ao texto imagtico a partir
da semitica discursiva de A. J. Greimas com o apoio da semitica pls-
tica de J. M. Floch. Essa compreenso entendida como o primeiro pas-
so para que uma prtica de letramento visual possa ser estabelecida. Na
continuidade, definiremos modos de interao possveis com esse texto
a partir dos regimes de interao propostos por Eric Landowski.
A partir desse caminho, pretendemos demonstrar que o proces-
so de leitura no se reduz ao texto, e que precisa tambm considerar o
leitor que se colocar frente a ele. Para alm de reforar a ideia de que
a leitura envolve tanto o matrico do texto quanto o inteligvel e sen-
svel do leitor, o que queremos discutir que, em relao ao texto
imagtico, esses aspectos precisam tambm ser trazidos para a pauta
da escola, possibilitando o letramento visual dos leitores em formao.
1 PRODUO DE SENTIDO NO TEXTO IMAGTICO
Dentre os diferentes modos de compreender o texto como fe-
nmeno de sentido, tomaremos o da semitica discursiva, europeia de
linha francesa, vinculada a Algirdas Julien Greimas e seus colaborado-
res. A razo dessa escolha deve-se ao fato de que essa perspectiva da
teoria semitica se preocupa em examinar os procedimentos de or-
ganizao textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de
produo e recepo do texto (BARROS, 2005, p. 12). Assim, o sentido
pode ser construdo a partir das relaes dos elementos que constituem
o texto (numa relao interna) e da interao do leitor com esse texto
(numa relao externa). Temos, portanto, duas instncias por meio
das quais podemos compreender o processo de significao, o texto, e
a prtica que envolve a sua leitura.
O processo de significao entendido pela semitica como re-
sultado da reunio [] de dois planos que toda linguagem possui: o
plano da expresso e o plano do contedo (FLOCH, 2001, p. 9). O pla-
no da expresso refere-se s qualidades sensveis (dimenso eidtica,
cromtica, topolgica e matrica) de uma linguagem, utilizadas na sua
manifestao discursiva. A manifestao discursiva do plano da ex-
presso nos leva ao plano do contedo. O plano do contedo a ins-
tncia em que o sentido ou a significao so construdos a partir das
manifestaes sensveis do plano da expresso, , portanto, o plano do
significado.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
179
O caminho que percorremos na leitura semitica estabelecido
pela pressuposio recproca de que no h plano da expresso sem
plano do contedo e vice-versa. Essa pressuposio denominada
semiose e revela a funo semitica presente em todo texto. Com base
nisso, ao lermos somos capazes de compreender o que o texto diz
(plano do contedo) e como diz (plano da expresso), construindo o
sentido que nele existe a partir da sua semiose, isto , da sua forma de
expresso relacionada com a sua forma de contedo.
importante esclarecer, no entanto, que a pressuposio que h
entre plano da expresso e do contedo pode ser compreendida de
trs modos diferentes conforme as linguagens: nas linguagens simb-
licas, os dois planos esto em conformidade total: a cada elemento da
expresso corresponde um [] elemento do contedo (FLOCH, 2001,
p. 28). Nas linguagens semiticas no h conformidade entre expres-
so e contedo. E nas linguagens semissimblicas a conformidade
ocorre entre categorias da expresso e categorias do contedo
(FLOCH, 2001, p. 29). A linguagem plstica participa deste terceiro
sistema.
Essa noo nos permite entender que o sentido em um texto no
apenas decorrente da expresso, nem tampouco tem no contedo o
seu aspecto mais relevante. A produo de sentido passa pelos dois
planos da linguagem que constituem o texto. Assim, a perspectiva se-
mitica nos mostra que no podemos nos contentar com o sensvel da
expresso ou com o inteligvel do contedo, o sentido para ser cons-
trudo passa por ambos.
Em um texto plstico, por exemplo, o uso de uma cor no nos
conduz a um significado. o modo com que a categoria cor, o aspecto
cromtico, se apresenta em relao s demais categorias da expresso
o que possibilita a correlao com uma categoria do contedo. Dessa
forma, no observamos uma categoria somente sob a tica da sua se-
mntica, precisamos tambm perceb-la a partir da sua organizao
sinttica. Como nos diz Teixeira (2008, p. 303),
Ler o texto visual [] considerar que o contedo se submete s
coeres do material plstico e que essa materialidade tambm
significa. Para alm de observar linhas, volumes e cores, ser preci-
so adotar uma metodologia de anlise que opere com categorias
especficas, cada vez mais bem formuladas pela semitica plstica,
que analisa sistemas semi-simblicos.
Marlia Forgearini Nunes
180
Assim, se consideramos o papel significante da materialidade
plstica em uma imagem, no podemos ignor-la no ato da leitura. Ao
ler a imagem no estaremos apenas considerando a figurativizao
apresentada por ela, mas reconhecendo a existncia de unidades
propriamente plsticas, portadoras, eventualmente, de significaes
desconhecidas (GREIMAS, 2004, p. 84-85). No caso do texto plstico
apresentado no livro de imagem, a leitura, ao voltar-se para o plano da
expresso da linguagem visual da qual se vale, deixa de ser ingnua e
intuitiva e se torna prtica analtica que considera a imagem um todo
de significao (GREIMAS, 2004, p. 85) com articulaes prprias para
a sua produo de sentido dentro daquele contexto topolgico.
Ao abordarmos o processo de significao do texto imagtico
considerando a sua constituio como elemento essencial, tomamos as
reflexes no apenas da semitica geral, mas de uma de suas subdivi-
ses, a semitica plstica. O uso do adjetivo plstico especifica o campo
de atuao da semitica, e define o seu modo de atuao: descrever o
arranjo da expresso de todo e qualquer texto visual (OLIVEIRA,
2004, p. 12).
Essa descrio nos leva a uma discriminao das qualidades
sensveis que constituem o texto imagtico: as dimenses matrica,
topolgica, cromtica e eidtica, e o modo com que se relacionam en-
tre si. Segundo Oliveira (2005, p. 111), apreendemos e definimos o
todo plstico e os efeitos de sentidos decorrentes dele a partir das re-
laes estabelecidas entre as qualidades que organizam o plano da
expresso como concretizao significante.
Dessa forma, a leitura semitica do texto imagtico pode iniciar
pelo plano da expresso que captura o olhar por meio de suas quali-
dades sensveis. Essas mesmas qualidades sensveis distinguem o tex-
to pelo seu modo de organizao e, consequentemente, promovem
tambm diferenciaes nas possibilidades de apreenso, percepo e
significao (OLIVEIRA, 2005).
Somos capturados pelo sensvel da imagem e precisamos reco-
nhecer as qualidades que a constituem para que possamos alcanar o
seu aspecto inteligvel, o plano do contedo ou a produo de sentido.
Essa passagem do sensvel para o inteligvel que nos auxilia a alcanar
a significao daquilo que lemos compreendida pela semitica dis-
cursiva como um percurso que vai do mais simples ao mais complexo,
do mais abstrato ao mais concreto (GREIMAS; COURTS, 2008, p.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
181
233). Em outras palavras, essa articulao estabelecida em uma gra-
dao do mais simples e profundo ao mais complexo e superficial como
nos explica Teixeira (2008), envolvendo trs etapas distintas que ca-
racterizam o percurso gerativo de sentido: fundamental, narrativa e
discursiva.
Esses trs nveis nos auxiliam a identificar e compreender o plano
do contedo de um texto. Esse percurso traa a gerao do sentido
desde o seu nvel mais abstrato no qual se identifica a presena das
oposies que constituem a base do texto (fundamental), passando
por transformaes, advindas da maneira como essas oposies se
relacionam no desenvolvimento das aes (narrativo) e atinjam a
enunciao discursiva, revestindo as ideias mais abstratas dos nveis
anteriores com temas, figuras, definindo as categorias de tempo, espao
e pessoa (discursivo).
O par de ideias opostas busca nas qualidades sensveis do plano
da expresso o caminho para o seu reconhecimento. Dessa forma, para
iniciarmos o percurso gerativo de sentido em um texto imagtico
necessrio que desmontemos esse texto. A imagem em sua expresso
matrica, topolgica, cromtica e eidtica o ponto de partida na bus-
ca pelo sentido, pois diferentemente do texto verbal escrito no qual a
leitura linear e unidimensional (da esquerda para a direita, no mun-
do ocidental), a superfcie pintada ou desenhada no revela, mediante
nenhum artifcio ostensivo, o processo semitico que se pensa estar a
inscrito (GREIMAS, 2004, p. 86).
Primeiro olhamos, somos capturados pelo que vemos, para en-
to nos deixarmos apreender pelo texto e suas qualidades sensveis as
quais procuramos identificar de modo a compreend-las e sermos ca-
pazes de com elas produzirmos sentido para aquilo que ao final esta-
mos lendo. O processo da leitura da imagem, portanto, inicia com um
simples olhar e busca a complexificao do ver, que l a imagem, com-
preende o seu modo de constituio e produz sentido.
Esse o caminho que a semitica se prope a traar para com-
preender a produo e a apreenso de sentido de todo e qualquer tex-
to. Esse percurso, segundo Landowski (2001, p. 23), permite uma an-
lise do material de leitura que tenta resgatar, na sua singularidade e
sua especificidade, os efeitos de sentido resultantes da sua prpria
organizao estrutural do objeto, um caminho que nos ajuda a ver.
No entanto, a produo de sentido no algo a ser considerado so-
Marlia Forgearini Nunes
182
mente no nvel do texto. A apreenso do sentido envolve tambm um
olhar e a presena desse olhar torna a produo de sentido uma mani-
festao dinmica baseada em interaes do sujeito com o objeto ou
do sujeito com outro sujeito.
Assim, a semitica nos permite refletir sobre a produo de sen-
tido tanto nas relaes estabelecidas na constituio do texto, como
tambm sobre a apreenso do sentido no ato da leitura. Na leitura, o
livro de imagem tomado como um objeto produtor de significados
(GREIMAS, 2004), mas a prtica de leitura que possibilita a constru-
o desses significados. O texto o ponto de partida para a produo
de sentido, porm no apagamos a questo apreensiva que envolve a
individualidade dos sujeitos leitores que possuem experincias cultu-
rais e sociais capazes de influenciar o modo de interagir com o texto
e/ou com outros sujeitos envolvidos na prtica leitora.
2 LEITURA E PRODUO DE SENTIDO: DIFERENTES INTERAES TEXTOLEITOR
Ao incluir no ato de ler no apenas o texto, mas tambm o leitor,
estabelecendo uma prtica dinmica, passamos a compreend-lo como
ao discursiva. Essa prtica discursiva pode ocorrer envolvendo so-
mente texto e leitor, um ato solitrio, ou pode se tornar um ato solid-
rio (COSSON, 2006) no momento em que colocamos mais de um leitor
frente a um texto e buscamos a produo de sentidos. Assim, voltamos
nossa ateno agora para o fazer dinmico que permite a produo de
sentido de modo que se compreenda como o sujeito interage com o
mundo e produz sentidos a partir dessa interao.
Segundo Eric Landowski, um dos pesquisadores que seguem os
estudos iniciados por Greimas, dizer o sentido de algo tarefa impos-
svel, o que se pode observar as condies de sua presena seja no
prprio objeto ou nas relaes, em contextos intersubjetivos, e, por-
tanto, interativos, precisos (2002, p. XIV). Ao contrrio do que apon-
tamos na parte anterior, quando buscamos definir caminhos para se
compreender a produo de sentido no texto, a partir de uma semiti-
ca que pode ser caracterizada como uma cincia do texto, o que tra-
zemos agora outra perspectiva, tambm semitica, mas que se de-
tm a uma reflexo mais livre, aberta experincia do sentido. Trata-
se, de uma reflexo voltada s inspiraes, orientada para a prpria
existncia do humano e de suas interaes, para os sentidos que da
podem emanar (LANDOWSKI, 2009).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
183
Para isso, Landowski (2009) aponta quatro regimes de interao
que correspondem aos modos de ser e agir dos sujeitos no mundo:
regime da programao, regime da manipulao, regime do ajustamento
e regime do acidente. Para ns essa proposio terica auxilia no en-
tendimento de como os sujeitos envolvidos no ato da leitura no ambi-
ente escolar colocam-se enquanto sujeitos modos de ser e agem
diante do livro de imagem modos de agir em interao na sala de
aula.
O regime de programao diz respeito s interaes nas quais a
regularidade de comportamento caracterstica principal; sujeito e
objeto ou dois sujeitos agem em um programa de comportamento pr-
determinado, seguem papis e funes preestabelecidos em uma
adaptao unilateral de um sujeito em relao ao outro. Essa modali-
dade de interao segundo Landowski (2010) pode ser compreendida
a partir da imagem de um crculo, um caminho previsvel, sem pertur-
baes ou desvios. Um exemplo de interao programada envolvendo
um livro de imagem pode ser observado no primeiro contato do leitor
com o objeto livro cuja constituio fsica (capa, guarda, rosto, orelha,
dedicatria, miolo, crditos) em nada surpreende o leitor j acostu-
mado a interagir com esse objeto.
No regime da manipulao a intencionalidade e a interdepen-
dncia entre os sujeitos so palavras-chave para que a interao se
estabelea; nessa relao o manipulador busca conhecer o outro sujeito
com o qual interage para obter a sua reciprocidade ou, como nos diz
Landowski (2009) o seu consentimento mais ou menos forado para
que se envolva na interao. Trata-se de uma interao alicerada em
bases desiguais, em que um sujeito manipula e tenta modificar o outro
(LANDOWSKI, 2010). Para isso entram em jogo a seduo e a subjeti-
vidade, que no caso da constituio matrica do livro se do por meio
do uso de cores, formas e distribuio espacial, a princpio na capa,
embalagem por excelncia do livro (RAMOS; PANNOZO, 2005). O con-
vencimento para que o leitor volte sua ateno para o livro, mesmo
sendo de imagem, pode vir por meio do ttulo, ou de um pequeno texto
na contracapa, valendo-se do verbal como meio de acomodao das
experincias do leitor, de modo a alcanar sua reciprocidade para a
experincia de ler a imagem que se dar no interior do livro. Esse arti-
fcio talvez seja til principalmente se considerarmos que o adulto
mediador, que muitas vezes seleciona as leituras das crianas, procura
Marlia Forgearini Nunes
184
e compreende a interao com o objeto livro vinculada ao verbal e,
portanto, no atingiria o nvel da reciprocidade diante de livro total-
mente imagtico.
O terceiro regime o do ajustamento, baseado na copresena dos
atores envolvidos na interao. um regime que comporta mais riscos
do que os outros dois j definidos, pois no plano prtico da interao
os sujeitos envolvidos no possuem qualquer tipo de hierarquia e os
princpios que regulam a interao emergem pouco a pouco da pr-
pria interao, em funo do que cada um dos participantes encontra
e, mais precisamente [], em funo do que sente na maneira de atuar
de seu co-participante (LANDOWSKI, 2009, p. 46)
2
. Essa maneira de
interagir pode ser identificada no contato que um leitor tem com o li-
vro de imagem, buscando investig-lo, ultrapassando o nvel matrico
e j conhecido do objeto, talvez evitando deter-se no aspecto verbal e,
deixando-se levar pelo sensvel da imagem que constitui o objeto co-
mo um todo. Outro exemplo, desse tipo de regime est no modo com
que a leitura desse objeto pode ser proposta. O livro de imagem pode
ser lido por um foco especificamente narrativo e, portanto, programa-
do, buscando identificar elementos da histria contada tornando a lei-
tura uma (re)constituio verbal das imagens. Ou ainda, pode instau-
rar uma experincia de leitura que dirige o leitor a explorar o livro
com um sentido j direcionado e estabelecido pelo mediador. Essa ex-
plorao pode se deter numa temtica ou na prpria constituio nar-
rativa, ignorando o aspecto da expresso e se detendo no contedo.
O ltimo regime definido por Landowski o do acidente que ne-
ga os demais regimes pela sua imprevisibilidade, pela ruptura com a
regularidade, com a intencionalidade, o sentido aqui decorrente do
puro risco (FECHINE; VALE NETO, 2010, p. 8). Trata-se, portanto, de
uma interao com o livro de imagem que no indica caminhos de lei-
tura, que permite a livre explorao do objeto. Essa liberdade pode ser
decorrente da constituio matrica do livro ou da mediao que se
prope.
A definio de cada um desses regimes no significa que eles
ocorram de maneira isolada ou estanque, separados. Segundo Lan-
2
Traduo livre a partir do original: emergen poco a poco de la interaccin misma, en
funcin de lo que cada uno de los participantes encuentra y, ms precisamente, como
veremos, en funcin de lo que siente en la manera de actuar de su copartcipemente
(LANDOWSKI, 2009, p. 46).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
185
dowski, certo que entre esses regimes existem transies, assim
como possveis superposies e combinaes (2009, p. 29)
3
, tendo
em vista a sua vinculao com a dinmica das prticas discursivas
com as quais nos envolvemos.
Na prtica de leitura do livro de imagem no ambiente escolar,
podemos, a partir de cada um desses regimes, compreender como a
mediao da leitura est sendo proposta. Alm disso, os regimes de
interao propostos por Landowski oferecem tambm ao professor,
sujeito mediador da leitura no ambiente escolar, um caminho para re-
fletir sobre o seu papel.
No ambiente escolar, o professor que pode deflagrar e auxiliar
o seu aluno a produzir sentido a partir do que l. O modo com que esse
aluno ir ler depende da relao com o texto proposta pelo professor,
isto , dos regimes de interao que sero estabelecidos ou como ser
realizada a mediao. O livro de imagem pode ser lido como um exer-
ccio de oralizao e organizao de um enredo narrativo, numa pro-
posta programada de leitura, ou como objeto sensvel. Ao considerar-
mos esse livro como objeto sensvel, possibilitamos o desenvolvimen-
to esttico-estsico do leitor a partir da construo de sentidos que
mesmo sendo uma experincia tambm programada, ao visar a ao
do leitor, pode ser mais aberta, buscando intencionalmente o envol-
vimento do leitor, provocando o seu olhar mais livre para a produo
de sentido a partir do que olha.
3 REFLEXES FINAIS, MAS NO CONCLUSIVAS
Entendemos que se a prtica da leitura ignorar a constituio do
texto e se detiver apenas na enumerao dos fatos narrativos descri-
tos pelas imagens, o professor estar propondo uma prtica da ordem
da programao e da manipulao, pois conduz o olhar do leitor a per-
ceber apenas elementos estruturais de uma narrativa. Se a leitura vol-
tar-se tanto para a imagem, buscando compreend-la, como para o
leitor, seu contexto e interesses ao produzir sentido, a interao estar
prxima do regime do ajustamento. No entanto, essa proximidade no
significa que somente esse modo de interao estar envolvido.
3
Traduo livre a partir do original: Es cierto que entre estos regmenes existen tran-
siciones, as como posible superposiciones y combinaciones (LANDOWSKI, 2009, p.
29).
Marlia Forgearini Nunes
186
Dissemos anteriormente que a coexistncia dos regimes poss-
vel e previsvel diante da dinmica das prticas discursivas. E, em se
tratando, de uma prtica discursiva, como a da leitura realizada no
ambiente escolar a simultaneidade dos regimes, por vezes necess-
ria na realizao do estabelecimento da prtica educativa. O planeja-
mento, a intencionalidade, a participao de todos e, at mesmo, a
abertura para o imprevisvel definem o que entendemos ser a prtica
da leitura.
Um professor, em geral, no prope [ou ao menos no deveria]
um livro para que seus alunos leiam, sem conhec-lo. O planejamento
da leitura que acontecer em sala de aula inicia na escolha do livro
que ser lido. Essa escolha revela a intencionalidade do professor, que
passa por suas preferncias de leitura e, ao trazer para a sala de aula a
sua escolha, demonstra ao aluno o seu prazer ao ler esse livro. Falo
aqui de uma manipulao que busca despertar o desejo, o gosto pela
leitura. E o que se espera que esse desejo partindo da inteno do
mediador contagie o aluno, estabelecendo, assim, um regime de ajus-
tamento que permite diferentes produes de sentido dos diversos
olhares que se voltam para o texto. E ao estar aberto para a copresen-
a de olhares essencial que se esteja preparado para imprevisto, pois
cada olhar nico.
A imprevisibilidade para a qual o professor precisa estar prepa-
rado no est no texto. O inesperado, o imprevisto est na prtica lei-
tora, pois apesar das qualidades sensveis do texto que podem inter-
pelar o leitor, o olho dinmico e livre para percorrer a imagem e des-
constru-la a sua prpria maneira e sensibilidade na busca pelo senti-
do. Por isso, pensar a leitura do livro de imagem no somente conhe-
cer o modo de constituio do texto, mas tambm compreender as
prticas nas quais esse texto est envolvido com os leitores de deter-
minados contextos, idades e experincias.
Para Landowski (2004), o sentido do texto construdo na pr-
tica de leitura a qual ele est envolvido. E essa prtica tambm pro-
dutora de significados decorrentes do modo com que os leitores inte-
ragem com o texto e entre si. Texto e prtica, portanto, esto vincula-
dos em um ato interativo, sendo ambos produtores de sentido. Assim,
a busca pelo estabelecimento de uma melhor compreenso desse
processo de leitura do livro de imagem para que se possam estabele-
cer princpios para uma abordagem de letramento visual.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
187
REFERNCIAS
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semitica do texto. So Paulo: tica, 2005.
COSSON, Rildo. Letramento literrio: teoria e prtica. So Paulo: Contexto, 2006.
FECHINE, Yvana; VALE NETO, Joo Pereira. Regimes de interao em prticas
comunicativas: experincia de interveno em um espao popular em Recife
(PE). p. 1-15. Disponvel em: <http://compos.com.puc-rio.br/media/gt4_yvana_
fechine_joao_neto. pdf>. Acesso em: 8 jul. 2010.
FLOCH, J. M. Alguns conceitos fundamentais em semitica geral. Documentos de
Estudo do Centro de Pesquisas Sociossemiticas. So Paulo: Centro de Pesquisas
Sociossemiticas, So Paulo, 2001.
GREIMAS, Algirdas Julien. Semitica figurativa e semitica plstica. In: OLIVEIRA,
Ana Claudia de (Org.). Semitica plstica. So Paulo: Hacker Editores, 2004. p. 75-
96.
GREIMAS, Algirdas Julien; COURTS, J. Dicionrio de semitica. So Paulo: Con-
texto, 2008.
LANDOWSKI, Eric. O olhar comprometido. Revista Galxia, So Paulo, n. 2, p. 19-
56, 2001.
LANDOWSKI, Eric. Apresentao. In: ______. Presenas do outro. So Paulo: Pers-
pectiva, 2002. p. IX-XIV.
LANDOWSKI, Eric. Modos de presena do visvel. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de
(Org.). Semitica Plstica. So Paulo: Hacker Editores, 2004. p. 97-112.
LANDOWSKI, Eric. Interacciones arriesgadas. Traduccin de Desiderio Blanco.
Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2009.
LANDOWSKI, Eric. Regimes de interao e sentido na educao. Porto Alegre.
UFRGS, 2010 (Comunicao Oral).
OLIVEIRA, Ana Cludia. Semitica plstica ou semitica visual? In: OLIVEIRA,
Ana Claudia de (Org.). Semitica plstica. So Paulo: Hacker Editores, 2004. p. 11-
25.
OLIVEIRA, Ana Cludia. Visualidade, entre significao sensvel e inteligvel. Re-
vista Educao & Realidade, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 107-122, jul./dez. 2005.
RAMOS, Flvia Brocchetto; PANOZZO, Neiva Senaide Petry. Acesso embalagem
do livro infantil. Perspectiva, Florianpolis, v. 23, n. 1, p. 115-130, jan./jul. 2005.
TEIXEIRA, Lcia. Leitura de textos visuais: princpios metodolgicos. In: BASTOS,
Neusa Barbosa (Org.). Lngua portuguesa: lusofonia memria e diversidade
cultural. So Paulo: EDUC, 2008. p. 299-306.
DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA:
COMO LEVAR O ALUNO A SUPER-LAS?
Mrcia Regina Melchior
1
Rosngela Gabriel
2
1 INTRODUO
A leitura condio para a plena participao no mundo da cul-
tura escrita: por meio dela podemos entrelaar significados, imergir
em outras culturas, atribuir sentidos, nos distanciar dos fatos e, com
uma postura crtica, questionar a realidade Por meio dela, exerce-
mos a cidadania na comunidade letrada.
No entanto, essa condio no assegurada pela escola a todas
as pessoas. Em nossa realidade educacional, crescente o nmero de
crianas que apresentam dificuldades no aprendizado da leitura e es-
crita e que permanecem em sala de aula sem acompanhar as atividades.
As causas para essas dificuldades, segundo os professores, so
diversas e podem ser caracterizadas por dficits visuais e/ou auditi-
vos, dificuldades na fala e na linguagem, fatores emocionais, familiares e
sociais, atitudes pouco estimulantes do professor, inadequao de
programas escolares, entre outros. H tambm os casos de crianas
com distrbios de leituraescrita e que no apresentam nenhum dos
sintomas citados. A grande dificuldade do professor repousa na identi-
ficao do que realmente impede o aluno de aprender.
Por isso, este captulo teve por propsito refletir sobre a questo
da alfabetizao por meio da leitura de alguns tericos, buscando en-
1
Graduada em Letras/Espanhol pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2012). Profes-
sora da rede municipal de educao de Santa Cruz do Sul. Graduanda de Pedagogia
PARFOR pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ps-graduanda em Lngua Portugue-
sa, Redao e Oratria UNICID. E-mail: soramarcia@gmail.com
2
Doutora em Letras pela PUCRS (2001). Docente pesquisadora no Programa de Ps-
Graduao em Letras, rea de concentrao Leitura e Cognio, da Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC), RS. E-mail: rgabriel@unisc.br.
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
190
tender o processo de apropriao da leitura e da escrita e identificar
possveis causas para as dificuldades apresentadas por crianas em
processo de alfabetizao.
Alm de retomar algumas ideias, compartilharemos um estudo
de caso realizado em uma escola da rede pblica municipal com trs
sujeitos, estudantes do 3 ano do Ensino Fundamental, que segundo
suas professoras apresentavam dificuldades no aprendizado da leitura
e da escrita.
2 A APRENDIZAGEM DA LEITURA
Aprender a ler no um processo natural. Muitas pessoas passam
pelo mundo sem aprender a ler, inclusive muitas das que passam pela
escola tambm no aprendem. significativo o nmero de brasileiros
que no leem ou que fazem uma leitura muito fragmentada sem consti-
tuir significado. De acordo com a ltima avaliao do PISA, em 2009, o
Brasil ocupa o 53 lugar, entre 65 pases e potncias econmicas ava-
liadas, no quesito leitura e cincias e o 57 em matemtica. Tais dados
nos fazem questionar os porqus do no aprender: que causas estariam
dificultando a aprendizagem dessa habilidade? Como a escola tem tra-
balhado com a dificuldade do aluno? Seria uma questo de mtodo?
De acordo com Nunes et al. (2011, p. 10), todas as crianas tm
dificuldade na aprendizagem da leitura, que uma atividade comple-
xa. No entanto, cada uma tem um ritmo diferente para aprender: h
aquelas que vencem suas dificuldades mais rapidamente e outras que
so mais lentas. Normalmente, essa discrepncia pequena, porm
em alguns casos a diferena significativa, entrando aqui os casos das
crianas com dislexia. Porm, o que no pode ocorrer a generalizao.
3 ASPECTOS CONSTITUTIVOS DE OBSTCULOS PARA O APRENDIZ
Nunes et al. (2011) propem a anlise de vrios aspectos da ta-
refa de aprender a ler e escrever que podem constituir obstculos pa-
ra todo aprendiz. Destaca dois dos principais aspectos: um voltado
para a possibilidade de um dficit perceptual (p. 22), envolvendo a
anlise de habilidades perifricas leitura e escrita, a hiptese de um
dficit visual, a dificuldade em estabelecer conexo entre os sons e as
palavras que ouve (informao auditiva) e as palavras escritas que v
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
191
(informao visual), e outro, voltado possibilidade de um dficit lin-
gustico (p. 34), sugerindo que as dificuldades das crianas poderiam
resultar de alguma deficincia verbal, de uma menor habilidade para
utilizar a gramtica, da conscincia fonolgica pouco desenvolvida ou
em funo das diferenas lingusticas.
importante observar o que dizem os autores sobre o quo re-
cente so os estudos sobre os estgios do desenvolvimento da apren-
dizagem da leitura:
[...] foi apenas nas ltimas duas dcadas que os trabalhos de pes-
quisadores como Read (1971, 1986); Ferreiro e Teberosky (1985),
Marsh (Marsh e Desberg, 1983; Marsh, Friedman, Desberg e Sater-
dahls, 1981; Marsh, Friedman, Welch e Desberg (1980); Frith
(1980, 1985) e outros permitiram-nos comear a compreender os
estgios que descrevem a evoluo da leitura e da escrita na crian-
a. Os trabalhos anteriores voltados para a anlise dos processos de
aquisio da leitura e escrita eram predominantemente pedaggi-
cos, discutindo os mtodos de ensino mais do que a aprendizagem.
(NUNES et al., 2011, p. 61-62)
A partir do estudo dos autores citados no captulo anterior, os
autores defendem que os estgios, descritos hoje na aquisio da ln-
gua escrita, so voltados para o tipo de relao que a criana aparen-
temente supe existir entre a lngua escrita e a lngua falada (p. 63).
Assim, a criana vai avanando em seus estgios, no abandonando o
que aprendeu no estgio anterior, mas aperfeioando-o. Num estgio
inicial, a criana no relaciona a palavra falada com a escrita, constri
um vocabulrio de grafias, incluindo seu nome, nome de marcas, lo-
jas, palavras que lhe so significativas.
No estgio seguinte, comea a descobrir a relao entre os ele-
mentos fonolgicos da linguagem e os elementos grficos da escrita,
passando a utilizar uma letra para cada slaba, no entanto essa escrita,
para ser entendida, decifrada, necessita do contexto. A escrita produzi-
da pela criana no pode ser interpretada sem informaes adicionais
sobre as condies de produo (p. 68). Esse estgio pode ser visto
como uma fase de transio entre uma concepo no fonolgica de
escrita e uma concepo alfabtica.
No estgio alfabtico, a criana se torna consciente dos fonemas
e tenta estabelecer a correspondncia entre essas unidades da fala e
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
192
as letras, buscando representar cada fonema por intermdio de uma
letra. A conscincia das sequncias de fonemas gera as representaes
grficas das palavras e, portanto, erros, quando a lngua falada no
corresponde exatamente lngua escrita.
A conscincia do fonema no uma conquista fcil, e provavelmen-
te, no adquirida espontaneamente [], portanto no deve ser
vista como uma deficincia em sujeitos no expostos representa-
o alfabtica. Essa ausncia de conscincia do fonema, seria me-
lhor descrita como o desconhecimento de uma unidade fonolgica
do que como a impossibilidade de vir a conhec-la. (NUNES et al.,
2011, p. 70)
O ltimo estgio o ps-alfabtico que, na opinio dos pesqui-
sadores citados por Nunes et al., no pode ser visto como o ltimo no
desenvolvimento na concepo de escrita (p. 71). Esse nvel compre-
ende, alm da natureza fonolgica e lxica, as regras hierrquicas, que
compem o princpio da escrita ortogrfica.
Estas constataes levaram os autores a investigar se todas as
crianas realizam o mesmo processo na aprendizagem da leitura ou se
crianas com alguma dificuldade na aprendizagem o fariam de maneira
diferente. Nunes et al. (2011, p. 79-81) concluem que
[...] os erros de crianas com dificuldade de aprendizagem indicam
que os estgios pelos quais passam essas crianas no processo de
aquisio de leitura e escrita assemelham-se queles observados
em crianas sem dificuldade. Alm disso, esses resultados indicam,
claramente, que as dificuldades dessas crianas no residem num
atraso no desenvolvimento de uma concepo alfabtica de leitura
nem numa impossibilidade de realizar anlises fonolgicas. As indi-
caes observadas so todas no sentido da existncia de uma difi-
culdade na realizao de anlises fonolgicas e sua coordenao
com a representao escrita, de modo especial quando esto envol-
vidas regras que exigem criana ir alm da fase alfabtica.
Realmente, a complexidade da ortografia uma fonte de dificul-
dade para a criana, mas no pode ser encarada como a razo maior
do fracasso. De acordo com Morais (1996, p. 77), a razo principal do
fracasso parece ser a dificuldade para a criana da descoberta do fo-
nema, chave da compreenso do princpio alfabtico.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
193
Essas concluses nos levam a questionar, ento, se a causa do
insucesso na aprendizagem no estaria associada ao mtodo de ensino
que utilizado pelos professores.
4 A QUESTO DO MTODO
Hoje, o debate dos mtodos gira em torno de duas concepes
de ensino: o mtodo fnico, que consiste na aprendizagem do cdigo, e
o mtodo global, baseado na linguagem global. O primeiro tem efeito
significativo sobre o desenvolvimento da habilidade da anlise fon-
mica intencional, que desempenha papel essencial na aquisio da de-
codificao fonolgica. J o segundo leva formao de um vocabul-
rio visual, que permite o reconhecimento de palavras encontradas
com certa frequncia, mas no muito efetivo na escrita, pois encoraja
o leitor a utilizar-se do contexto e da adivinhao.
Gabriel e Machado (2011) citam Adams et al. (2003), que suge-
rem que os mtodos de alfabetizao devem basear-se em conheci-
mentos cientficos acerca da escolha das unidades de ensino (grafe-
ma/fonema, slabas, palavras, sentenas, textos), bem como aqueles
relativos s regras elementares para auxiliar o aluno a decifrar o cdi-
go alfabtico, as estruturas lingusticas e as regras mais complexas
com as quais ele ter de lidar ao ler, ou ao ouvir textos lidos em classe
pelo professor, alm de entender como se desenvolvem os padres
ortogrficos e como a decodificao contribui para o desenvolvimento
desses padres.
Adams et al. (2006, p. 25) ressaltam que esse trabalho no signi-
fica um retorno ao mtodo fnico, pois as correspondncias letra-
fonema no so, em si, apresentadas para memorizao mecnica.
Em vez disso, so embutidas nas atividades de conscincia fonolgica
de forma a garantir que a apreciao da criana sobre a estrutura fo-
nolgica da lngua proporcione uma compreenso segura e produtiva
da lgica de sua representao escrita.
Outro autor que defende o trabalho pautado no desenvolvimento
da conscincia fonolgica Morais (1996). Em seu livro, A arte de ler,
o autor apresenta vrios estudos que compararam o desempenho de
leitura em crianas submetidas a esses dois mtodos e conclui com a
seguinte afirmao: Os programas de ensino que compreendem a ins-
truo direta e explcita do cdigo alfabtico so os melhores (p. 264).
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
194
Gabriel e Machado (2011) tambm apresentam os defensores do
mtodo global, que propem uma alfabetizao contextualizada por
meio da transposio das prticas sociais de leitura para a sala de aula
em situaes-problema. Citam Grossi (1989, p. 31-32), que afirma que
o conhecimento se d atravs da interao dos estmulos do meio am-
biente com o sujeito que aprende [] o centro do processo de aprendi-
zagem o prprio aluno, como sujeito que aprende e que constri o seu
saber.
Na perspectiva da aprendizagem pelo mtodo global, ressaltam-se
os estudos de Emlia Ferreiro, baseados nos trabalhos de Jean Piaget.
O objetivo fundamental desses estudos, segundo Ferreiro (1985, p.
23), o entendimento da evoluo dos sistemas de ideias construdos
pelas crianas sobre a natureza do objeto social que o sistema da es-
crita . Ferreiro e Teberosky (1985) investigam a natureza da relao
entre o real e sua representao e, em resposta, afirmam que as crian-
as reinventam a escrita, construindo hipteses sobre ela. Seguindo a
evoluo das hipteses infantis, as autoras dividem o processo da
aprendizagem da leitura e da escrita em nveis distintos: pr-silbico I
e II, silbico, silbico-alfabtico, alfabtico e ortogrfico.
O mtodo global fortemente associado ludicidade, ao prazer,
investigao do significado das palavras, ao trabalho direcionado ao
contexto em que o aluno est inserido e, principalmente, aos nveis
psicogenticos da escrita, que funcionam como um termmetro e
permitem aos professores identificar a evoluo da aprendizagem dos
seus alunos e, a partir da, reelaborar a sua prtica.
5 CONSCINCIA FONOLGICA
Em uma escrita alfabtica como a nossa, os sons tm relao
com as letras, que so os sinais grficos que representam, de maneira
mais ou menos direta, os diferentes segmentos de uma lngua especfica.
No entanto, no prestamos ateno aos sons da nossa fala, processa-
mos os fonemas naturalmente, de forma automtica. Dirigimos nossa
ateno para o significado daquilo que est sendo dito e incorporamos
o sentido ao enunciado nas situaes de uso. Queremos, aqui, chamar
ateno para o fato de que podemos nos valer da nossa capacidade de
prestar ateno nos sons em si para pensar sobre a relao somletra
e sobre a representao adequada de um som na escrita.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
195
Lamprecht (2009, p. 18) destaca que
[...] a faculdade humana de pensar a lngua como objeto, de analisar
os sons da fala, chama-se conscincia fonolgica e pode constituir
instrumento valioso em momentos em que o que est em jogo no
propriamente a comunicao de ideias, sentimentos ou informa-
es, mas os instrumentos dessa comunicao a fala e a escrita.
Lamprecht (2009) define conscincia fonolgica como a habili-
dade de reconhecer e manipular os sons que compem a fala: estar
consciente de que a palavra falada constituda de partes que podem
ser segmentadas e manipuladas. Para ter conscincia fonolgica ne-
cessrio que o falante ignore o significado e preste ateno estrutura
da palavra. Essa habilidade requer desde a conscincia da estrutura da
palavra como um todo at a sua separao em sons individuais, exi-
gindo maior grau de conscincia lingustica do falante.
Trazendo isso para a sala de aula, importante que as crianas,
antes que possam ter qualquer compreenso do princpio alfabtico,
devem entender que aqueles sons associados s letras so os mesmos
sons da fala, diz Adams (2006, p. 19). Por isso, tarefa do professor
alfabetizador levar o aluno a refletir sobre a lngua e sua relao fala-
escrita. Morais (1996, p. 174) afirma que pesquisas realizadas na in-
teno de apontar fatores que contribuem nas performances individuais
de leitura, revelam que o desenvolvimento das habilidades fonmicas
encontra-se como uma das principais ferramentas para garantir o su-
cesso desta aprendizagem. O autor define conscincia fonolgica como
toda forma de conhecimento consciente, reflexivo, explcito, sobre as
propriedades fonolgicas da linguagem (p. 309).
A conscincia fonolgica, portanto, envolve um entendimento
deliberado acerca dos diversos modos como a lngua oral pode ser di-
vidida em componentes menores e, ento, manipulada. A lngua pode
ser segmentada de diversas formas, pois as frases so segmentadas
em palavras; as palavras, em slabas; a slaba, por sua vez, pode ser
segmentada em unidades ainda menores, os fonemas. O conhecimento
formal e a manipulao de tais unidades implicam diferentes nveis de
conscincia fonolgica, que emergem naturalmente em fases distintas
do desenvolvimento lingustico. Resumindo, reflexo e manipulao
so duas palavras-chave na definio de conscincia fonolgica.
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
196
A concepo que se tem sobre conscincia fonolgica muito
ampla e no corresponde a apenas uma habilidade ou capacidade de
manipulao, ou apenas a um aspecto a ser reconhecido; diferentes
nveis lingusticos, tais como slabas, unidades intrassilbicas e fone-
mas esto envolvidos. Lamprecht (2009) destaca que a conscincia
fonolgica caracteriza-se por uma grande gama de habilidades que,
justamente por serem distintas e por envolverem unidades lingusti-
cas tambm diferenciadas, revelam-se em momentos especficos da
maturao da criana. Diz ainda, que a partir da unidade lingustica
a ser manipulada que os nveis de conscincia fonolgica so defini-
dos. Isto significa que cada unidade lingustica de anlise relaciona-se
a um nvel de conscincia fonolgica.
Segundo a autora, no nvel da slaba, a conscincia fonolgica
corresponde habilidade de manipular estruturas silbicas, o que in-
clui, dentre outras habilidades, a capacidade de segmentar a palavra
em slabas (por exemplo, a palavra menino pode ser segmentada em
trs slabas, me, ni e no). Do mesmo modo, salienta que a conscin-
cia no nvel do fonema implica operar sobre unidades ainda menores
que slabas (por exemplo, pode-se segmentar uma palavra como bola
nos diversos sons que a compem: [b] [o] [l] [a]).
A noo de conscincia fonolgica ampla e envolve um grande
nmero de habilidades de reflexo e manipulao em diferentes n-
veis, que podem exibir um grau maior ou menor de complexidade.
Lamprecht (2009, p. 37) destaca que mesmo no havendo um consenso
entre os pesquisadores a respeito do nmero de nveis de conscincia
fonolgica, a maioria dos autores costuma caracterizar os seguintes:
conscincia no nvel das slabas, conscincia no nvel das unidades in-
trassilbicas e conscincia no nvel dos fonemas (conscincia fonmica).
A referida autora, em seu livro Conscincia dos sons da lngua,
apresenta uma caracterizao individual para cada um desses nveis,
com base em Freitas (2004a, b) e Coimbra (1997a, b), que no deta-
lharemos agora, uma vez que sero retomados na anlise dos indiv-
duos estudados.
6 O ESTUDO DE CASO
O trabalho consistiu na aplicao de duas avaliaes: a primeira,
um teste de avaliao da conscincia fonolgica, descrito no livro
Conscincia Fonolgica em Crianas Pequenas (2006), e a segunda, a
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
197
aplicao de algumas questes da Provinha Brasil (MEC, 2011). Poste-
riormente, com base nos resultados dos testes, realizamos uma inter-
veno pedaggica semanal, por um perodo de dois meses, aplicando
jogos e atividades voltados para o desenvolvimento da conscincia
fonolgica, e por ltimo, a reaplicao do teste inicial, para comparar
os resultados e levantar algumas hipteses ou concluses sobre o nosso
problema de estudo.
6.1 OS SUJEITOS
Os sujeitos deste trabalho foram crianas de oito anos e alguns
meses, que frequentavam o terceiro ano do ensino fundamental em
uma escola municipal de Santa Cruz do Sul. Os trs sujeitos envolvidos
apresentam srias dificuldades no seu processo de aprendizagem, em
especfico no que se relaciona leitura e escrita, por isso foram indi-
cados por suas professoras para a participao no presente estudo. A
escola encaminhou-os para atendimento psicolgico e psicopedaggi-
co no CIMES, que o rgo da Secretaria Municipal de Educao e Cul-
tura responsvel pelo atendimento, mas nenhum deles tem parecer ou
laudo atestando alguma limitao ou deficincia.
As informaes escolares dos sujeitos foram obtidas por meio de
entrevistas com as famlias, as professoras e a equipe pedaggica da
escola. Segundo os dados coletados, pudemos traar um perfil escolar
para cada sujeito.
6.2 AVALIAO INICIAL
O contato inicial com os indivduos da pesquisa aconteceu no in-
cio ms de maio, quando apresentamos a proposta do trabalho e fir-
mamos um contrato didtico, ou seja, fizemos as devidas combinaes
sobre como funcionaria cada encontro, quando aconteceria, os horrios
que nos encontraramos e qual seria o papel de cada um no trabalho.
Depois disso, aplicamos a primeira avaliao: o teste para avaliar
o nvel de conscincia fonolgica de cada um dos sujeitos. Para tanto,
seguimos as instrues descritas no livro Conscincia Fonolgica em
Crianas Pequenas, de Adams e colaboradores (2006, p. 141-167). A
referida avaliao consistiu na aplicao de questes referentes
identificao de rimas, indicao de nmero de slabas, associao de
nomes com fonema inicial semelhante, contagem de fonemas que
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
198
compem determinados nomes, comparao de palavras quanto ao
tamanho, e, por fim, representao de fonemas e letras. A avaliao
teve a durao de aproximadamente 40 minutos. Os resultados obti-
dos foram registrados em uma tabela para posteriormente serem ana-
lisados, pois serviram de parmetro para a realizao da interveno
pedaggica realizada.
A segunda avaliao foi aplicada no segundo encontro, uma se-
mana aps a primeira. A ideia inicial seria apenas um teste de leitura, e
para tal foram selecionadas as questes 18 e 20 da Provinha Brasil, Tes-
te 2, de 2011. A proposta era gravar a leitura dos sujeitos e trabalhar
com a tcnica dos protocolos verbais, que segundo Sousa (2005, p. 39)
so uma metodologia de pesquisa que envolve relatos verbais de sujei-
tos sobre como realizam alguma atividade da qual o pesquisador quer
investigar o processo. Porm, os sujeitos no colaboraram: simples-
mente diziam que no sabiam ler e se recusaram a tentar realizar a ta-
refa. Ento, para no comprometer o andamento da pesquisa, propu-
semos a realizao das primeiras questes da prova, da questo 1 a 13,
seguindo rigorosamente as instrues do Guia de Aplicao (INEP,
2011). A aplicao desta avaliao durou aproximadamente 1 hora. Os
resultados foram registrados em um grfico, para posterior anlise, pois
tambm serviram de parmetro para o desenvolvimento da pesquisa.
Neste ponto do trabalho, dedicamos especial ateno aos resul-
tados obtidos nas duas avaliaes, pois foram eles nossos balizadores
de ao. Primeiramente, analisamos o desempenho em relao ao n-
vel de conscincia fonolgica dos sujeitos, e depois cruzamos estas
informaes com a anlise da Provinha Brasil, para traarmos algumas
metas para o nosso estudo.
6.3 TESTE DE CONSCINCIA FONOLGICA
A testagem aconteceu com os trs alunos ao mesmo tempo, mas
sentados separadamente, em uma sala destinada para o estudo, livre
de interferncias externas. As questes que constituram a avaliao
so propostas no programa de Adams e colaboradores (2006), no ca-
ptulo 10 do seu livro, sendo dividida em seis subtestes. O primeiro
subteste apresentado em uma folha com dez figuras; a tarefa dos su-
jeitos relacionar os pares de figuras que rimam. Para a realizao
dessa tarefa, os alunos so informados que se trata de rimas e lembra-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
199
dos oralmente de alguns exemplos, em seguida, feito coletivamente,
uma folha de demonstrao, exemplificando como devero proceder
no subteste.
O segundo subteste mostra cinco figuras, seguidas, cada uma, de
uma linha em branco, para a resposta. Os sujeitos devem indicar o
nmero de slabas das palavras representadas pelas figuras. O aplica-
dor tambm faz uma breve explicao de como contamos as slabas
nas palavras e realiza coletivamente a folha de demonstrao.
O terceiro subteste consiste em combinar figuras que tenham o
mesmo som inicial. A tarefa apresenta uma folha com dez figuras, di-
vididas em duas colunas, em que a tarefa ligar as figuras que come-
am com o mesmo fonema. Faz-se uma exemplificao oral e depois a
folha de demonstrao e, ento, a realizao individual pelo sujeito.
No quarto subteste, a tarefa contar os fonemas que compem
os cinco nomes de figuras. Depois da exemplificao e da realizao
coletiva da folha de demonstrao, os sujeitos devem fazer o registro
com marcas para determinar a quantidade de fonemas presentes em
cada palavra.
O subteste seguinte refere-se capacidade de comparao dos
fonemas. Os sujeitos receberam uma folha com cinco pares de figuras e
circularam a figura cuja palavra apresenta o maior nmero de fonemas.
O ltimo subteste desafia os sujeitos a combinarem sua consci-
ncia fonmica e seu conhecimento de letras para escrever palavras
de forma independente, o que tambm antecedido por exemplifica-
o e demonstrao pelo professor pesquisador.
Na tabela abaixo, o desempenho de cada sujeito, de acordo com
o escore de pontuao determinado pelo programa:
Tarefa Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3
1. Identificando rimas 05 03 05
2. Contando slabas 05 05 04
3. Combinando fonemas iniciais 01 05 02*
4. Contando fonemas 04 04 00*
5. Comparando o tamanho das palavras 04 05 03*
6. Representando fonemas com letras 02 05 00*
Pontuao 21 27 14
* Segundo orientao do manual, quando o resultado mdio dos alunos for igual ou in-
ferior a 4,0, a parte correspondente do programa deve ser retomada; no caso, trabalhada.
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
200
6.4 TESTE DE LEITURA PROVINHA BRASIL
Implantada em 2008, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Ansio Teixeira (INEP), a Avaliao da Alfabetiza-
o Infantil Provinha Brasil, um instrumento de avaliao aplicado
no incio e no trmino do ano letivo, com o intuito de auxiliar profes-
sores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da
alfabetizao oferecida nas escolas pblicas brasileiras.
Para o presente estudo, utilizamos parte da avaliao de leitura
aplicada em 2011, no final do ano letivo (Teste 2), que teve por objeti-
vo fazer um diagnstico dos nveis de alfabetizao dos sujeitos e ori-
entar o planejamento e execuo da interveno pedaggica que ira-
mos fazer durante a realizao da pesquisa.
A partir da aplicao das 13 primeiras questes da prova, obti-
vemos os seguintes resultados:
Questo/Habilidade avaliada
Resposta
esperada
Sujeito
1
Sujeito
2
Sujeito
3
Q1. Habilidade relacionada capacidade de
diferenciar letras de outros sinais grficos
A A A A
Q2. Habilidade de reconhecer, pelo nome, as
letras do alfabeto
A A A D
Q3. Habilidade de reconhecer letras escritas
de diferentes formas
A A A A
Q4. Habilidade de identificar letras que pos-
suem correspondncia sonora nica em
palavras
D D D C
Q5. Habilidade de reconhecer slabas (pri-
meira slaba)
C C C D
Q6. Habilidade de identificar palavras que
comeam com a mesma slaba
D D D C
Q7. Habilidade de ler palavras e estabelecer
a relao entre significante e significado
(relao imagem e escrita)
D D D B
Q8. Habilidade de identificar o nmero de
slabas que formam uma palavra
B B B B
Q9. Habilidade de identificar palavras que
comeam com a mesma slaba
B B B D
Q10. Habilidade de identificar o nmero de
slabas que formam uma palavra
C C C C
Q11. Habilidade de ler palavras e estabelecer
a relao entre significado e significante
D D B C
Q12. Capacidade de ler frases C A B D
Q13. Habilidade de localizar informao em
um texto com base nas caractersticas do
gnero e na leitura do texto completo ou
apenas de algumas partes que o compem.
B - - -
Total de respostas certas 11 acertos 10 acertos 4 acertos
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
201
6.5 INTERVENO PEDAGGICA
Esta parte do trabalho foi a que mais nos desafiou e nos levou a
profundas reflexes, pois dispnhamos de muitas informaes acerca
de cada sujeito e tnhamos que priorizar o que trabalhar e por onde
comear. Ou faramos um trabalho mais pedaggico, bem pontual, ini-
ciando o estudo pelo trabalho com as letras do alfabeto que era a difi-
culdade mais elementar de dois dos trs sujeitos, ou buscaramos no-
va proposta, mais ldica, para trabalhar a escuta, a percepo auditiva
e, consequentemente, a discriminao dos sons e sua associao com
os caracteres grficos as letras. Optamos por esta ltima. Utilizamos
os jogos descritos por Marilyn Adans no livro Conscincia fonolgica
em crianas pequenas.
6.6 APLICAO DA SEGUNDA AVALIAO E ANLISE DOS RESULTADOS FINAIS
Como j dissemos, terminada a interveno pedaggica, aplica-
mos a segunda avaliao, por meio dos dois instrumentos j mencio-
nados. Eis os resultados obtidos:
6.6.1 CONSCINCIA FONOLGICA
Tarefa Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3
1. Identificando rimas 05 05 05
2. Contando slabas 05 05 04
3. Combinando fonemas iniciais 05 05 03
4. Contando fonemas 05 05 01
5. Comparando o tamanho das palavras 05 05 03
6. Representando fonemas com letras 05 05 01
Pontuao 30 30 17
6.6.2 PROVINHA BRASIL
Eis o desempenho de cada sujeito:
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
202
Questo/Habilidade avaliada
Resposta
esperada
Sujeito
1
Sujeito
2
Sujeito
3
Q1. Habilidade relacionada capacidade de
diferenciar letras de outros sinais grficos
A A A A
Q2. Habilidade de reconhecer, pelo nome, as
letras do alfabeto
A A A D
Q3. Habilidade de reconhecer letras escritas
de diferentes formas
A A A A
Q4. Habilidade de identificar letras que pos-
suem correspondncia sonora nica em
palavras
D D D C
Q5. Habilidade de reconhecer slabas (pri-
meira slaba)
C C C D
Q6. Habilidade de identificar palavras que
comeam com a mesma slaba
D D D C
Q7. Habilidade de ler palavras e estabelecer
a relao entre significante e significado
(relao imagem e escrita)
D D D B
Q8. Habilidade de identificar o nmero de
slabas que formam uma palavra
B B B B
Q9. Habilidade de identificar palavras que
comeam com a mesma slaba
B B B D
Q10. Habilidade de identificar o nmero de
slabas que formam uma palavra
C C C C
Q11. Habilidade de ler palavras e estabelecer
a relao entre significado e significante
D D D C
Q12. Capacidade de ler frases C C C D
Q13. Habilidade de localizar informao em
um texto com base nas caractersticas do
gnero e na leitura do texto completo ou
apenas de algumas partes que o compem.
B A B
Total de respostas certas
12
acertos
13
acertos
4
acertos
De acordo com o desempenho dos sujeitos, fizemos os seguintes
apontamentos:
Sujeitos 1 e 2: demonstram que consolidaram a capacidade de
ler palavras de diferentes tamanhos e padres silbicos, j conseguem
ler frases com sintaxe simples (sujeito + verbo + objeto) e comeam a
utilizar algumas estratgias que permitem ler textos de curta exten-
so. So capazes de identificar uma mesma palavra escrita com vrios
tipos de letras, ler palavras compostas por slabas cannicas e no ca-
nnicas, identificar o nmero de slabas de palavras, identificar finali-
dade de gneros, apoiando-se em suas caractersticas grficas, como
imagens, e em seu modo de apresentao. Com base nestas observa-
es e no que prescreve o Guia de Correo da Provinha Brasil (INEP,
2011), os sujeitos 1 e 2 foram classificados no nvel 3.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
203
Sujeito 3: no apresentou evoluo nenhuma neste perodo, en-
contrando-se em um estgio muito inicial em relao aprendizagem
da escrita e da leitura. Sabe identificar o valor sonoro das partes iniciais
e/ou finais de palavras (algumas letras ou slabas) para adivinhar e
ler o restante da palavra, reconhece algumas letras do alfabeto e dis-
tingue letras de desenhos e outros sinais grficos. Por isso, o classifi-
camos no nvel 1, de acordo com o que orienta o Guia de Correo da
Provinha Brasil (INEP, 2011).
7 CONSIDERAES FINAIS
Para concluir este trabalho, queremos salientar um ponto que
talvez possa no ter ficado muito claro: apesar de termos abordado a
leitura sempre associada escrita, nosso objetivo sempre foi o de
identificar os dificultadores da aprendizagem da leitura, e entendemos
que a aprendizagem de uma habilidade est associada aprendizagem
da outra. O conceito de alfabetizao e letramento bastante amplo,
tanto que tem sido o tema de muitos estudos e pesquisas. No nosso
trabalho, especificamente, no queramos discorrer sobre processos
ou mtodos de alfabetizao, nem tampouco defender um ou outro,
queramos investigar o que, durante o processo de alfabetizao, foi
ou tem sido um empecilho para a aprendizagem da leitura pela criana.
Quanto aos instrumentos de avaliao, tivemos que fazer esco-
lhas; talvez no tenham sido as mais adequadas, mas tnhamos que
nos decidir por alguma. Acreditamos que mesmo com as alteraes
que fizemos ideia inicial, o trabalho foi vlido porque nos permitiu
reorganizar o planejamento do estudo, pesquisar novas fontes e per-
ceber detalhes que um leigo no capaz de identificar, tampouco de
relacionar com o processo da aprendizagem da leitura e escrita.
Construmos aprendizagens significativas, nos desafiamos a
aprender com os sujeitos envolvidos e, principalmente, pudemos contri-
buir para a sua aprendizagem. Foram dois meses de trabalho diretamen-
te com as crianas, em que foi possvel analisar suas hipteses sobre a
leitura e a escrita, as reflexes que fazem acerca da lngua que falam, a
evoluo nos nveis de conscincia fonolgica e, principalmente, identifi-
car onde repousam suas dificuldades na aquisio da leitura e da escrita,
o que nos permitiu fazer uma interveno pedaggica bem pontual.
No conseguimos ter sucesso com todos os sujeitos envolvidos.
Dos trs estudados, dois avanaram significativamente em seu processo
de aprendizagem, sendo inclusive comentado pelas professoras titula-
Mrcia Regina Melchior & Rosngela Gabriel
204
res e comprovado na aplicao da segunda avaliao. O Sujeito 3 foi o
que mais nos intrigou; muito mais do que dificuldade na leitura e na
escrita, o sujeito no demonstrou motivao para a aprendizagem, no
se comprometeu com o trabalho, apesar de ter participado de todos os
encontros. D a impresso de que a escola um refgio, um lugar
que lhe faz bem, que lhe agrada estar, mas que aprender ainda no
importante; seus interesses parecem ser outros. Conforme considera-
es da supervisora escolar, o sujeito deveria receber algum acompa-
nhamento especializado, visto que manifesta indcios de TDHA e dficit
cognitivo, porm a famlia nunca levou o sujeito nos agendamentos
feitos pela escola. Alm do mais, na maioria das vezes, vinha muito so-
nolento, dizendo no ter dormido bem noite porque os pais passaram
brigando. Infelizmente, nosso trabalho com este sujeito no surtiu o
efeito desejado, mas nos desafiou a continuar investigando estratgias
para contribuir com a sua aprendizagem para um prximo estudo.
REFERNCIAS
ADAMS, Marilyn Jager et al. Conscincia fonolgica em crianas pequenas. Adap.
Regina Ritter Lamprecht e Adriana Corra Costa. Porto Alegre: Artmed, 2006.
FERREIRO, E.; TEBEROSKI, A. Psicognese da leitura e da escrita. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1985.
MACHADO, Greici Quli; GABRIEL, Rosngela. Contribuies e limitaes dos m-
todos de alfabetizao de crianas. Disponvel em: <http://www.pucrs.br/edi
pucrs/CILLIJ/leitura-e-alf/Contribui%E7%F5es%20e%20limita%E7%F5es%20
dos%20m%E9todos%20de%20alfabetiza%E7%E3o%20de%20crian%E7as%20.
pdf> Acesso em: 22 nov. 2011.
INEP. Guia de aplicao da Provinha Brasil. Disponvel em: <http://download.
inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/kit/2011/2_semestre/guia_aplica
cao_leit_2sem_2011.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2012.
INEP. Guia de correo da Provinha Brasil. Disponvel em: <http://download.
inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/kit/2011/2_semestre/guia_correc
ao_leit_2sem_2011.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2012.
IZQUIERDO, Ivn. Memria. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LAMPRECHT, Regina; BLANCO-DUTRA, Ana Paula (Orgs.). Conscincia dos sons
da lngua: subsdios tericos e prticos para alfabetizadores, fonoaudilogos e
professores de lngua inglesa. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2009.
MORAIS, Jos. A arte de ler. Trad. lvaro Lorencini. So Paulo: Unesp, 1996.
NUNES, Terezinha; BUARQUE, Lair; BRYANT, Peter. Dificuldades na aprendiza-
gem da leitura: teoria e prtica. 7. ed. So Paulo: Cortez, 2011. (Coleo Questes
da Nossa poca, 33).
SOUZA, Lucilene Bender de. Um estudo sobre o processo da leitura atravs da ex-
perincia com protocolos verbais. Santa Cruz do Sul, 2005. 70 p. Monografia (Gra-
duao), Departamento de Letras, 2005.
INTERFERNCIA DO ENQUADRAMENTO DE
TRABALHO NAS REPRESENTAES SOBRE O
ENSINO DE LEITURA NO CONTEXTO DE
FORMAO INICIAL DOCENTE
Fabrcia Cavichioli Braida
1
1 INTRODUO
Desenvolver e aprimorar competncias na atividade de leitura,
na perspectiva deste estudo, no se resume simplesmente a ler um
grande nmero de textos, seguidos estes ltimos de exerccios inter-
pretativos, os quais, na maioria das vezes, limitam-se a treinar capaci-
dades ao comando de obedecer enunciados. Ler bem mais que isso.
Ler coconstruir a verdade axiomtica imposta pelos textos, tarefa essa
que cabe ao aluno, assistido pelo professor, e ao prprio professor.
Ler significa emancipar ideias, isto , trazer tona aquilo que faz
sentido para o aluno, tendo em vista as vrias leituras que realiza. Mas
como o professor promove essa emancipao de ideias ao ensinar lei-
tura? Com o intuito de microdirecionar tal questionamento, indaga-se:
como o professor emancipa suas ideias quando l? Utiliza estratgias
eficientes para realizar sua prpria leitura? Utiliza estratgias para
trabalhar leitura em sala de aula? Quais? Apoia-se em modelos para
ensinar leitura?
Tais indagaes sugerem uma maior reflexo sobre o processo
formativo inicial do professor de lngua portuguesa. O acadmico, fu-
turo professor, constri suas representaes acerca das incumbncias
do papel de ensinar, o qual nem sempre se configura de forma positiva.
1
Doutora em Estudos Lingusticos pela Universidade Federal de Santa Maria. Professo-
ra do Instituto Federal Farroupilha Campus Jlio de Castilhos. E-mail para contato:
cavichioli@jc.iffarroupilha.edu.br. Este captulo resultado da tese de doutoramento
da autora. Disponvel em: <http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_ arquivos/16/TDE-
2012-11-21T130455Z-3844/Publico/BRAIDA,%20FABRICIA%20 CAVICHIOLI.pdf>.
Fabrcia Cavichioli Braida
206
Dessa forma, poder intervir na formao inicial docente, com o
intuito de desenvolver uma prtica social colaborativa, focalizada em
resoluo de problemas, figura-se uma das condies bsicas para a
(re)educao do prprio profissional. Portanto, urge reorientar a for-
mao inicial visando construo e consolidao de suas representa-
es, aqui, em especial, as representaes acerca do ensino de leitura
(RICHTER, 2004).
Sob esse enfoque, a adoo de uma metodologia interventiva
(neste caso, a pesquisa-ao) de total aceitao neste contexto, uma
vez que a leitura vista como a base fundamental para o ensino de
lngua portuguesa. E, at onde vasculhado, foram encontrados traba-
lhos de pesquisa (teses e dissertaes) que contemplam as represen-
taes sobre leitura (formao inicial e continuada), porm com anli-
ses em um sentido mais amplo do assunto em questo.
Assim, foi com o objetivo de desvendar o mundo das represen-
taes sobre leitura no contexto de formao inicial docente que a tese
Interferncia do enquadramento de trabalho nas representaes so-
bre o ensino de leitura no contexto de formao inicial docente sob o
entendimento da Teoria Holstica da Atividade (THA) investigou as
representaes de futuros professores sobre a atividade de leitura, a
partir do esquema bsico da Teoria Holstica da Atividade.
Este esquema foi estruturado por Richter em trs pilastras, que
contemplam os seguintes fatores: atribuio, mediao e controle. As-
sim contextualizado, sublinha-se que a discusso recai sobre a catego-
ria central desse modelo os fatores de mediao.
Grosso modo, a proposta da THA est conectada ideia de que o
professor, ainda no processo formativo inicial, precisa assumir um
papel que acarrete uma determinada conduta profissional. Valendo-se
desse pressuposto, Richter (2008) e Richter et al. (2009) discutem o
conceito de enquadramento de trabalho ligado a uma teoria sistmica
que determina a organizao de prticas estando estas ltimas locali-
zadas em um sistema de trabalho.
Verifica-se, portanto, a real necessidade de o acadmico, o futuro
professor, saber moldar seu prprio sistema de trabalho, isto , saber
organizar um enquadramento consistente que atenda o processo de
construo de aprendizagem como um todo. Contudo, para chegar ao
todo preciso fati-lo em partes, pois so inmeras as possibilidades e
atividades que fazem parte de um nico sistema de trabalho.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
207
A partir dessa breve contextualizao, a qual explicita o objetivo
geral da tese supracitada, dar-se- incio sntese dos principais pon-
tos tericos abordados no trabalho de tese bem como aos resultados
mais relevantes. E, por fim, sero tecidas concluses gerais sobre a
pesquisa.
2 TEORIA HOLSTICA DA ATIVIDADE: PRIMEIROS PASSOS
O projeto de pesquisa e extenso intitulado Rumo a uma con-
cepo holstica de formao docente, proposto por Richter em 2004,
registrou os primeiros resultados investigativos acerca do tema con-
ceitos de acadmicos-docentes em contexto de formao inicial.
O projeto tinha por finalidade investigar a formao de conceitos
de professores em formao inicial em contexto de ensino de portu-
gus para estrangeiros. Segundo Richter (2004), apartar contexto ver-
sus formao s leva o professor a reconhecer suas limitaes em ado-
tar certas abordagens (devido sua formao profissional), as limita-
es das teorias e do sistema de ensino, quando no tenta aplicar as
teorias em um contexto inadequado a elas, frustrando-se quando da
prtica e da anlise dos resultados.
A operacionalizao desse projeto ps em execuo a primeira
verso da THA. Esta primeira verso rene em sua base terica o Mo-
delo da Mente Comum de DAndrade
2
(1987), o qual consiste de um
esquema cognitivo composto pela imbricao, infervel discutidamen-
te, de percepes, crenas, sentimentos, desejos, intenes e decises
compartilhados intersubjetivamente por determinado grupo social.
A primeira verso da THA incorpora tambm o modelo de anli-
se do discurso de Gee (1999). Na percepo desse autor, a linguagem
nos permite verificar os conceitos de mundo dos indivduos e enten-
der suas crenas e valores, dentro de um determinado contexto social
(PAZ, 2006).
Fica claro que um enquadramento dessa natureza implica consi-
derar o sujeito-docente na ntegra: cognio + comportamento + sen-
timento. Com base nessa perspectiva, observa-se a necessidade de al-
terar a concepo clssica de pesquisa-ao, que passa de metodologia
a abordagem. A partir do momento em que se d este deslizamento
2
Denominao original: Folk model of the mind.
Fabrcia Cavichioli Braida
208
epistemolgico, a pesquisa-ao contribui tambm como fundo organi-
zador do contexto em que o professor situa, ao mesmo tempo, seus con-
ceitos, seu fazer e seus valores, emanados do jogo de representaes
identitrias que pe em jogo quando assume seu papel (RICHTER,
2004).
Dessa forma, percebe-se que a proposta da THA traz em sua es-
sncia a inseparabilidade entre conduta, conceito e valor no exerccio
profissional (RICHTER et al., 2006, p. 909). Ento, com o intuito de
testar sua eficincia, ela foi aplicada durante trs anos (2004 a 2006),
em contexto de formao inicial (atividade-foco: o ensino de portu-
gus para estrangeiros), na UFSM, por intermdio do projeto Rumo a
uma concepo holstica de formao docente, empregando, como
instrumental de controle de formao, checklists da teoria para forma-
tar dirios de acadmicas-docentes (PAZ, 2006). Os resultados dessa
pesquisa
3
mostraram-se animadores, contribuindo para a consolida-
o e aperfeioamento da Teoria Holstica.
3 TEORIA HOLSTICA DA ATIVIDADE: APERFEIOANDO
SEUS PASSOS
Conforme altercado na seo anterior, pode-se afirmar que, por
meio de um trabalho persistente, possvel transformar a conduta
docente, desde que seja levado em considerao o contexto de ensino
e a formao de conceitos. No entanto, esbarra-se em novo problema
sendo este j diagnosticado por Richter desde 2006, o qual notou a ne-
cessidade de reformular a THA para que ela pudesse dar conta, ou me-
lhor, pudesse tentar explicar, posicionar-se diante desse mais novo
desafio: a resistncia do acadmico-docente em aderir reformulao
do agir educacional. Dessa forma, apresenta-se aqui a grande questo
que norteia as discusses da segunda verso da THA: qual o lugar do
professor na realidade?
A base de formao da segunda verso da THA recebe influncia
da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann (1980). De acordo
3
Pesquisa estava vinculada ao projeto de doutorado da professora Dioni Maria dos
Santos Paz sendo sua tese defendida em 2006 e intitulada Formao de conceitos de
ensino de leitura em Portugus como Segunda Lngua. Neste trabalho, eu e mais duas
colegas (na poca, acadmicas-docentes do Curso de Letras da UFSM) ramos os sujei-
tos da pesquisa. Elaborvamos os materiais didticos, ministrvamos as aulas e escre-
vamos os dirios aps a prtica em sala de aula.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
209
com Luhmann, a sociedade somente poderia ser investigada por uma
teoria que parte dos sistemas sociais, pois as demais teorias sociolgi-
cas no apresentam subsdios para enfrentar os avanos e a complexi-
dade social moderna. Verifica-se que cada sistema forma parte do meio
dos outros sistemas. No entanto, os sistemas entre si no se percebem
como sistemas, seno como aquela parte da complexidade que no se
reduz com ajuste ao cdigo e aos programas prprios (TRINDADE,
2008).
A inteno, portanto, no isolar os sistemas entre si, mas sim
convencer o sujeito de que primeiramente ele precisa se autoidentifi-
car (qual seu papel social? suas atribuies? suas expectativas?) den-
tro do seu prprio sistema a fim de que tenha condies de interagir
com os demais, sem que sua identidade torne-se alvo de ameaa ou
alienao de outrem.
Concordando com esses ideais, a verso 2.0 da Teoria Holstica
da Atividade empenha-se em fomentar questes relacionadas cons-
truo de um sistema autnomo para o profissional professor. Ela
apropria-se da noo de sistema discutida por Luhmann (1995), no
entanto, diferencia-se deste no que concerne ao funcionamento dos
sistemas sociais unicamente por autopoiese, no admitindo que inter-
firam diretamente uns nos outros em decorrncia de relaes de fora,
ao passo que a concepo holstica concebe os sistemas autopoiticos
4
e alopoiticos
5
.
O professor de lnguas enquadra-se em um sistema alopoitico.
Enquanto os profissionais emancipados (nutricionista, mdico, advo-
gado, fisioterapeuta etc.) de um sistema autopoitico so reconhecidos
por suas expectativas normativas (e no pelas referncias pessoais),
associadas ao papel que desempenham, os professores so reconheci-
dos por suas caractersticas pessoais.
Na maioria das vezes, o bom professor aquele de quem o aluno
gosta; de quem o familiar gosta, ou melhor, que ganha a simpatia dos
4
O sistema dito autopoitico quando se reproduz autonomamente, guiando-se por
meio de cdigo sistmico prprio. Assim, pode-se falar em fechamento normativo, au-
torreferencial ou operacional.
5
O sistema dito alopoitico quando caracterizado, no por um fechamento, mas por
uma abertura normativa. Isso porque sua reproduo normativa se d pela abertura
s interferncias das diversas determinaes do meio ambiente. Ocorre a sobreposi-
o de diversos cdigos, impedindo a formao de uma identidade sistmica prpria.
Logo, num sistema alopoitico, pode-se afirmar que as fronteiras entre o sistema e o
meio ambiente social, no s enfraquecem, elas desaparecem.
Fabrcia Cavichioli Braida
210
alunos e seus pais. Expectativas normativas? Aqui pouco importam,
pois busca-se no professor sua cordialidade, no o que ele sabe e/ou
pode ensinar (expectativas cognitivas). Retoma-se a tese norteadora da
segunda verso da THA: qual o papel do professor na realidade?
O professor licenciado em Letras precisa passar a ser visto como
um profissional da linguagem, sendo sua prestao de servios decor-
rente da ao de ensinar lngua seja ela materna ou estrangeira. No
entanto, para tal transformao necessita definir seu papel social a fim
de que possa ocupar o lugar que lhe de direito na realidade, seno
continuar sendo, em seus horrios vagos, o professor de Ensino Re-
ligioso, Educao Fsica, Matemtica, o Psiclogo, o atendente da bibli-
oteca e at o Amigo da Escola.
O conceito de enquadramento (caracterstica primordial das
profisses emancipadas) est relacionado s discusses sobre cons-
truo da identidade profissional. Motta (2009), citando Aguirre et al.
(2000), ressalta que a identidade envolve um vasto conjunto de expe-
rincias internalizadas, as quais abrangem desde a viso de mundo,
incluindo crenas e valores, at sua possvel exteriorizao em esco-
lhas e comportamentos. Em suma: o enquadramento de trabalho tem
influncia direta na escolha dos papis sociais do profissional bem
como no lugar que est disposto a conquistar.
4 ESQUEMA BSICO DE ENQUADRAMENTO DA TEORIA HOLSTICA DA
ATIVIDADE
O esquema bsico de enquadramento de trabalho da THA est
organizado em trs pilastras, nas quais se assentam trs metafatores,
a saber: atribuio, mediao e controle.
Segundo Richter (2010), o primeiro conjunto metafator de
atribuio abrange as variveis centradas nas noes de papis sociais,
espaos institucionais (onde a atividade exercida), atribuies (que
tarefas so previstas), competncias (em que bases curriculares e ju-
rdicas a atividade exercida), modelos de conduta (que padres de
comportamento so esperados, em seus devidos contextos, para o
profissional, o cliente e demais pessoas), referncia e pertena grupal.
Somam-se ainda a essas variveis a modelagem do papel social
(identificao, introjeo e acoplamento) e as prticas autodefensivas
de estabilizao e preservao do papel no ecossistema social.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
211
O fato de as Licenciaturas, por falta da devida regulamentao
por lei federal e da criao de um rgo de gesto autrquica (Conse-
lho Profissional), no terem a profisso exercida dentro de um sistema
autopoitico (exceto o profissional de Educao Fsica, emancipado
em 1998) contribui para que essas variveis, na maioria das vezes,
sejam esquecidas pelos docentes. Para que pensar em um enquadra-
mento de trabalho, em um papel social, nas competncias que compe-
tem atividade exercida, se o lugar que esse docente ocupa tambm
aceita/permite que pessoas formadas em outras reas simulem o
papel social que cabe exclusivamente ao profissional Licenciado, em
sua especfica rea de formao, exerc-lo?
Um exemplo desse cenrio, que chega a ser to hilariante quanto
nefasto, so os alunos estrangeiros de intercmbio que chegam ao
Brasil e ganham seu dinheiro extra, lecionando em Cursos de Ln-
guas (situao extremamente oposta aos alunos brasileiros que vo
para o exterior). Alunos estrangeiros sem formao e, muitas vezes,
nem alunos de Cursos de Licenciatura so. No entanto, abocanham o
espao de um professor formado e especialista, que levou em mdia
de quatro a seis anos para se preparar e obter um diploma e um ttulo
de especialista.
Esse tipo de situao no se equipara das profisses emanci-
padas. Por exemplo, considerando a hiptese de um mdico cardiolo-
gista faltar a uma cirurgia marcada, no acontece de ele ser substitu-
do por um mdico oftalmologista (embora esta seja uma situao visi-
velmente anloga de um professor de dada disciplina que d aula de
tudo se faltarem professores das demais reas). Resoluo para o
problema hospitalar: ou a cirurgia remarcada, ou outro mdico, des-
de que tambm cardiologista, conduz a atividade (assume a cirurgia).
No entanto, esta ltima possibilidade bastante remota: na maioria
dos casos, o procedimento cirrgico remarcado, e cabe ao paciente,
como o nome alude, ter pacincia.
Apontada a discrepncia conceitual no que diz respeito s vari-
veis do metafator atribuio entre as profisses enquadradas em um
sistema autopoitico daquelas que no participam dele, nota-se a ne-
cessidade de uma distino mais precisa entre educao como mera
funo e, por outro lado, a escola como um dos dispositivos possveis
para concretiz-la como exerccio profissional diferenciado.
Dessa forma, em ltima anlise, conclui-se que a construo da
identidade profissional um complexo em que o indivduo interpelado
Fabrcia Cavichioli Braida
212
como sujeito, no empenho de ocupar lugar(es) no campo discursivo,
assume nos enunciados posicionamentos relativamente a valores,
conceitos e condutas, nas quais o sujeito exerce um papel (RICHTER,
2008).
A pilastra intermediria, por sua vez, apresenta o metafator me-
diao, subdividindo-se em recursos, estratgias e conceitos. Tendo
definido seu(s) papel(is) social(is), o professor necessita de subsdios
para desenvolver tarefas inerentes atividade social que ir desem-
penhar. Neste caso, o metafator mediao englobar os fatores situa-
cionais do ato linguodidtico
6
, enfatizando seus aspectos instrumen-
tais e teleolgicos (da teoria prtica).
Recursos so meios concretos disposio do profissional e do
cliente, desde aspectos do contexto de ensino, como espao fsico, com
seus componentes e propriedades, passando por artefatos educativos,
como material impresso e outros objetos de aprendizagem, at o pr-
prio material lingustico selecionado para integrar as tarefas e conver-
ter-se em input ativo da Zona de Desenvolvimento Proximal
7
, abrevia-
da por ZDP (RICHTER, 2010).
Infere-se, no entanto, que os recursos favorveis ao ensino de
lnguas no dispensam em seu interior o uso de estratgias consisten-
tes. Metaforicamente, isso comparvel a um bolo. No basta apresen-
tar uma bela aparncia fsica, precisa ter um bom recheio. Sob essa
tica, o conceito de estratgia foi definido por Richter (2010, p. 8) da
seguinte forma:
Estratgias so os meios e as condies para a interatividade medi-
ada pelos recursos didticos. Tm relao com o processamento
cognitivo do input e operaes concretas realizadas por profissio-
nal e cliente visando a atingir objetivos compatveis com alvos da
atividade profissional.
6
A interface aes-operaes que se estabelece no contrato didtico e se expande
constantemente pode ser considerada grosso modo como a Zona de Desenvolvimento
Proximal em que trabalha o profissional da educao lingstica, ou o campo abstrato
em que a interveno do docente materializa o (por ns denominado) ato linguodid-
tico. (RICHTER, 2008, p. 66)
7
Zona de Desenvolvimento Proximal a distncia entre o nvel de desenvolvimento
real, que se costuma determinar atravs da soluo independente de problemas, e o
nvel de desenvolvimento potencial, determinado atravs da soluo de problemas
sob a orientao de um adulto ou em colaborao com companheiros mais capazes.
(VYGOTSKY, 1994, p. 112)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
213
A esse fator de mediao est incumbida a tarefa de articular,
propor um modus operandi para que o aluno realize as atividades de
acordo com os objetivos das tarefas ou de acordo com o encadeamento
apresentado pelas tarefas. Ou melhor, por intermdio das estratgias
so definidos os caminhos que professor e aluno iro seguir a fim de
que os objetivos de uma determinada unidade didtica sejam atingidos.
Por ltimo, para completar a categoria central dos fatores de
mediao, tm-se os conceitos docentes. Estes consistem em conheci-
mento declarativo interno ao enquadramento. Desdobram-se em te-
ricos conhecimento abstrativo e organizado fundamentador de con-
dutas e procedimentos, de natureza lingustica, pedaggica, cognitiva
ou eventualmente outra e metodolgicos estruturas declarativo-
procedurais, esquemas de prticas justificadas cientificamente ou por
outros critrios, acordadas ou normatizadas para contextos profissio-
nais, umas destinadas ao profissional, outras ao cliente (RICHTER,
2010).
Na verdade, os conceitos docentes so considerados o pano de
fundo para a construo do enquadramento de trabalho linguodidti-
co. As bases terico-metodolgicas que apoiam as escolhas dos recur-
sos e estratgias esto aliceradas nos conceitos docentes. Dificilmen-
te, um material didtico caracteriza-se consistentemente padro se as
teorias que o subsidiam ao invs de se complementar so divergentes.
Completando o esquema bsico de enquadramento da THA, cita-
se o metafator controle, que se triparte em objeto, resultados e avalia-
o. Objeto um recorte da vida social em que uma interveno media-
da alimenta a expectativa de promover benefcios institucionalmente
reconhecidos.
Richter (2010) explica que na THA h um pormenor adicional: o
objeto conceitualmente dependente da natureza do ato profissional
que nele incide. Assim, o objeto do licenciado em Letras recortado
em funo das especificidades do ato linguodidtico e assim se triparte:
a) Bem Social a aquisio de competncia comunicativa, globalmente
considerada, em L1 ou L2; b) Alvo equivale grosso modo aos objeti-
vos gerais de um curso ou mdulo de ensino de lnguas; c) Objetivo
equivale grosso modo aos objetivos especficos de uma subunidade de
ensino.
Os resultados, por sua vez, dizem respeito quilo que pode ser
esperado ou de fato obtido. Resultados esses que so monitorados
Fabrcia Cavichioli Braida
214
constantemente pela avaliao a fim de averiguar se h adequao en-
tre as intervenes profissionais e as expectativas de xito. Inclui par-
metros critrios de avaliao do desempenho discente; instrumentos
meios de controle como portflios, questionrios etc.; e quadros
perfis de clientela traados com finalidade de diagnstico e prognstico.
Tendo em vista as consideraes tericas da presente seo,
destaca-se a preocupao da THA pela formao inicial profissional-
mente eficaz. Valoriza a utilizao de uma metodologia inserida em
enquadramento, pois se acredita que este referencial terico, alm de
possibilitar aos acadmicos a compreenso do que se passa em seu
domnio cognitivo sobre o ensino de leitura, lhes propiciar a constru-
o de saberes metacognitivos, conceituais e procedurais, que poste-
riormente sero de valia ao longo da carreira profissional de educador
lingustico.
5 ENQUADRAMENTO DE TRABALHO: UM DESAFIO PARA O ACADMICO EM
FORMAO
Considerando que os acadmicos em formao inicial tendem a
representar o ensino de leitura em lngua materna em relao aos fa-
tores de mediao limitado s bases, talvez semelhante aos conceitos
explcitos ou tcitos com que percorreram o letramento no ensino b-
sico, mostrou-se oportuno obter uma noo de como esses sujeitos co-
locariam em prtica os conceitos emergentes dessa atividade.
A anlise decorrente dos depoimentos (instrumento utilizado
para coleta de dados) deixou evidncias de que os acadmicos em
formao inicial no conduzem suas atividades sob o enfoque de tra-
balho parametrizado que recebe o nome de enquadramento.
O trabalho formativo, na tica de Richter (2009), em condies
favorveis, resulta na internalizao, pelo nefito, de uma srie de pa-
rmetros ordenadores que configuram campo e limites de interven-
o, objetivos, condies e caractersticas da atividade, direitos e de-
veres recprocos na prestao de servios. Mas, principalmente, confe-
re, a partir do lugar social ocupado, um senso de identidade e autoes-
tima dentre outros motivos, pela premissa tcita do exerccio da ati-
vidade regida pelo conhecimento.
Cabe esclarecer, a partir dessa perspectiva, que a conduta de
pesquisa exigida pela metodologia pautada na pesquisa-ao permitiu
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
215
que se enxergasse as questes/problemas com maior eficcia e cau-
tela, pois os objetivos dessa metodologia esto relacionados produ-
o de conhecimentos voltados prtica (THIOLLENT, 2008). Assim,
ao final do estudo, pretendeu-se construir uma melhor compreenso
dos condicionantes da prxis, acarretando mudana nas prticas pro-
fissionais e reestruturando os processos formativos.
Partindo, portanto, da teoria para a prtica, realizou-se uma an-
lise comparativa entre os materiais didticos elaborados pelos acad-
micos. A elaborao desses materiais contemplou duas fases: elabora-
o sem interveno das teorias discutidas nos encontros e a elabora-
o com a interveno dessas teorias.
A produo didtica, elaborada sem a interveno das teorias,
distanciou-se notavelmente da proposta didtica que se elaborou com
a inteno de sugerir o planejamento de uma aula que fosse mais
aconselhvel, mais vivel para a prtica de leitura.
A concepo de leitura representada pelo acadmico, nessas
produes, marcada pela busca da ordem e linearidade (caractersti-
ca verificada em todos os materiais produzidos pelos acadmicos, an-
terior interveno das teorias). Parte-se sempre da pressuposio de
que h uma ordem a ser seguida: questes de entendimento do texto e
questes gramaticais.
Essa falta de conexo entre texto e gramtica uma caractersti-
ca presente nos livros didticos de lngua materna. O ensino de gram-
tica, no contexto desta tese, deve estar acoplado ao ensino de leitura,
pois as dependncias gramaticais auxiliam significativamente na cons-
truo de sentido dos textos.
O modelo interativo de Rumelhart (1985) colabora nesse senti-
do argumentando que deve haver o elo entre conhecimento prvio e
conhecimento lingustico, uma vez que a conexo entre eles contribui
de forma diferenciada na resoluo de provveis problemas que pos-
sam vir a interferir no percurso da leitura.
Nota-se que houve a tentativa em trabalhar a gramtica interli-
gada ao texto. O acadmico partiu de frases e/ou palavras contidas no
texto, porm o enfoque dado s questes gramaticais contempla a
abordagem tradicional, sendo o conhecimento declarativo trabalhado
de forma dedutiva.
Outra evidncia que merece ser comentada foi a forma como o
acadmico elaborou os questionamentos referentes ao texto. Por in-
Fabrcia Cavichioli Braida
216
termdio das perguntas, ele procurou contextualizar o assunto do tex-
to, isto , aproxim-lo da realidade dos alunos. No entanto, seguindo a
percepo didtica de leitura deste estudo, eles no se encontram si-
tuados em seus devidos lugares dentro da produo didtica (foram
todos lanados no incio da aula), uma vez que apresentam objetivos
de pr-leitura, leitura propriamente dita e ps-leitura.
Considerando essas constataes acerca das produes didti-
cas dos acadmicos em formao inicial, no se pode deixar de perce-
ber que o acadmico tem conscincia de alguns pontos relevantes que
devem ser abordados em uma aula de leitura em lngua materna.
Exemplo disso a tentativa em trabalhar a gramtica integrada ao tex-
to e a preocupao em contextualizar o assunto com a realidade do
aluno. Mas, ento, por que a tentativa frustrada?
Porque o acadmico sabe que deve abordar (contedos, estrat-
gias etc.), porm no sabe como fazer essa abordagem de forma coe-
rente e eficaz perante a prtica de ensino. Insiste-se aqui novamente
em uma proposta de trabalho com enquadramento definido. Este se
refere ao exerccio de uma atividade profissional delimitada, parame-
trizada e normatizada, tendo em mente o motivo pelo qual se executa
tal atividade e quais so os benefcios sociais que dela dependem
(LIMA, 2010, p. 18).
A ausncia de organizao aliada falta de uma proposta de tra-
balho definida resulta em contradies. O acadmico ao trmino do
processo formativo inicial possuidor de um amontoado de teorias, as
quais muitas vezes servem para entulhar gavetas, porque o acadmico
depois de formado no consegue definir com coerncia quais delas so
teis para respaldar sua prtica de ensino.
Frente a essa situao, o acadmico entra em contradio acerca
do que diz e faz. Segundo Richter (2006), baseado nos fundamentos
tericos de Deutsch (2004), esse fenmeno foi batizado por acrasia
contradio entre o dizer e o fazer.
Passa-se, neste momento, a analisar a produo didtica realiza-
da pelos acadmicos aps a discusso das teorias no decorrer dos
quinze encontros.
A produo didtica ps-interveno mostra que as teorias dis-
cutidas no decorrer dos encontros interferiram no modo de agir dos
acadmicos. A produo didtica de leitura em lngua materna passa a
focar de maneira mais clara a construo de sentidos do texto.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
217
Alm disso, o design de produo apresenta caractersticas que
se aproximam da proposta de material didtico, com nfase na leitura,
que se considera desejvel para essa prtica, principalmente, no que
concerne estrutura didtica da aula, organizando o plano de aula em
fases: pr-leitura, leitura e ps-leitura.
possvel afirmar que a organizao em fases auxiliou o acad-
mico a adequar os contedos/assuntos que pretendia abordar. Dentre
esses quesitos destacam-se: as perguntas de cunho cultural e pergun-
tas que reforam e retomam o assunto do texto (na fase de ps-leitu-
ra); as perguntas de conhecimento de mundo (na fase de pr-leitura).
Na perspectiva terica de Aebersold e Field (1997), o texto vis-
to como um sistema que funciona pela relao unidirecional do leitor
para o texto a partir do processamento de blocos de conhecimento
armazenados e ativados no momento da leitura para a construo do
sentido global.
Dessa forma, entende-se que a explorao do texto passa a ser o
principal foco visado pela produo didtica do acadmico. Em relao
produo didtica sem interveno das teorias, esta ltima passa a
ter outra dimenso. Aqui o saber e as experincias (crenas, valores,
atitudes etc.) do aprendente so mais valorizados.
Grellet (1981) acrescenta que as informaes que o leitor traz pa-
ra o texto so frequentemente mais importantes do que aquelas encon-
tradas nele. A autora diz ainda que a leitura um processo ativo, pois
requer constante adivinhao, predio, verificao e questionamento a
si mesmo por parte do leitor, pois compreender um texto escrito signi-
fica extrair a informao desejada da forma mais eficiente possvel.
Embora no tenham sido postos em prtica todos os pontos dis-
cutidos por intermdio das teorias, parte deles se solidificou e de for-
ma bastante satisfatria. A base para que esses resultados fossem sa-
tisfatrios est ancorada no pensamento de que a atividade de leitura
pertence a um sistema social fechado independente. Assim, focaliza-se
a atividade-alvo em sua complexidade e em seus objetivos especficos.
Diante disso, acredita-se que uma identidade profissional se
constri a partir da significao social da profisso e da reflexo-ao
dos significados sociais da profisso. A construo da identidade faz
parte de um processo permanente, no algo acabado, ao contrrio,
sempre emergente a partir de nossas aes deliberadas, em relao s
quais o eu relaciona-se reflexivamente ao longo do tempo.
Fabrcia Cavichioli Braida
218
6 CONSIDERAES FINAIS
A par desses resultados, verificou-se que o acadmico age corre-
tamente, embora de forma parcial, quando o assunto o que fazer,
mas esbarra no processo do saber-fazer. Paz (2006) teoriza sobre es-
sa questo, apoiada nos moldes da teoria holstica, dando nfase na ne-
cessidade de levar o professor em crescimento profissional a estruturar
o nvel do saber como saber-fazer, isto , oferecer um patamar de con-
ceitos em rede abstrados e consolidados sobre a experincia metodi-
camente planejada e refletida, bem como estabelecer uma interface en-
tre esses conceitos de estruturao da prtica e o fazer acadmico.
Com base em tais consideraes, pde-se afirmar, ao final deste
estudo, que as pesquisas relacionadas temtica das representaes
docentes em contexto de formao inicial auxiliam na transformao
do pensar-agir do acadmico, sensibilizando, sem dvida alguma, no
valor reflexivo-heurstico de suas experincias para fins de capacita-
o profissional. Para tanto, muito se tem a explorar sobre as repre-
sentaes de leitura em lngua materna em contexto de formao ini-
cial docente.
REFERNCIAS
AEBERSOLD, J. A.; FIELD, M. L. From Reader to Reading Teacher: issues and strat-
egies for second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press,
1997.
BURNS, A. Collaborative action research for English language teachers. New York:
Cambridge University Press, 1999.
DANDRADE, R. A folk model of the mind. In: QUINN, N.; HOLLAND, D. Cultural
models in language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
p. 112-148.
GEE, J. P. Social linguistics and literacies. London: The Falmer Press, 1999.
GRELLET, F. Developing reading skills: a practical guide to reading comprehen-
sion exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
LIMA, L. J. R. Aquisio do lxico em espanhol como lngua estrangeira segundo a
Teoria Holstica da Atividade. Dissertao (Mestrado em Lingustica Aplicada)
Universidade Federal de Santa Maria, 2010.
LUHMANN, N. Legitimao pelo procedimento. Traduo: Maria da Conceio
Corte-Real. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 1980. 210p.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
219
LUHMANN, N. Social Systems. Stanford, California: Stanford University Press,
1995.
MOTTA, V. R. A. Noticing e Consciousness-Raising na aquisio da escrita em ln-
gua materna. 2009. 2004f. Tese (Doutorado em Lingustica Aplicada) Universi-
dade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009.
PAZ, D. M. S. Formao de conceitos de ensino de leitura em portugus como se-
gunda lngua. 370f. Tese (Doutorado em Lingustica Aplicada) Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.
RICHTER, M. G. Rumo a uma concepo holstica de formao docente. Projeto
nmero 016280, registrado no Gabinete de Projetos do Centro de Artes e Letras
UFSM, 2004.
RICHTER, M. G. Aquisio, representao e atividade. Santa Maria: UFSM, PPGL-
Editores, 2008. 81p.
RICHTER, M. G. Saberes didticos: em favor do ensino ou da aprendizagem? In: IX
ENCONTRO DO CRCULO DE ESTUDOS LINGUSTICOS DO SUL CELSUL, 1, 2010,
Santa Catarina. Anais eletrnicos Santa Catarina: Unisul, 2010, p. 1-11. Dispon-
vel em: <http://www.celsul.org.br/Encontros/09/artigos/Marcos%20Richter.
pdf>. Acesso em: 15 out. 2010.
RICHTER, M. G. Conceitos de Aquisio da Linguagem na Perspectiva da Lingusti-
ca de Corpus: Estudo empregando um Novo Mapeador Semntico. Texto Indito
[2009].
RICHTER, M. G.; et al. Formao inicial docente na perspectiva da Teoria Holstica
da Atividade. In: IX SEMINRIO INTERNACIONAL EM LETRAS: RELAES
DIALGICAS EM LNGUA E LITERATURA, 1, 2009, Santa Maria. Anais Santa
Maria: Centro Universitrio Franciscano, 2009. 1 CD-ROM.
RICHTER ET AL. O modelo holstico como alternativa formao docente. In: I
CONGRESSO LATINO-AMERICANO SOBRE FORMAO DE PROFESSORES DE
LNGUAS, 1, 2006, Florianpolis. Anais eletrnicos Florianpolis: UFSC, 2006,
909-924p. Disponvel em: <http://www.cce.ufsc.br/~clafpl/pagina_principal1.
htm>. Acesso em: 15 mar. 2010.
RUMELHART, D. E. Toward an interactive model of reading. In: SINGER, H.;
RUDDELL, R. Theoretical models and process of reading. Newark, International
Reading Association, 1985. p. 722-751.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ao. So Paulo: Cortez, 2008.
TRINDADE, A. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoitico. Por-
to Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
VYGOTSKY, L. S. A formao social da mente: o desenvolvimento dos processos
psicolgicos superiores. So Paulo: Martins Fontes, 1994. 168p.
INDICADORES DA LEITURA NO BRASIL:
UMA ANLISE DOS DADOS DA REGIO
DO VALE DO RIO PARDO
Katiele Naiara Hirsch
1
Rosngela Gabriel
2
1 INTRODUO
Nos ltimos quinze anos tem avanado no Brasil uma poltica de
avaliao da educao bsica. Essa tendncia pode ser percebida em
diversos pases desenvolvidos e tambm faz parte de uma proposta da
Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE).
Tal iniciativa tem dado forma a um processo avaliao dos diversos
nveis que compem a educao bsica, a partir de programas nacio-
nais, como o Sistema Nacional de Avaliao da Educao Bsica
(Saeb)/Prova Brasil, Provinha Brasil e Exame Nacional do Ensino M-
dio (Enem), e internacionais, como o Programa Internacional de Ava-
liao dos Estudantes (Pisa), promovido pela OCDE.
Cada avaliao, a partir de um pblico alvo distinto, ocupa um
papel diferente na formao do panorama da educao brasileira. Os
resultados obtidos configuram indicadores da qualidade da educao
do pas. Entre as habilidades avaliadas, a leitura ocupa um lugar de
destaque, o que no mero acaso, levando em considerao o impor-
tante papel que a leitura ocupa em sociedades letradas.
A avaliao da leitura e os indicadores que se formam por meio
dela so uma maneira de verificar se a escola est atingindo seu obje-
1
Mestranda em Letras, rea de concentrao Leitura e Cognio, pela Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC), RS. Bolsista PROSUP/CAPES.
E-mail: katiele@mx2.unisc.br.
2
Doutora em Letras pela PUCRS (2001). Docente pesquisadora no Programa de Ps-
Graduao em Letras, rea de concentrao Leitura e Cognio, da Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC), RS. E-mail: rgabriel@unisc.br.
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
222
tivo com relao formao de leitores eficientes. Ao mesmo tempo,
so uma referncia importante para subsidiar a qualificao do pro-
cesso de ensino e aprendizagem dessa habilidade.
Neste artigo, pretendemos iniciar uma reflexo acerca da relao
entre os indicadores da leitura no Brasil e a qualidade do ensino e da
aprendizagem dessa habilidade nas escolas brasileiras, mais especifi-
camente nas escolas do Vale do Rio Pardo, regio do estado do Rio
Grande do Sul. Contudo, antes de tratarmos da avaliao, precisamos
definir o que a leitura e que processos cognitivos esto envolvidos
na sua aprendizagem e devem ser considerados durante o ensino. Em
seguida, apresentamos os indicadores da leitura no Brasil e os aspec-
tos da leitura considerados nas avaliaes do Saeb/Prova Brasil e
Enem, alm de informaes sobre o Ideb. Posteriormente, contextuali-
zamos a regio do Vale do Rio Pardo e apresentados os dados da regio
em relao aos indicadores abordados. Por fim, organizamos uma dis-
cusso acerca da relao entre os indicadores e a qualidade da educa-
o na regio em questo.
2 LEITURA: ASPECTOS COGNITIVOS
Em sociedades letradas, a leitura uma atividade fundamental.
Ao mesmo tempo que o principal meio de acesso ao conjunto de co-
nhecimentos acumulado pela humanidade, a competncia em leitura
substancial para o exerccio pleno da cidadania. Embora possa parecer
tarefa simples para o leitor proficiente, a aprendizagem da leitura
um processo complexo que envolve o desenvolvimento de diversas
habilidades. Morais (2012) classifica essas habilidades em dois con-
juntos. O primeiro se refere a uma habilidade especfica da leitura: a
identificao de palavras escritas. O segundo composto por uma s-
rie de capacidades necessrias leitura, mas compartilhadas com ou-
tras tarefas, entre elas esto a ateno, a memria, a capacidade de
inferenciao, o conhecimento lexical, o conhecimento gramatical, tex-
tual e enciclopdico e a argumentao.
Antes mesmo que a criana ingresse no ensino formal, ela j de-
senvolve alguns conhecimentos importantes a respeito da linguagem e
da escrita que podem favorecer a aprendizagem da leitura. Trata-se de
conhecimentos sobre as convenes da escrita, a familiaridade com as
formas grficas das letras, o entendimento do fato de que a mesma
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
223
letra pode ter diferentes formas fsicas, a compreenso das funes de
um texto, a separao entre as palavras e a conscincia fonolgica
(MORAIS; KOLINSKY; GRIMM-CABRAL, 2004). Tais conhecimentos
prvios leitura so fundamentais para a formao do leitor e no
precisam ser aprendidos apenas na escola. O ideal que a criana os
adquira no contexto familiar, pelo convvio com situaes de leitura
envolvendo os pas ou irmos e a partir da manipulao de materiais
escritos. Crianas de contextos socioeconmicos menos favorecidos
geralmente chegam escola e iniciam o processo de alfabetizao me-
nos preparadas do que as crianas que vm de famlias de classes eco-
nomicamente favorecidas. Isso ocorre em funo das diferenas no
volume e na qualidade da experincia com a leitura e com o material
escrito.
Na escola, tem incio um processo de instruo mais ou menos
explcita, em que o professor vai mediar a relao da criana com o
texto escrito, criando situaes que favoream e facilitem algumas
descobertas. O primeiro desafio do aprendiz de leitor entender o
princpio alfabtico, isto , o princpio de correspondncia entre os fo-
nemas e os grafemas (MORAIS, 2013). Para tanto necessrio desen-
volver o conhecimento consciente das menores unidades fonolgicas
da fala, a chamada conscincia fonmica. A essa aprendizagem segue a
capacidade do aprendiz de leitor reconhecer as letras como um con-
junto especfico de categorias visuais abstratas e a capacidade de as-
sociar grafemas e fonemas. Com isso, o aprendiz torna-se um decodifi-
cador. A capacidade de decodificao evolui medida que a criana
torna-se capaz de integrar fonemas em unidades maiores.
Para tornar-se um leitor proficiente, o aprendiz precisa superar
a decodificao. Para tanto, ele deve construir uma representao pre-
cisa da estrutura ortogrfica de cada palavra conhecida, a fim de ler
automaticamente (MORAIS, 2012). Isto estabelecido quando o efeito
do comprimento da palavra, tpico da decodificao sequencial, desa-
parece. A partir desse momento o leitor poder dedicar-se mais inten-
samente compreenso do sentido daquilo que est sendo lido.
A decodificao certamente um momento muito importante da
leitura, no entanto ela no o objetivo dessa atividade. Tendo em vista
que o texto portador de sentido, o objetivo da leitura extrair esse
sentido, chegando compreenso do texto. Os processos cognitivos
implicados na compreenso textual so gerais, isto , so os mesmos
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
224
empregados na compreenso de uma conversa, por exemplo. A dife-
rena est no cdigo utilizado e nos recursos contextuais limitados de
que dispe o leitor em comparao ao ouvinte. No texto escrito, a fun-
o simblica da linguagem ampliada, pois as palavras no possuem
um vnculo direto com o seu significado. Para chegar ao significado da
palavra, o leitor deve passar por diversos nveis de processamento
que o levam, a partir da integrao de conhecimentos individuais e
coletivos, a um sentido compartilhado por ele, seu interlocutor e seu
grupo social.
Compreender bem um texto no uma atividade espontnea,
nem mesmo individual e isolada. A compreenso demanda diversas
capacidades cognitivas que devem ser treinadas por meio da prtica,
entre elas manter a ateno no que se est lendo, recuperar conheci-
mentos prvios, manter as informaes j obtidas ativas na memria
de trabalho e relacionar informaes distintas em busca de um senti-
do comum. Mas, ao mesmo tempo que envolve processos individuais,
a compreenso exige a mobilizao de esquemas cognitivos internali-
zados, guiados e ativados pelo sistema sociocultural que internaliza-
mos ao longo da vida (MARCUSCHI, 2008). Ou seja, a compreenso de
um texto uma atividade de produo de sentidos colaborativa, e no
a simples identificao de informaes.
A produo de sentidos ocorre principalmente por meio de pro-
cessos inferenciais. A inferncia, o processo mental pelo qual deduzi-
mos uma informao nova mediante informaes j conhecidas, funci-
ona como provedora de contexto integrador para informaes, dando
encadeamento e coerncia ao texto, possibilitando a elaborao de
hipteses coesivas para o leitor processar o texto (MARCUSCHI, 2008).
A compreenso textual requer do leitor a mobilizao de uma
srie de estratgias conscientes e inconscientes a fim de no s levantar
hipteses, mas de avaliar a qualidade dessas hipteses para valid-las
ou refut-las, buscando preencher as lacunas que o texto apresenta.
Essas hipteses so guiadas pelo conhecimento prvio do leitor, tanto
o conhecimento lingustico quanto o conhecimento enciclopdico.
Tendo em vista a complexidade da aprendizagem da leitura, cabe
ao professor responsvel pelo ensino da leitura conhecer os diversos
aspectos dessa atividade, de forma que seja capaz de diagnosticar as
deficincias que alguns alunos podem apresentar durante o processo
de aprendizagem e assim desenvolver atividades e propor estratgias
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
225
que possam lev-los a superar suas dificuldades. A qualificao do
processo de ensino e aprendizagem da leitura passa, sem dvida, por
professores bem preparados.
Os indicadores da leitura que tm surgido nos ltimos 15 anos
oferecem dados que podem contribuir para que o professor conhea
as dificuldades dos seus alunos e assim desenvolva prticas adequa-
das. Do mesmo modo, tais informaes podem subsidiar aes mais
amplas por parte das equipes de gesto escolar e at mesmo polticas
pblicas de incentivo leitura, seja no mbito municipal, estadual ou
federal.
Na seo seguinte, apresentamos alguns indicadores da leitura
no Brasil, buscando compreender que aspectos da leitura so conside-
rados e como eles so avaliados.
3 INDICADORES DA LEITURA NO BRASIL
Um indicador geralmente uma estatstica, um parmetro. So
ndices, nmeros, relatrios, pesquisas, avaliaes que fornecem in-
formaes sobre determinado aspecto da realidade. Os indicadores da
educao auxiliam no diagnstico da educao brasileira, permitindo
anlises a respeito do cenrio da educao do pas e das mudanas
que ocorrem ao longo dos anos.
O Brasil conta com um conjunto variado de indicadores, os quais
se configuram tanto a partir de levantamentos estatsticos, como o Cen-
so da Educao, quanto por meio de avalies nacionais como Enem,
Saeb/Prova Brasil, Provinha Brasil, e internacionais, como o Pisa; ou
ainda ndices calculados a partir da integrao de informaes de di-
versos tipos, como o Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional) e o
Ideb (ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica) ou a pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil. Alguns desses indicadores do especial
ateno s habilidades de leitura dos estudantes, de modo que permi-
tem que analisemos tambm a qualidade do ensino e da aprendizagem
dessa capacidade. importante destacarmos que os indicadores base-
ados em avaliaes realizadas com estudantes demonstram estar de
acordo com os documentos orientadores do ensino no pas, como
aponta pesquisa realizada por Rodrigues (2013). Essa organizao
possibilita que o trabalho realizado nas escolas esteja em consonncia
com as exigncias das avaliaes.
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
226
No presente captulo destacamos os dados de algumas avalia-
es nacionais, entre elas o Enem, o Saeb/Prova Brasil e tambm do
Ideb. Selecionamos-nas em funo da ampla divulgao e facilidade de
acesso tanto aos resultados quanto s informaes referentes aos seus
objetivos.
4 ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MDIO)
O Exame Nacional do Ensino Mdio, implantado em 1998, tem
por objetivo avaliar o desempenho do estudante ao fim da educao
bsica. um exame de carter voluntrio, que visa aferir o desenvol-
vimento das competncias e habilidades necessrias ao exerccio ple-
no da cidadania (INEP, 2011).
O teste exige do estudante um nvel de interpretao em relao
a acontecimentos no pas e no mundo, avaliando a bagagem cultural
do estudante, sem se deter em contedos pontuais. A prova avalia cin-
co eixos cognitivos, comuns a todas as reas do conhecimento (Domi-
nar linguagens; Compreender fenmenos; Enfrentar situaes-
problema; Construir argumentao; Elaborar propostas). As reas do
conhecimento avaliadas so: Linguagens, Cdigos e suas Tecnologias
(incluindo redao); Cincias Humanas e suas Tecnologias; Cincias
da Natureza e suas Tecnologias; e Matemtica e suas Tecnologias. Em
cada rea so apresentadas 50 questes de mltipla escolha. Em fun-
o do nmero de questes, a prova ocorre em dois dias.
A avaliao da leitura est integrada rea de Linguagens, Cdi-
gos e suas Tecnologias, que possui a seguinte matriz de referncia:
Quadro 1: Matriz de referncia Linguagens, Cdigos e suas Tecnologias
Competncias Habilidades
Competncia de rea 1:
Aplicar as tecnologias
da comunicao e da
informao na escola,
no trabalho e em outros
contextos relevantes
para sua vida.
H1 Identificar as diferentes linguagens e seus recursos ex-
pressivos como elementos de caracterizao dos sistemas de
comunicao.
H2 Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sis-
temas de comunicao e informao para resolver problemas
sociais.
H3 Relacionar informaes geradas nos sistemas de comuni-
cao e informao, considerando a funo social desses siste-
mas.
H4 Reconhecer posies crticas aos usos sociais que so feitos
das linguagens e dos sistemas de comunicao e informao.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
227
Competncia de rea 2:
Conhecer e usar ln-
gua(s) estrangeira(s)
moderna(s) como ins-
trumento de acesso a
informaes e a outras
culturas e grupos
sociais.
H5 Associar vocbulos e expresses de um texto em LEM
(Lngua Estrangeira Moderna) ao seu tema.
H6 Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos
como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informa-
es, tecnologias e culturas.
H7 Relacionar um texto em LEM, as estruturas lingusticas,
sua funo e seu uso social.
H8 Reconhecer a importncia da produo cultural em LEM
como representao da diversidade cultural e lingustica.
Competncia de rea 3:
Compreender e usar a
linguagem corporal
como relevante para a
prpria vida, integrado-
ra social e formadora da
identidade.
H9 Reconhecer as manifestaes corporais de movimento
como originrias de necessidades cotidianas de um grupo social.
H10 Reconhecer a necessidade de transformao de hbitos
corporais em funo das necessidades cinestsicas.
H11 Reconhecer a linguagem corporal como meio de intera-
o social, considerando os limites de desempenho e as alterna-
tivas de adaptao para diferentes indivduos.
Competncia de rea 4:
Compreender a arte
como saber cultural e
esttico gerador de
significao e integra-
dor da organizao do
mundo e da prpria
identidade.
H12 Reconhecer diferentes funes da arte, do trabalho da
produo dos artistas em seus meios culturais.
H13 Analisar as diversas produes artsticas como meio de
explicar diferentes culturas, padres de beleza e preconceitos.
H14 Reconhecer o valor da diversidade artstica e das inter-
relaes de elementos que se apresentam nas manifestaes de
vrios grupos sociais e tnicos.
Competncia de rea 5:
Analisar, interpretar e
aplicar recursos expres-
sivos das linguagens,
relacionando textos
com seus contextos,
mediante a natureza,
funo, organizao,
estrutura das manifes-
taes, de acordo com
as condies de produ-
o e recepo.
H15 Estabelecer relaes entre o texto literrio e o momento
de sua produo, situando aspectos do contexto histrico, social
e poltico.
H16 Relacionar informaes sobre concepes artsticas e
procedimentos de construo do texto literrio.
H17 Reconhecer a presena de valores sociais e humanos
atualizveis e permanentes no patrimnio literrio nacional.
Competncia de rea 6:
Compreender e usar os
sistemas simblicos das
diferentes linguagens
como meios de organi-
zao cognitiva da rea-
lidade pela constituio
de significados, expres-
so, comunicao e
informao.
H18 Identificar os elementos que concorrem para a progres-
so temtica e para a organizao e estruturao de textos de
diferentes gneros e tipos.
H19 Analisar a funo da linguagem predominante nos textos
em situaes especficas de interlocuo.
H20 Reconhecer a importncia do patrimnio lingustico para
a preservao da memria e da identidade nacional.
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
228
Competncia de rea 7:
Confrontar opinies e
pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e
suas manifestaes
especficas.
H21 Reconhecer em textos de diferentes gneros, recursos
verbais e no verbais utilizados com a finalidade de criar e mu-
dar comportamentos e hbitos.
H22 Relacionar, em diferentes textos, opinies, temas, assun-
tos e recursos lingusticos.
H23 Inferir em um texto quais so os objetivos de seu produ-
tor e quem seu pblico alvo, pela anlise dos procedimentos
argumentativos utilizados.
H24 Reconhecer no texto estratgias argumentativas empre-
gadas para o convencimento do pblico, tais como a intimida-
o, seduo, comoo, chantagem, entre outras.
Competncia de rea 8:
Compreender e usar a
lngua portuguesa como
lngua materna, gerado-
ra de significao e
integradora da organi-
zao do mundo e da
prpria identidade.
H25 Identificar, em textos de diferentes gneros, as marcas
lingusticas que singularizam as variedades lingusticas sociais,
regionais e de registro.
H26 Relacionar as variedades lingusticas a situaes especfi-
cas de uso social.
H27 Reconhecer os usos da norma padro da lngua portu-
guesa nas diferentes situaes de comunicao.
Competncia de rea 9:
Entender os princpios,
a natureza, a funo e o
impacto das tecnologias
da comunicao e da
informao na sua vida
pessoal e social, no
desenvolvimento do
conhecimento, associ-
ando-o aos conheci-
mentos cientficos, s
linguagens que lhes do
suporte, s demais tec-
nologias, aos processos
de produo e aos pro-
blemas que se propem
solucionar.
H28 Reconhecer a funo e o impacto social das diferentes
tecnologias da comunicao e informao.
H29 Identificar pela anlise de suas linguagens, as tecnologias
da comunicao e informao.
H30 Relacionar as tecnologias de comunicao e informao
ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas
produzem.
Fonte: Adaptado pelas autoras a partir de Brasil (2009, p. 1-3).
Analisando o Quadro 1, podemos perceber que o desempenho
em Leitura mais intensamente considerado nas competncias 5, 6, 7
e 8. As habilidades correspondentes articulam diversos aspectos ne-
cessrios leitura proficiente, como conhecimentos acerca do contex-
to de produo do texto, da organizao textual e dos gneros textuais.
possvel observar um destaque por parte da avaliao s funes
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
229
sociais do texto. importante acrescentar que a leitura proposta no
Enem abrange no s textos verbais, mas multimodais, cujo significa-
do se realiza por mais de um cdigo semitico. Esse um fenmeno
cada vez mais comum em funo principalmente do desenvolvimento
das novas tecnologias da informao.
A leitura esperada de um leitor competente segundo a avaliao
do Enem, portanto, uma leitura que vai alm da decodificao e alm
do prprio texto. Para compreender, o leitor precisa compreender
aquilo que no est no texto, precisa perceber implcitos, ler nas estre-
linhas e inferir possveis sentidos, mobilizar seu conhecimento prvio
e levar em conta as condies de produo dos textos.
5 SAEB (SISTEMA DE AVALIAO DA EDUCAO BSICA) /
PROVA BRASIL
O Sistema de Avaliao da Educao Bsica (Saeb) uma avalia-
o em larga escala aplicada desde 1990, a cada dois anos, pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira
(Inep). Tem como objetivo a configurao de um diagnstico dos sis-
temas educacionais visando gerar informaes que possam subsidiar
a formulao, reformulao e o monitoramento das polticas pblicas
educacionais nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo
para a melhoria da qualidade, equidade e eficincia do ensino (INEP,
2011). So aplicadas provas de Lngua Portuguesa e Matemtica, alm
de questionrios socioeconmicos.
O Saeb composto por duas avaliaes. A primeira, denominada
Aneb (Avaliao Nacional da Educao Bsica), abrange de maneira
amostral os estudantes das redes pblicas e privadas do Pas, matricu-
lados no 5 e 9 ano do ensino fundamental e tambm no 3 ano do
ensino mdio, de escolas localizadas na rea rural e urbana. Nessa ca-
tegoria, os resultados so apresentados para cada unidade da federa-
o, regio e para o Brasil como um todo. A segunda avaliao, deno-
minada Anresc (Avaliao Nacional do Rendimento Escolar), recebe o
nome de Prova Brasil e expande os resultados obtidos por meio da
Aneb. A avaliao envolve um nmero maior de sujeitos, pois aplica-
da censitariamente, considerando alunos de 5 e 9 anos do ensino
fundamental pblico, nas redes estaduais, municipais e federais, de
rea rural e urbana, em escolas que tenham no mnimo 20 alunos ma-
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
230
triculados na srie avaliada. Nessa modalidade, os resultados so ofe-
recidos por escola, municpio, unidade da federao e pas que tam-
bm so utilizados no clculo do ndice de Desenvolvimento da Edu-
cao Bsica (Ideb).
As notas do Saeb so referentes s escolas, s redes e aos siste-
mas de ensino, que recebem boletins informando sua nota mdia. Ao
mesmo tempo, esse material apresenta explicaes a respeito do sig-
nificado da nota alcanada, o que est bom e o que precisa ser mais
desenvolvido.
A pontuao da avaliao vai de 0 a 500 pontos. Os alunos po-
dem ser distribudos em 4 nveis qualitativos em uma escala de profi-
cincia: Insuficiente, Bsico, Proficiente e Avanado. Para o 5 ano do
Ensino Fundamental, os alunos nos nveis proficiente e avanado so
aqueles que obtiveram desempenho igual ou superior a 200 pontos
em Portugus. Para o 9 ano do Ensino Fundamental, os alunos nos
nveis proficiente e avanado so aqueles que obtiveram desempenho
igual ou superior a 275 em Portugus (EDUCAR PARA CRESCER,
2012). O Saeb/Prova Brasil estipula uma escala com 10 nveis
3
(de 0 a
9) de proficincia em leitura no ensino fundamental e 8 nveis no en-
sino mdio. Ao nvel mais baixo correspondem alunos que obtiveram
uma pontuao abaixo de 125 pontos no ensino fundamental e de 150
a 175 no ensino mdio. Ao nvel 9 correspondem estudantes que al-
canaram de 325 a 350 pontos no ensino fundamental e estudantes
que atingiram 375 pontos ou mais no ensino mdio (INEP, 2011,).
Ambas as avaliaes utilizam a mesma matriz de referncia. Es-
truturalmente, a Matriz de Lngua Portuguesa se divide em duas di-
menses: uma denominada Objeto do Conhecimento, em que so lista-
dos os seis tpicos; e outra denominada Competncia, com descritores
que indicam habilidades a serem avaliadas em cada tpico. Para o 5
ano EF, so contemplados 15 descritores; e para o 9 ano do EF e a 3
srie do EM, so acrescentados mais 6, totalizando 21 descritores. Os
descritores aparecem, dentro de cada tpico, em ordem crescente de
aprofundamento e/ou ampliao de contedos ou das habilidades
exigidas.
3
A descrio completa dos nveis de desempenho pede ser encontrada no site do Inep.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
231
Quadro 2: Tpicos e descritores Saeb/Prova Brasil
Tpico Descritores
5
ano
E.F
9 ano
E.F.
3 ano
E.M.
Tpico I.
Procedimentos de
Leitura
Localizar informaes explcitas em um texto D1 D1
Inferir o sentido de uma palavra ou expresso D3 D3
Inferir uma informao implcita em um texto D4 D4
Identificar o tema de um texto D6 D6
Distinguir um fato da opinio relativa a esse fato D11 D14
Tpico II.
Implicaes do
Suporte, do Gnero
e/ou Enunciador na
Compreenso do
Texto
Interpretar texto com auxlio de material grfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.)
D5 D5
Identificar a finalidade de textos de diferentes
gneros
D9 D12
Tpico III.
Relao entre
Textos
Reconhecer diferentes formas de tratar uma in-
formao na comparao de textos que tratam do
mesmo tema, em funo das condies em que
ele foi produzido e daquelas em que ser recebido
D15 D20
Reconhecer posies distintas entre duas ou mais
opinies relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema
- D21
Tpico IV.
Coerncia e Coeso
no Processamento
do Texto
Estabelecer relaes entre partes de um texto,
identificando repeties ou substituies que
contribuem para a continuidade de um texto
D2 D2
Identificar o conflito gerador do enredo e os ele-
mentos que constroem a narrativa
D7 D10
Estabelecer relao causa/consequncia entre
partes e elementos do texto
D8 D11
Estabelecer relaes lgico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunes, advrbios etc.
D12 D15
Identificar a tese de um texto - D7
Estabelecer relao entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustent-la
- D8
Diferenciar as partes principais das secundrias
em um texto
- D9
Tpico V.
Relaes entre
Recursos Expressi-
vos e Efeitos de
Sentido
Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados
D13 D16
Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuao e de outras notaes
D14 D17
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expresso
- D18
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
explorao de recursos ortogrficos e/ou morfos-
sintticos
- D19
Tpico VI.
Variao Lingustica
Identificar as marcas lingusticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto
D10 D13
Fonte: Adaptado pelas autoras a partir de Inep (2011).
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
232
Ao observarmos o Quadro 2 podemos perceber que, em compa-
rao com o Quadro 1, ele apresenta uma descrio mais detalhada
das habilidades requeridas em relao ao desempenho em leitura, a
qual amplamente considerada em todos os tpicos.
A Matriz de Referncia do Saeb/Prova Brasil engloba habilidades
de leitura que vo alm, desde o nvel mais bsico como a decodificao
e a identificao de informaes explcitas, at nveis mais profundos.
Nestes nveis considera-se a compreenso de textos de diferentes gne-
ros, bem como as diferentes interaes sociais que promovem seus con-
textos de produo e de circulao social, e tambm processos inferen-
ciais. A prova no contempla, contudo, o posicionamento crtico, dei-
xando de fora uma parte importante do processo de formao do leitor.
Tendo em vista as matrizes tanto do Enem quanto do Saeb/Prova
Brasil, podemos considerar que a preparao dos alunos para ambas as
provas (e para o uso da leitura em situaes de vida) exige que o pro-
fessor de Lngua Portuguesa explore com seus alunos gneros discursi-
vos diversos, incluindo textos no contnuos e multimodais. Em termos
gerais, as provas do Enem e Saeb/Prova Brasil se assemelham por con-
siderarem competncias e habilidades que exigem do aluno ter automa-
tizado o nvel da decodificao e ser capaz de estabelecer relaes entre
o contedo textual e a realidade, mediante processos de inferenciao.
A formao de um leitor proficiente nos nveis de exigncia das
avaliaes em questo um processo lento que envolve no s o de-
senvolvimento de um conjunto de habilidades especficas da leitura,
como a decodificao, mas de um conjunto de habilidades mais amplo,
relacionado compreenso e utilizado tambm em outras atividades
que no a leitura. Nesse campo relacionado s experincias pessoais e
ao conhecimento prvio, as diferenas relativas ao nvel socioecon-
mico ficam bastante visveis. Faz parte do papel da escola buscar for-
mas de superar essas diferenas.
O trabalho com textos diversificados muito importante. Pode-
mos concluir que, se durante o processo educacional os alunos forem
expostos a apenas um tipo de texto, como o literrio, por exemplo, pro-
vavelmente tero dificuldades para lidar com um texto misto ou no
contnuo (LOPES-ROSSI, 2012). Outro aspecto relevante do ensino da
leitura a abordagem de estratgias de identificao das relaes lgi-
co-semnticas que se estabelecem entre partes do texto, efeitos de sen-
tido atrelados s escolhas lexicais, recursos expressivos e elementos de
coeso textual. De acordo com Lopes-Rossi (2012, p. 44), o desafio pa-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
233
ra o professor se coloca na necessidade de elaborar atividades de leitu-
ra que compreendam aspectos sociocomunicativos do gnero, temti-
cos, lingustico-textuais e estilsticos, culminado em uma apreciao cr-
tica da leitura, como prope uma abordagem sociocognitiva de leitura.
6 IDEB (NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA)
O Ideb foi criado pelo Inep em 2007 e considera dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educao: aprovao e
mdia de desempenho dos estudantes em lngua portuguesa e mate-
mtica. As mdias de desempenho da Prova Brasil (para os munic-
pios) e do Saeb (para as unidades da federao e para o pas), junta-
mente com os dados sobre aprovao escolar obtidos no Censo Esco-
lar, so utilizadas no clculo do ndice de Desenvolvimento da Educa-
o Bsica (Ideb), uma das mais importantes ferramentas de acompa-
nhamento das metas de qualidade da educao bsica, no mbito do
Plano de Desenvolvimento da Educao (PDE), do MEC.
Podemos resumir o clculo do Ideb na seguinte frmula: Ideb =
Fluxo + Aprendizado. O primeiro componente refere-se taxa de ren-
dimento escolar, isto , aos ndices de aprovao, os quais so obtidos
pelo Censo Escolar realizado anualmente pelo Inep. O segundo com-
ponente dado pelas mdias de desempenho nos exames padroniza-
dos aplicados pelo Inep Saeb/Prova Brasil.
O resultado do Ideb traduzido em uma escala de zero a dez em
que possvel comparar os diferentes desempenhos. A meta estabele-
cida no PDE para 2021 a mdia 6, que corresponde a um nvel de
qualidade comparvel com aquele apresentado por pases desenvol-
vidos. Em 2011, o Ideb nacional atingiu 4.1, ultrapassando a meta
proposta de 3.9 para esse ano (INEP, 2011).
Os resultados do Ideb devem ser utilizados pelos estados e mu-
nicpios como parmetro para orientar a melhoria do ensino em sua
rede. Uma anlise das instituies mais bem avaliadas nos permite
perceber que medidas tidas como simples podem trazer bons resulta-
dos. Nessas escolas, a mdia de permanncia do diretor no cargo de
no mnimo trs anos, enquanto a mdia nacional de doze meses; ne-
las l-se pelo menos quatro livros por semestre, enquanto a maior
parte das escolas brasileiras no faz exigncia de leitura. Outro aspec-
to importante a porcentagem de professores com curso superior:
92% nas escolas com bons resultados, contra a mdia nacional de
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
234
68% (EDUCAR PARA CRESCER, 2012). O bom relacionamento entre
os pais e a escola, baixa rotatividade no quadro de funcionrios e aulas
de reforo tambm so caractersticas encontradas nas escolas com
melhores desempenhos (EBC, 2012).
Para seguir com nossa reflexo sobre os indicadores da leitura,
passamos na seo seguinte aos dados da regio do Vale do Rio Pardo
segundo os indicadores da educao. Antes, porm, contextualizamos
a regio.
7 A LEITURA NO VALE DO RIO PARDO
A regio do Vale do Rio Pardo fica localizada no centro-oriental
do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente ela formada por vinte e
trs municpios (segundo a organizao dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento Coredes RS de 2011). A regio apresenta gran-
des diferenas geogrficas, econmicas, socioculturais, o que configu-
ra um baixo grau de identidade entre os municpios (VOGT, 2001).
Alm disso, do ponto de vista histrico-cultural, pode ser considerada
uma regio heterognea, pois apesar de prximos, os municpios pas-
saram por processos de ocupao e desenvolvimento diferenciados.
Abaixo podemos observar a localizao da regio no mapa do estado:
Figura 1: Mapa com a localizao da regio do Vale do Rio Pardo no estado do
Rio Grande do Sul
Fonte: FEE (2011).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
235
Diversos povos ocuparam a regio. A rea povoada pelos imi-
grantes e descendentes alemes deu origem a municpios na parte
mais central do Vale do Rio Pardo, influenciando a cultura dos muni-
cpios de Santa Cruz do Sul, Candelria, Vale do Sol, Vera Cruz, Passo
do Sobrado, Vale Verde e Sinimbu. A procura por novas terras levou os
imigrantes alemes a subirem o Planalto e l encontrarem moradores
de origem luso-brasileira e Italiana. Em municpios como os de Bo-
queiro do Leo, Gramado Xavier, Ibarama, Sobradinho e Arroio do
Tigre, h predominncia de habitantes de descendncia italiana. J em
Tunas e Herveiras predomina a populao de origem luso-brasileira.
Nos municpios de Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, e
General Cmara, por sua vez, h uma forte ligao com a cultura deixa-
da pelos antepassados portugueses: ligao histrica com a conquista
do territrio, o latifndio, a criao a de gado, e a escravido (LENZ,
2005). Abaixo, podemos observar no mapa os municpios da regio (en-
tre eles esto alguns municpios que no fazem parte da regio).
O grupo de municpios do Corede Vale do Rio Pardo tem sua
economia baseada na agricultura. Nas sub-regies Setentrional (muni-
cpio de Arroio do Tigre, Boqueiro do Leo, Estrela Velha, Ibarama,
Lagoa Bonita, Passa Sete, Segredo e Sobradinho) e Central (formada
pelos municpios de Herveiras, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol,
Venncio Aires e Vera Cruz) predomina a agricultura familiar. J a sub-
regio Meridional (municpios de Candelria, Encruzilhada do Sul, Ge-
neral Cmara, Pntano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo e Vale
Verde) marcada pela agricultura patronal (LENZ, 2005).
A variao quanto densidade demogrfica dos municpios
tambm significativa, mas, para nos atermos ao objetivo deste traba-
lho, trazemos a variao mais alarmante, que se refere taxa de anal-
fabetismo (Quadro 3).
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
236
Figura 2: Mapa municpios da regio do Vale do Rio Pardo
Fonte: OBSERVA-DR (2013).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
237
Quadro 3: Caracterizao demogrfica urbana e rural da
Regio do Vale do Rio Pardo e Taxa de Analfabetismo
Municpio Pop. Urbana Pop. Rural Total
Taxa de
analfabetismo*
ARROIO DO TIGRE 5.962 6.686 12.648 7,05%
BOQUEIRO DO LEO 1.672 6.001 7.673 10,77%
CANDELRIA 15.715 14.456 30.171 9,50%
ENCRUZILHADA DO SUL 17.119 7.415 24.543 10,81%
ESTRELA VELHA 1.167 2.461 3.628 8,94%
GENERAL CMARA 4.966 3.481 8.447 9,55%
HERVEIRAS 384 2.570 2.954 10,17%
IBARAMA 1.053 3.318 4.371 6,85%
LAGOA BONITA DO SUL 384 2.278 2.662 10,66%
MATO LEITO 1.621 2.244 3.865 3,80%
PNTANO GRANDE 8.314 1.581 9.895 10,55%
PASSA SETE 555 4.599 5.154 12,84%
PASSO DO SOBRADO 1.429 4.582 6.011 5,92%
RIO PARDO 25.614 11.977 37.591 8,27%
SANTA CRUZ DO SUL 105.190 13.184 118.374 3,37%
SEGREDO 1.807 5.351 7.158 9,81%
SINIMBU 1.437 8.631 10.068 8,01%
SOBRADINHO 11.347 2.936 14.283 6,62%
TUNAS 1.375 3.020 4.395 12,42%
VALE DO SOL 1.249 9.828 11.077 6,23%
VALE VERDE 882 2.371 3.253 10,40%
VENNCIO AIRES 41.400 24.546 65.946 4,60%
VERA CRUZ 13.320 10.663 23.983 4,72%
Total 263.962 154.179 418.141 -----
Fonte: Quadro elaborado pelas autoras a partir das informaes do Censo IBGE 2010.
Enquanto alguns municpios se destacam pela baixa taxa de
analfabetismo, entre eles: Santa Cruz do Sul, Mato Leito, Venncio
Aires e Vera Cruz; outros surpreendem negativamente apresentando
ndices de analfabetismo entre 10% e 12%, como Passa Sete, Tunas,
Boqueiro do Leo, Lagoa Bonita do Sul, Pntano Grande entre outros.
adequado inferir que a maioria desses analfabetos sejam pessoas
com mais de cinquenta anos, mas ser que o percentual de analfabetos
em um municpio pode ser um indicativo do desempenho dos estu-
dantes na avaliao do Ideb? Os dados que seguem mostram que essa
relao possvel, mas no definitiva.
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
238
Quadro 4: Dados do Ideb dos municpios da regio do Vale do Rio Pardo
referentes ao 9 ano do Ensino Fundamental
Municpio Ideb 2011 (9 ano)
ARROIO DO TIGRE 4.2
BOQUEIRO DO LEO 4.0
CANDELRIA 3.5
ENCRUZILHADA DO SUL 3.4
ESTRELA VELHA 4.0
GENERAL CMARA 3.8
HERVEIRAS 3.8
IBARAMA ***
LAGOA BONITA DO SUL 5.0
MATO LEITO 5.0
PANTANO GRANDE 4.0
PASSA SETE ***
PASSO DO SOBRADO ***
RIO PARDO 3.8
SANTA CRUZ DO SUL 4.5
SEGREDO 4.4
SINIMBU 4.3
SOBRADINHO 4.4
TUNAS 3.8
VALE DO SOL 3.1
VALE VERDE 4.1
VENNCIO AIRES 4.4
VERA CRUZ 4.2
*** Sem mdia na Prova Brasil 2011.
Fonte: Adaptado a partir de Inep (2011)
Como podemos ver, Tunas apresenta um Ideb baixo, o que suge-
re que sua taxa de analfabetismo elevada possa estar afetando a quali-
dade do processo de ensino-aprendizagem da leitura. Pesquisas reali-
zadas a partir de dados estatsticos mostram que existe uma relao
mtua entre os nveis de leitura dos pas/famlia e as habilidades de
leitura desenvolvidas pelas crianas (GALVO, 2004). Considerando o
contexto de municpios como Tunas, possvel que a falta de prticas
de leitura no cotidiano familiar esteja afetando negativamente o de-
sempenho dos estudantes em atividades de leitura.
O municpio de Lagoa Bonita, no entanto, que tambm apresenta
um ndice elevado de analfabetismo, em contrapartida possui um Ideb
alto, o maior da regio, juntamente com Mato Leito. Esse fato de-
monstra que de alguma forma as escolas de Lagoa Bonita do Sul esto
superando os efeitos do nvel de analfabetismo no municpio. Galvo
(2004, p. 150) afirma que a escola, ao menos nas ltimas dcadas e
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
239
para grande parte da populao brasileira, tem-se constitudo na prin-
cipal via de acesso leitura e escrita, de modo que uma abordagem
adequada do texto escrito na escola pode favorecer a superao de
fatores econmico, sociais e geogrficos que tendem a comprometer a
qualidade das experincias das crianas com a leitura. Dessa forma,
conclumos que o analfabetismo no um determinante de maus re-
sultados em relao aprendizagem da leitura.
Podemos observar mais detalhes em relao ao ensino e a
aprendizagem da leitura a partir os dados do Saeb/Prova Brasil e do
Enem. Os mesmos permitem que separemos os resultados relativos ao
domnio da linguagem e da leitura dos resultados gerais. A seguir, ex-
pomos os resultados relativos ao Saeb/Prova Brasil, com os quais pre-
tendemos analisar a situao do ensino fundamental. Posteriormente,
com os dados do Enem, iremos analisar a situao do ensino mdio na
regio do Vale do Rio Pardo.
Quadro 5: Resultados dos municpios do Vale do Rio Pardo na avaliao
Saeb/Prova Brasil de 2011 na rea de Lngua Portuguesa
Municpio
LP - Anos iniciais
Ens. Fund.
LP - Anos finais
Ens. Fund.
ARROIO DO TIGRE 190,1 237,3
BOQUEIRO DO LEO *** ***
CANDELRIA 180,7 239,5
ENCRUZILHADA DO SUL 178,5 237,4
ESTRELA VELHA 207,8 237,6
GENERAL CMARA 172,8 ***
HERVEIRAS *** ***
IBARAMA 179,5 223,4
LAGOA BONITA DO SUL 187,8 ***
MATO LEITO 195,8 269,3
PANTANO GRANDE 207,8 229,7
PASSA SETE 191,0 236,8
PASSO DO SOBRADO 191,9 ***
RIO PARDO 179,1 236,6
SANTA CRUZ DO SUL 194,4 253,8
SEGREDO 179,0 251,8
SINIMBU 190,0 250,4
SOBRADINHO 205,9 258,2
TUNAS 157,5 195,6
VALE DO SOL 196,5 244,3
VALE VERDE 182,4 ***
VENNCIO AIRES 196,6 250,5
VERA CRUZ 206,2 241,6
Mdia geral 189,1 240,8
*** No houve clculo para esse estrato, conforme portarias normativas Saeb.
Fonte: Adaptado pelas autoras a partir de Inep (2011)
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
240
Se considerarmos os quatro nveis de proficincia (Insuficiente,
Bsico, Proficiente e Avanado), veremos que apenas quatro munic-
pios (Estrela Velha, Pntano Grande, Sobradinho e Vera Cruz) apre-
sentam a pontuao considerada nos nveis Proficiente e Avanado
para o 5 ano, isto , mais de 200 pontos. Considerando a escala de
desempenho do Saeb/Prova Brasil, formada por nove nveis, esses es-
tudantes se encontrariam no nvel 4 (entre 200 e 225 pontos). Nesse
nvel, os alunos:
identificam, dentre os elementos da narrativa que contm
discurso direto, o narrador observador;
selecionam entre informaes explcitas e implcitas as cor-
respondentes a um personagem;
localizam informao em texto informativo, com estrutura e
vocabulrio complexos;
inferem a informao que provoca efeito de humor no texto;
interpretam texto verbal, cujo significado construdo com o
apoio de imagens, inferindo informao;
identificam o significado de uma expresso em texto informa-
tivo;
inferem o sentido de uma expresso metafrica e o efeito de
sentido de uma onomatopeia;
interpretam histria em quadrinho a partir de inferncias so-
bre a fala da personagem, identificando o desfecho do confli-
to;
estabelecem relaes entre as partes de um texto, identifi-
cando substituies pronominais que contribuem para a coe-
so do texto. (INEP, 2011)
Os estudantes dos demais municpios, que obtiveram pontuao
entre 150 e 175 pontos, encontram-se no nvel 2, sendo capazes de
inferir informao em texto verbal (caractersticas do personagem) e
no verbal (tirinha); interpretar pequenas matrias de jornal, trechos
de enciclopdia, poemas longos e prosa potica; identificar o conflito
gerador e finalidade do texto. J aqueles que alcanaram pontuao
entre 175 e 200 pontos esto no nvel 3, alm das habilidades corres-
pondentes aos nveis anteriores, esto capacitados para interpretar, a
partir de inferncia, texto no verbal (tirinha) de maior complexidade
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
241
temtica; identificar o tema a partir de caractersticas que tratam de
sentimentos do personagem principal; e reconhecer elementos que
compem uma narrativa com temtica e vocabulrio complexos
(INEP, 2011).
No que diz respeito aos resultados correspondentes ao 9, ne-
nhum municpio alcanou pontuao igual ou maior que 275, conside-
rada a pontuao correspondente aos nveis Proficiente e Avanado
no 9 ano. A mdia para esta etapa do ensino foi de 240 pontos, o que
corresponde ao nvel 5 na escala de proficincia do teste. Nessa cate-
goria, alm das capacidades consideradas nos nveis anteriores, os
alunos:
identificam o efeito de sentido decorrente do uso da pontua-
o (reticncias);
inferem a finalidade do texto; distinguem um fato da opinio
relativa a este fato, numa narrativa com narrador persona-
gem;
distinguem o sentido metafrico do literal de uma expresso;
reconhecem efeitos de ironia ou humor em textos variados;
identificam a relao lgico-discursiva marcada por locuo
adverbial ou conjuno comparativa;
interpretam texto com apoio de material grfico;
localizam a informao principal.
inferem o sentido de uma palavra ou expresso;
estabelecem relao causa/consequncia entre partes e ele-
mentos do texto;
identificam o tema de textos narrativos, argumentativos e
poticos de contedo complexo;
identificam a tese e os argumentos que a defendem em textos
argumentativos;
reconhecem o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expresso. (INEP, 2011)
Em relao aos resultados do Enem 2011, tambm h um con-
traste em relao mdia dos municpios. Contudo ele menor do que
aquele observado anteriormente.
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
242
Quadro 6: Mdias dos municpios do Vale do Rio Pardo na avaliao do
Enem de 2011 na rea de Linguagens, Cdigos e suas Tecnologias
Municpio Mdia L.C.T.
ARROIO DO TIGRE 498,5
BOQUEIRO DO LEO 556,4
CANDELRIA 506,4
ENCRUZILHADA DO SUL 495,7
ESTRELA VELHA 519,9
GENERAL CMARA 508,4
HERVEIRAS 492,6
IBARAMA 509,2
LAGOA BONITA DO SUL SC
MATO LEITO 539,5
PNTANO GRANDE 521,4
PASSA SETE 475,2
PASSO DO SOBRADO 494,3
RIO PARDO 505,2
SANTA CRUZ DO SUL 526,4
SEGREDO 489,3
SINIMBU 525,4
SOBRADINHO 519,2
TUNAS SC
VALE DO SOL 506,6
VALE VERDE SC
VENNCIO AIRES 512,1
VERA CRUZ 551,3
Mdia Geral 512,6
SC: Sem Clculo Escolas com menos de 10 participantes ou
menos de 50% de taxa de participao.
Fonte: Adaptado pelas autoras a partir de Inep (2011)
Podemos perceber que h uma diferena de 81,2 pontos entre o
municpio com a melhor mdia (Boqueiro do Leo 556,4) e o muni-
cpio com a mdia mais baixa (Passa Sete 475,2), o que bastante
significativo. Se calcularmos uma nota mdia para a regio, chegare-
mos a 512,6 pontos. Esse nmero ainda est distante dos resultados
alcanados pelos municpios de Passa Sete (475,2), Segredo (489,3) e
Herveiras (492,3).
importante lembrarmos que a pontuao no Enem pode variar
de 0 a 1.000 pontos. Na edio de 2011, considerando a rea de Lin-
guagens, Cdigos e suas Tecnologias, a nota mnima foi de 301,2, en-
quanto a nota mxima foi de 795,5. J a mdia nacional foi de 519,3
pontos. Isto significa que o desempenho dos estudantes da regio est
abaixo da mdia nacional, ainda que tenhamos pontuaes que supe-
ram essa mdia de modo significativo.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
243
7.1 DISCUSSO
Aps tomarmos conhecimentos de todas as informaes apre-
sentadas acima, fica uma pergunta: de que formas elas podem nos au-
xiliar nos processos de qualificao do ensino e da aprendizagem da
leitura? A primeira contribuio desses indicadores permitir que en-
xerguemos a realidade, isto , possibilitar que saibamos como est o
desempenho em leitura dos estudantes de todo o pas, dos diferentes
estados, municpios e escolas. Dessa forma, possvel fazer um diagns-
tico da leitura, definido o que est bom e o que precisa ser melhorado.
Em relao taxa de analfabetismo, por exemplo, vimos que al-
guns municpios da regio apresentam nveis elevados de analfabe-
tismo. Esse um aspecto muito importante quando pensamos na
aprendizagem e no ensino da leitura. Tendo em vista que a experincia
em atividades de leitura na famlia tem um alto impacto na intimidade
que a criana ir desenvolver em relao ao texto escrito, possvel
que crianas que convivam com analfabetos ou com baixa escolaridade
tenham um dficit de contato com a leitura antes da escola, que poder
retardar o desenvolvimento de algumas habilidades geralmente de-
senvolvidas por crianas pr-leitoras que convivem e interagem com o
material escrito no ambiente familiar. Para que essa situao no re-
produza um crculo vicioso, necessria a interveno de polticas p-
blicas que possibilitem no ambiente escolar as experincias necess-
rias para o desenvolvimento adequado das habilidades requeridas pela
leitura compreensiva.
Observamos que alguns dos municpios com taxas de analfabe-
tismo mais elevada compartilham de um ponto em comum em relao
sua histria e cultura. A maior parte deles est culturalmente marcada
pela descendncia portuguesa, o que envolve uma ligao com o lati-
fndio e a escravido. Nessa regio especificamente, a democratizao
da educao tomou mais tempo, de forma que ainda hoje podemos ver
o reflexo do passado. Entre esses municpios, temos Encruzilhada do
Sul (10,8%), Pntano Grande (10,55%), Rio Pardo (8,27%), e General
Cmara (9,55%). Tunas (12,42%) e Herveiras (10,17%) tambm sofre-
ram influncia da cultura luso-brasileira e o municpio de Vale Verde
(10,40) est marcado pelo predomnio de grandes propriedades.
No que concerne aos dados do Saeb e da Prova Brasil, podemos
perceber que o nvel de proficincia em leitura dos estudantes do Vale
do Rio Pardo ainda muito bsico. Se considerarmos a escala de profi-
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
244
cincia do Saeb/Prova Brasil, composta por 10 nveis, estamos apenas
na metade do caminho. claro que devemos considerar que os resul-
tados esto evoluindo, mas precisamos de medidas mais intensas e
efetivas em relao educao para a leitura a fim de que deficincias
nessa habilidade no limitem o potencial de atuao dos sujeitos na
sociedade e no obstrua seu desenvolvimento.
Considerando a dinamicidade de que as novas tecnologias dota-
ram a linguagem e mais especificamente os textos, sem dvida amplia-
ram-se as exigncias que o prprio texto impe para que o leitor possa
compreend-lo. Dessa forma, para que o indivduo possa ter acesso a
todo o patrimnio de informaes acumulado pela humanidade, altos
nveis de proficincia em leitura so fundamentais. Portanto, no po-
demos prescindir da qualidade do ensino e da aprendizagem da leitura.
Os nveis mais altos da escala de proficincia envolvem o maior
conhecimento dos estudantes em relao aos gneros, maior capaci-
dade de identificao de objetivos, finalidades, opinies, efeitos de
sentido, domnio de um vocabulrio mais complexo, capacidade de
compreenso global de textos mais longos, bem como a capacidade de
estabelecer relaes entre textos, sendo capazes de fazer uso da infe-
renciao em diversos contextos. Nesse nvel, considera-se que os alu-
nos sejam capazes de ler com compreenso textos da literatura clssi-
ca, considerados complexos, sem esquecer dos textos multimodais,
cada vez mais presentes em nosso cotidiano.
Em relao aos resultados do Enem, vimos que a mdia da regio
para a rea de Linguagens, Cdigos e suas Tecnologias menor do que
a mdia nacional, o que preocupante. Alm disso, h diferenas sig-
nificativas em relao pontuao mdia dos municpios.
Considerando que o Enem avalia os estudantes ao final da edu-
cao bsica, espera-se que nesse momento os jovens tenham atingido
um nvel alto de proficincia em leitura, porm mais uma vez podemos
observar que estamos caminhando a passos lentos em direo ao um
pas de bons leitores, pois a mdia dos estudantes corresponde acerca
de 50% da pontuao mxima da prova.
Promover na prpria escola momentos de reflexo conjunta
acerca dos resultados alcanados pelos estudantes bem como a anli-
se dos aspectos da leitura avaliados pode ser um bom comeo para
qualificarmos o ensino da leitura. A partir desse processo, a equipe de
profissionais da escola pode planejar aes para qualificar o ensino.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
245
Alm disso, as escolas podem buscar contato com outras instituies
de ensino a fim de promover prticas que tenham se mostrado vlidas,
refletido em bons resultados nas avaliaes.
Os indicadores apresentam ainda a possibilidade de mobilizao
da sociedade, pois permitem a monitorao e o envolvimento da po-
pulao no debate sobre os desafios da educao no pas. A divulgao
dos indicadores pode aumentar o interesse da populao na qualidade
do ensino e da aprendizagem. Ao mesmo tempo, podem contribuir para
a formao de um movimento de cobrana em relao ao governo, s
equipes de gesto e aos professores. importante que as famlias
tambm reconheam seu papel em relao ao desempenho dos jovens
e crianas, assumindo sua responsabilidade na mediao e no incentivo
da leitura.
No basta, porm que a escola, a famlia e a sociedade estejam a
par dos indicadores da leitura e mobilizados na reflexo sobre esses
dados claro que o envolvimento de tais entidades de grande
valia para a qualificao da leitura. Existem alguns aspectos do pro-
cesso de ensino aprendizagem que s podem ser alterados mediante
aes governamentais estrutura escolar, recursos humanos, controle
da qualidade dos profissionais que ingressam no magistrio pblico,
valorizao dos profissionais da educao, distribuio de materiais
de leitura etc. So necessrias, portanto, polticas pblicas de incenti-
vo leitura, as quais podem ser pensadas a partir dos indicadores da
leitura, entre eles os que foram aqui citados. Entre essas polticas, se-
ria interessante que estivessem polticas de ps-avaliao da leitura,
que guiem as escolas no processo de anlise das avaliaes s quais
so submetidos os alunos.
8 CONCLUSO
Conclumos que os dados oriundos das avaliaes realizadas no
pas so um importante ponto de partida para a qualificao do ensino
e da aprendizagem da leitura. Contudo, no suficiente realizar tais
avaliaes, necessrio que se estimule a discusso a respeito dos re-
sultados alcanados, bem como a construo de propostas mais efici-
entes para a educao para a leitura, processos que podem ser fomen-
tados por polticas nacionais de ps-avaliao.
A discusso que desenvolvemos neste trabalho deve ser vista
apenas como o incio de uma reflexo, de forma que h ainda muitos
Katiele Naiara Hirsch & Rosngela Gabriel
246
outros indicadores que devem ser analisados. Essa reflexo mais
avanada a respeito da relao entre os indicadores da leitura e o pro-
cesso de formao de leitores competentes est em andamento no
projeto de pesquisa O impacto dos indicadores da leitura no Brasil na
formao de leitores, cujos resultados estaro disponveis no primeiro
semestre de 2014.
REFERNCIAS
BRASIL. Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Bsica. Novo Enem. Dis-
ponvel em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310+enen.br>. Acesso
em: 20 jul. 2013.
EDUCAR PARA CRESCER. Indicadores. Disponvel em: <http://educarparacres
cer.abril.com.br/index.shtml>. Acesso em: 1 ago. 2013.
EBC. Ideb: escolas com notas altas contam a receita do sucesso. Disponvel em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-14/ideb-escolas-com-notas-
altas-contam-receita-do-sucesso>. Acesso em: 03 ago. 2013.
FEE. Corede Vale do Rio Pardo. Disponvel em: <http://www.fee.tche.br/site
fee/pt/ content/resumo/pg_coredes_detalhe.php?corede=Vale+do+Rio+Pardo>.
Acesso em: 1 ago. 2013.
GALVO, Ana Maria de Oliveira. Leitura: algo que se transmite entre geraes?
In: RIBEIRO, Vera Masago (Org.). Letramento no Brasil. 2. ed. So Paulo: Global,
2004.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira.
Educao Bsica. 2011. Disponvel em: <http://portal.inep.gov.br/>. Acesso em:
30 abr. 2013.
LENZ, Mauricio H. Viabilidade agroeconmica da produo orgnica de plantas
condimentares para o desenvolvimento sustentvel em propriedades familiares na
regio do Vale do Rio Pardo/RS. 100 f. Dissertao (Mestrado) Universidade de
Santa Cruz do Sul, 2005.
LOPES-ROSSI, Maria Aparecida G. As habilidades de leitura avaliadas pelo Pisa e
pela Prova Brasil: reflexes para subsidiar o trabalho do professor de lngua por-
tuguesa. Frum Lingustico, Florianpolis, v. 9, n. 1, p. 34-46, jan./mar. 2012. Dis-
ponvel em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/2012v9n1
p34/22551 >. Acesso em: 15 abr. 2013.
MARCUSCHI, Luiz Antnio. Produo textual, anlise de gneros e compreenso.
3. ed. So Paulo: Parbola, 2009.
MORAIS, Jos. Criar leitores: para professores e educadores. Barueri: Manole,
2013.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
247
MORAIS, Jos. Dyslexia and poor reading: cognitive and ethical issues. In:
MININNI, Giuseppe; MANUTI, Amelia. Applied Psycolinguistics. v. I. Franco Angeli:
Milo, 2012.
MORAIS, Jos; KOLINKY, Rgine; GRIMM-CABRAL, Loni. Aprendizagem da leitura
segundo a psicolingustica cognitiva. In: RODRIGUES, Cassio; TOMITCH, Lda
Maria Braga. Linguagem e crebro humano: contribuies multidisciplinares.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
OBSERVA-DR. Banco de dados regional do Vale do Rio Pardo. Disponvel em:
<http://observadr.org.br/site/banco-de-dados-regionais/vale-do-rio-pardo/>.
Acesso em: 03 set. 2013.
RODRIGUES, Maristela Brger. Avaliando a avaliao: os documentos orientado-
res do ensino mdio e as provas de compreenso leitora ENEM, SAEB, PISA.
2013. 130 f. Dissertao (Mestrado) Universidade de Santa Cruz do Sul, 2013.
VOGT, Olgrio Paulo. Formao social e econmica da poro meridional do Vale
do Rio Pardo. In: VOGT, Olgrio Paulo; SILVEIRA, Rogrio Leando L. da (Org.).
Vale do Rio Pardo: (re)conhecendo a regio. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2001.
CONSCINCIA MORFOLGICA E FONOLGICA:
UM ESTUDO A PARTIR DO MODELO DE
REDESCRIO REPRESENTACIONAL
1
Dbora Mattos Marques
2
Aline Lorandi
3
1 INTRODUO
Os estudos sobre a conscincia lingustica tm abordado o pro-
cessamento mental sobre diversos vieses, oferecendo inmeras hip-
teses de como se do os processos de aquisio do conhecimento. Na
pesquisa intitulada Processamento da linguagem em suas modalidades
oral e escrita: estudos sobre aquisio da linguagem e conscincia lin-
gustica, busca-se (re)pensar a relao entre fonologia e morfologia,
no tocante conscincia lingustica, explorando a hiptese de que es-
ses subsistemas lingusticos possam constituir microdomnios dife-
rentes, dentro do domnio da linguagem, desenvolvendo-se de manei-
ra distinta e independente entre si, visto que trabalhos anteriores
apontam para isso (LORANDI, 2011a, LORANDI 2011b).
Para que essa hiptese fosse averiguada, investiu-se no desen-
volvimento de uma metodologia para coleta de dados que abrangesse
os mais diversos aspectos cognitivos de crianas, a fim de envolv-las
da forma mais completa possvel no ambiente de testes, buscando, as-
sim, um resultado eficaz. A metodologia nos estudos de aquisio da
linguagem uma rea em expanso no Brasil e, neste trabalho, busca-
1
Este projeto recebeu apoio do Edital ARD/2013 da FAPERGS. Tambm conta com o
auxlio do CNPq, por meio de bolsa PIBIC e da UNIPAMPA, por meio de bolsa PBDA.
2
Acadmica do curso de Letras Portugus e Respectivas Literaturas, na Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA), bolsista FAPERGS.
E-mail: dmattos_bg@yahoo.com.br.
3
Professora adjunta da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
E-mail: alinelorandi@unipampa.edu.br.
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
250
se apresentar as reflexes tericas realizadas para chegar aos testes
elaborados para a produo infantil, visando a obter dados de morfolo-
gia e fonologia.
2 A PESQUISA
A presente proposta de pesquisa visa a investigar evidncias do
processamento mental das crianas em fase de aquisio da lingua-
gem, bem como o desenvolvimento da conscincia lingustica. Origi-
nou-se a partir da tese de Lorandi (2011), em que foi possvel obser-
var que algumas crianas mostravam dados diferenciados para morfo-
logia e fonologia. A tese, intitulada From sensitivity to awareness: the
morphological knowledge of Brazilian children between 2 and 11 years
old and the Representational Redescription Model, buscou verificar
dados de conscincia morfolgica em crianas, com testes de deriva-
o, extrao de base e flexo de palavras inventadas, alm de um tes-
te de julgamento de palavras. Todos os testes foram realizados com
pseudopalavras, seguindo o padro silbico mais comum do portu-
gus brasileiro. Observou-se que algumas crianas lidavam com as pa-
lavras inventadas de maneira distinta no que diz respeito conscin-
cia fonolgica e morfolgica. Para analisar os dados de processamento
mental, a pesquisa ancorou-se no Modelo de Redescrio Representa-
cional (doravante Modelo RR), proposto por Annette Karmiloff-Smith
(1986, 1992), que ser abordado posteriormente.
3 TESTES DE LORANDI (2011A)
O objetivo dos testes de morfologia desenvolvidos para a tese de
Lorandi (2011a) era o de verificar os diferentes nveis de processa-
mento mental em crianas de 2 a 11 anos, a partir do Modelo RR. Para
tanto, foram criados trs testes:
O teste 1 buscava a derivao a partir de trs pseudopalavras:
flopo, segor e mafata. As questes eram:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
251
Quadro 1: Questes do Teste 1
Fonte: Lorandi (2011)
O teste 2 apresentava a histria de um bichinho chamado Winki.
Nele havia questes para extrao de base e tambm questes de fle-
xo com pseudopalavras:
Quadro 2: Questes do Teste 2
Fonte: Lorandi (2011)
No terceiro teste foram apresentadas s crianas o que chama-
mos de formas morfolgicas variantes (LORANDI, 2007), com dados
obtidos de crianas, para julgamento de formas verbais, seguido de
explicitao do conhecimento do informante sobre seu prprio julga-
mento.
Quadro 3: Questes do Teste 3
Fonte: Lorandi (2011)
() Imagine que esses dias ele contou que conheceu um zoque. Viu zoquinhos
e zoces. O que significa zoquinho? _________________________. E zoco?
____________. Ele andou muitos quilmetros e entrou em uma zocaria. O que
significa zocaria? _________________________. (extrao de base)
() Winki diz que nas viagens ele mila muito. Se ele mila muito, ontem ele
tambm ___________________. (flexo)
Uma pessoa que lida com flopos/segores/mafatas um
Um flopo/segor/mafata pequeno(a) um(a)
Um flopo/segor/mafata grande um(a)
Um flopo/segor/mafata muito grande um(a)
Um lugar cheio de flopos/segores/mafatas um(a)
Uma pessoa cheia de flopos/segores/mafatas est
Vamos brincar de professor(a). Se tu ouvires uma criana dizer: eu fazi um bolo,
tu dirias que est certo ou errado? Por qu? Como corrigir? (Caso a resposta seja
est errado).
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
252
4 DADOS DA TESE E INSPIRAO PARA A ATUAL PESQUISA
Os testes foram realizados com 84 crianas, com idades entre
3:4 e 10:11, na cidade de Farroupilha/RS. Pde-se observar que, dian-
te de perguntas como Um segor pequeno um, encontraram-se os
dados esperados (como segorzinho), palavras reais da lngua bas-
tante ligadas semntica (como formiga), palavras variadas do Por-
tugus Brasileiro (doravante PB), e algumas respostas que evidencia-
ram uma relao fonolgica com a palavra inventada (como cego-
nha, cego e semente). Para a palavra flopo, obtiveram-se respos-
tas como flor e floresta; e, para mafata, foi respondido fada por
um dos informantes. Outro dado interessante foi o de uma criana do
2 ano, que, ao responder questo Uma mafata pequena uma,
comentou: mafata e faca so parecidas. s trocar o t pelo c.
Esses dados, que apresentam relaes fonolgicas interessantes,
propiciaram a emergncia de novo questionamento: seriam conscin-
cia fonolgica e conscincia morfolgica subsistemas mentais diferen-
tes, dentro de um domnio linguagem? Ser que, luz do Modelo de
Redescrio Representacional, esses subsistemas desenvolvem-se de
forma independente entre si, podendo a criana estar em um nvel pa-
ra morfologia e em outro nvel para fonologia?
A partir dessas questes, a atual pesquisa surgiu. Se for confir-
mada a hiptese de que fonologia e morfologia constituem microdo-
mnios distintos, saberemos que a conscincia lingustica no se de-
senvolve como um todo, mas possui subsistemas independentes. Dada
a relevncia dessa questo, a presente pesquisa busca a confirmao
destas hipteses. Na fase atual de desenvolvimento do estudo, esto
sendo (re)elaborados testes de conscincia morfolgica, visto que, pa-
ra a conscincia fonolgica, j h um teste validado, o CONFIAS
4
.
5 MODELO DE REDESCRIO REPRESENTACIONAL
Para que os testes e a proposta de pesquisa sejam mais bem
compreendidos, este captulo abordar a linha terica que embasa a
anlise a ser realizada.
4
O CONFIAS um instrumento que tem como objetivo avaliar a conscincia fonolgica
de forma abrangente e sequencial. A utilizao deste instrumento possibilita a investi-
gao das capacidades fonolgicas.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
253
O Modelo de Redescrio Representacional proposto por Kar-
miloff-Smith (1986, 1992), e diferencia-se dos demais estudos acerca
da conscincia lingustica por postular quatro nveis em que o conhe-
cimento redescrito na mente humana, superando a dicotomia sim-
plista de implcito/explcito, frequentemente abordada em estudos
sobre esse fenmeno. Para Karmiloff-Smith, estes dois nveis no cap-
tam certas sutilezas do processamento mental referentes aquisio
do conhecimento.
A autora acredita, ento, que o crebro humano passa por um
processo de gradual modularizao, sendo este parte do desenvolvi-
mento da criana. So abordados em sua teoria os conceitos de dom-
nio especfico e domnio relevante, que nos dizem que mais relevan-
te para algumas reas processarem linguagem do que para outras, po-
rm essas reas s vo se tornar especializadas para determinado
processamento ao longo do tempo (KARMILOFF-SMITH, 1998, 2012;
KARMILOFF, KARMILOFF-SMITH, 2001).
importante que abordemos os conceitos de mdulo e dom-
nio, bem como as diferenas que existem entre eles, para assim en-
tender com mais clareza o Modelo RR. Para Karmiloff-Smith (1992),
um domnio um conjunto de representaes que sustenta determi-
nada rea do conhecimento, como linguagem ou nmeros, por exem-
plo. Dentro do domnio existem ainda microdomnios, como, por
exemplo, o microdomnio pronomes dentro do domnio linguagem.
O mdulo a unidade de processamento das informaes recebidas. O
conhecimento encapsulado. Essa teoria v a modularizao como um
processo gradual. Crianas no possuem estruturas modulares volta-
das para a linguagem desde o nascimento, sendo o mdulo um produ-
to do desenvolvimento. Dessa forma, o crebro s ter estruturas es-
pecializadas para o processamento da linguagem mais tarde.
O Modelo RR postula quatro nveis de representao mental, em
que a informao redescrita na mente da criana, tornando-se aces-
svel conscincia com o passar do tempo. A teoria busca mostrar
como a informao passa de implcita na mente para conhecimento
explcito para a mente, inicialmente dentro de um domnio e, posteri-
ormente, entre domnios. Os nveis so:
Implcito (I) a informao est em nvel procedimen-
tal, ou seja, no analisvel. Neste nvel a criana reproduz
o input recebido, sem que seja capaz de decompor estru-
turas da lngua.
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
254
Explcito 1 (E1) Nvel explcito, em que acontece uma
anlise interna por parte da criana. Nesse nvel surgem
as formas morfolgicas variantes (LORANDI, 2007, 2011),
em que a criana produz palavras como fazi (em vez de
fiz), sabo (em vez de sei), trazeu (em vez de trou-
xe), mexei (em vez de mexi), boti (em vez de bo-
tei), mostrando uma sensibilidade aos recursos da ln-
gua, no estando mais to ligada apenas ao input externo.
Explcito 2 (E2) A criana j possui conscincia sobre
sua lngua, porm no capaz de verbaliz-la, isto , ela
sabe que palavras como padeiro e marceneiro possu-
em algo em comum, mas no consegue explicar o que .
Explcito 3 (E3) Conhecimento disponvel para acesso
consciente e verbalizao. Nesse nvel a criana no ape-
nas entende os processos da sua lngua como capaz de
explic-los, podendo dizer, por exemplo, que a semelhan-
a entre padaria, marcenaria e borracharia que possu-
em a mesma terminao, referindo-se a lugares.
Outro grande e importante diferencial dessa teoria que, como
j mencionado anteriormente, ela vai olhar para o processo de aquisi-
o do conhecimento sob uma perspectiva desenvolvimental. Dessa
forma, olha-se para a criana de maneira mais individualizada, bus-
cando entender o desenvolvimento enquanto processo contnuo. Nessa
perspectiva, muitos aspectos do desenvolvimento independero da
idade. Assim, uma criana pode estar no nvel E2 para um determina-
do tipo de conhecimento e no nvel I para outro. Igualmente, uma cri-
ana com sete anos pode estar em nvel E3 da mesma forma que uma
de onze anos, para algum aspecto do conhecimento.
Uma vez que o modelo aponta para o fato de que conhecimentos
de ordem diversa podem desenvolver-se de modo independente, a
hiptese desta pesquisa parece encontrar sustentao.
6 SUBSDIOS DE ESTUDOS SOBRE AQUISIO DA LINGUAGEM, CONHECIMENTO
MORFOLGICO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANAS
Para a atual pesquisa realizou-se uma reviso bibliogrfica, de
modo a aprimorar os conhecimentos sobre aquisio da linguagem,
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
255
mas, principalmente, entender melhor o desenvolvimento cognitivo
das crianas. Assim, baseando-se, principalmente, em alguns estudos
de Eve Clark (1993, 2009, 2010) e de Goswami e Bryant (2007), os
testes utilizados em Lorandi (2011a) foram reformulados, e ser ex-
plicitado aqui o processo pelo qual se passou para chegar verso fi-
nal deste material.
A importncia do trabalho com pseudopalavras tem seu emba-
samento terico em Berko (1958), que foi um dos pioneiros nos estu-
dos sobre o conhecimento morfolgico das crianas. Berko elaborou
testes com pseudopalavras para o ingls, porque acreditava que, se
uma criana capaz de adicionar um recurso usual da lngua a uma
palavra que ainda no conhece, porque internalizou essa regra e
capaz de generaliz-la. Lidar com palavras conhecidas pela criana
no daria a clareza de saber se o conhecimento j foi internalizado, ou
se ela estaria apenas repetindo estruturas memorizadas. Foi com base
nesse estudo que os testes de LORANDI (2011a) foram desenvolvidos
para o PB.
Porm, percebeu-se que muitas crianas no conseguiram lidar
com pseudopalavras, e encontraram-se dados bastante distintos co-
mo, por exemplo:
Quadro 4: Amostra de dados
Um flopo pequeno um: Flopinho Formiga Pequenininho
Um flopo grande um: Flopo Pssaro Grando
Fonte: Lorandi (2011)
No Quadro 4 possvel visualizar trs dados diferentes: uma cri-
ana que consegue aplicar o recurso morfolgico pseudopalavra;
uma que aplica o recurso semntico; e uma que aplica o sufixo sem
utilizar a pseudopalavra. Percebeu-se, pois, que a tarefa de lidar com
pseudopalavras precisa tambm de um suporte que auxilie a criana a
entender o significado dessa nova palavra, para, s ento, ser capaz de
lidar com ela.
Segundo Eve Clark (2009), o sentido desempenha um papel cr-
tico na aquisio de novas palavras. A criana precisa primeiramente
compreender o sentido, criar uma representao que a ajude a reco-
nhecer a nova palavra. Uma vez que ela adiciona significado, torna-se
capaz de fazer julgamentos, para, ento, produzir. Temos aqui refe-
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
256
renciada a importncia do contexto pragmtico no processo de aquisi-
o de novas palavras.
Alm disso, Usha Goswani e Peter Bryant (2007) chamam a
ateno para as brincadeiras de inventar, presentes no imaginrio in-
fantil desde muito cedo. Os autores afirmam que a brincadeira de in-
ventar uma das primeiras manifestaes infantis acerca de sua capa-
cidade de desenvolvimento e conhecimento cognitivo. Ao fingir que
um objeto qualquer um telefone, por exemplo, ela faz uma metarre-
presentao, o que permite que inicie um processo de entendimento
da prpria cognio, e dos pensamentos enquanto entidades.
Em uma brincadeira simblica, o significado das coisas para a criana
no depende do seu status como objetos reais no mundo perceptivo,
mas do seu status no mundo imaginrio. Por meio da brincadeira in-
ventiva, a criana est manipulando suas relaes cognitivas com a
informao e tomando uma representao como objeto da cognio
(formando metarrepresentaes, de acordo com Leslie, 1987)
(GOSWANI; BRYANT, 2007, p.12)
5
Ainda importante ressaltar que os jogos de imaginar precisam,
normalmente, ser compartilhados. Sob esse aspecto, a linguagem tor-
na-se fundamental para que haja comunicao, a interao social, a
brincadeira cooperativa e uma alta exigncia imaginativa.
Com base nesses pressupostos tericos, os testes de morfologia
de Lorandi (2011a) foram reformulados, buscando um maior envolvi-
mento dos informantes e pensando em aspectos que possam auxiliar
para que a criana sinta-se envolvida com a atividade, de modo a atri-
buir-lhe significado, o que possibilitaria resultados interessantes. A
seguir tem-se o resultado das reformulaes.
7 METODOLOGIA
Para a elaborao dos testes, alm dos subsdios cognitivos, ob-
tidos a partir dos estudos de Goswami e Bryant, das experincias ela-
5
Do original: In symbolic play, the meaning of things to the child depends not on their
status as real objects in the perceptual world, but on their status in the imaginary world.
Through pretend play, the child is manipulating her cognitive relations to information,
and taking a representation as the object of cognition (forming metarepresentations,
Leslie 1987) (GOSWANI; BRYANT, 2007, p. 12).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
257
boradas por Berko e das consideraes sobre a construo de palavras
novas, feitas por Clark, procurou-se, tambm, abordar diversas ques-
tes de ordem morfolgica, de modo a desenvolver um teste que fosse
bastante abrangente neste sentido. Foram pensadas questes sobre:
Flexo
De gnero feminino e masculino
De nmero plural (j que as palavras do teste
esto no singular)
Derivao
Nomes
Agentivos
Adjetivos
Locativos
Diminutivo
Aumentativo
Verbos (criao de verbos por analogia, a partir
de nomes)
8 ANLISE: O TESTE
Pensando na importncia ressaltada por Clark (2009) de adicio-
nar um significado a uma nova palavra, optou-se por trabalhar com
radicais conhecidos do PB, com a proposta de adicionar sufixos em
palavras que no uso comum da lngua no se utilizaria, como por
exemplo:
Duende + ria = Duendaria lugar que vende/produz duendes.
O trabalho com as pseudopalavras foi enriquecido, acrescentan-
do-se o uso de imagens ilustrativas para que a criana realizasse o
processo da significao. O teste com as palavras inventadas foi man-
tido, para fins comparativos. Teremos, ento, as mesmas perguntas
com os dois grupos de palavras.
Contemplando o mbito dos jogos inventados, para o teste 1 op-
tou-se pela elaborao de uma histria, constituda de cenrio ldico,
a fim de imergir a criana no ambiente proposto, envolvendo-a na
brincadeira de imaginar e de inventar palavras. O objetivo foi propor-
cionar um ambiente de naturalidade, em que a criana se sentisse
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
258
brincando e no sendo testada. De incio, o pesquisador ir adentrar
com a criana em uma sala, onde sero montados pequenos ambientes
em que se passar a histria. O pequeno informante ser convidado a
participar de uma brincadeira de inventar palavras, e far isso quando
for necessrio, ao longo do trajeto percorrido. A histria iniciar da
seguinte maneira:
Quadro 5: Exemplos de questes do Teste 1
Para o teste 2 manteve-se o teste de LORANDI (2011a), de
acrescentar sufixos a pseudopalavras, a fim de verificar o conhecimen-
to da criana sobre a prpria lngua, pois ao ser capaz de, por exemplo,
adicionar o sufixo ria para referir-se a um locativo, entende-se que a
criana j conhece o funcionamento da lngua quanto a esse tipo de
recurso morfolgico. A pseudopalavra mafata
6
foi substituda por
mifarra, e acrescentaram-se tarefas de flexo ao teste.
6
Ao reanalisarem-se os dados de Lorandi (2011a), entendeu-se que o fato de a palavra
comear por ma e ser precedida pelo artigo uma poderia estar causando confuso
sobre qual seria, de fato a palavra: mafata ou fata, devido s relaes que algumas
crianas fizeram com a palavra fada.
Era uma vez um menino que gostava muito de viajar. Este o menino (imagem).
Ele viajava por muitos lugares diferentes, at que um dia chegou a uma cidade
mgica, diferente de tudo o que conhecemos! O dia estava lindo; o cu, cheio de
nuvens que parecem algodo. J pensou se a gente pudesse fazer nuvens de al-
godo? E como tu chamarias algo que faz algodo?
_____________________________ (resposta da criana agentivo.)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
259
Quadro 6: Exemplos de questes do Teste 2
7
O teste 3 possui as mesmas tarefas do teste 2, porm com pala-
vras reais da lngua.
Quadro 7: Exemplos de questes do Teste 3
Para o teste 4 utilizar-se- o auxlio de imagens diante da tarefa
de identificao de sufixos. O objetivo perceber se a criana conse-
gue entender o significado do sufixo. Uma das questes do teste en-
contra-se no Quadro 8.
Quadro 8: Exemplo de questo do Teste 4
7
Todos os testes sero acompanhados de imagens, com o intuito de no sobrecarregar
a memria de trabalho da criana.
1. Vamos inventar mais um pouco? A palavra sabor:
a) Um sabor pequeno um
b) Um sabor grande um
c) Um sabor menina uma
d) Aqui h um sabor. Aqui h dois
e) Uma pessoa cheia de sabor est
f) Um lugar que vende sabor uma
g) Quem faz sabor um
1. Ests vendo esta borboleta bonita? Eu inventei um nome para ela! uma mi-
farra. Agora:
1.1 Uma mifarra pequena uma
1.2 Uma mifarra grande uma
1.3 Uma mifarra menino um
1.4 Aqui h uma mifarra. Aqui h duas
1.5 Uma pessoa cheia de mifarras est
1.6 Um lugar que vende mifarras uma
1.7 Quem faz mifarra um
Agora eu vou dizer uma frase e vou te dar trs palavras para escolher a que tu
achas melhor.
1. Na cidade mgica que vimos antes, choveram corujas na calada! A calada
ficou toda:
1.1 Corujista
1.2 Corujada
1.3 Corujeiro
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
260
O teste 5 prope a formao de verbos, na busca por perceber as
regularizaes realizadas pelas crianas no que diz respeito s formas
verbais.
Quadro 9: Exemplos de questes do Teste 5
Para finalizar, o teste 6 visa a verificar o nvel E3, em que o co-
nhecimento est disponvel para conscincia e para verbalizao, por
isso solicitado ao informante que explique o porqu da sua resposta.
criana ser apresentada uma boneca, que est aprendendo a falar.
A tarefa da criana julgar se o que a boneca est certo, errado, expli-
cando por que ela entende que est errado.
Quadro 10: Questes do Teste 6
importante ressaltar que a ordem das questes ser variada
aleatoriamente, para que este no seja um fator interveniente, j que
no foco do teste.
Para a anlise, as respostas sero agrupadas em trs categorias:
Categoria 1 (C1)
Respostas adequadas, que utilizam a base dada e a ela
aplicam recursos morfolgicos da lngua, nos teste 1, 2 e 3;
Respostas que apresentam corretamente o sufixo flexio-
nal nos testes 2 e 3;
Respostas que aplicam o sufixo correto para a questo
proposta no enunciado (teste 4);
A boneca disse que:
Um morango grande um: morangueiro. Est certo isso? Por qu?
Um sol pequeno um: solzinho. Est certo isso? Por qu?
Veja o que eu vou te dizer e faa igual:
Experimentador: Quem gosta de usar a caneta vai: canetar. Agora a tua vez:
Quem gosta de usar a borracha vai:
Quem gosta de usar o papel vai:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
261
Respostas que criem adequadamente uma forma verbal,
a partir do substantivo fornecido, no teste 5;
Respostas que retiram a base da pseudopalavra dada e
desenvolvem a noo apresentada no sufixo, no teste 6;
Categoria 2 (C2)
Respostas que no utilizem a base dada, mas que utili-
zem um sufixo adequado, nos testes 1, 2 e 3;
Respostas que formem compostos, utilizando a base da-
da, tambm nos testes 1, 2 e 3;
Respostas que identifiquem se o sufixo est correto para
o uso no exemplo em questo, mas cuja explicao no
seja adequada, no teste 6.
Categoria 3 (C3)
Respostas com palavras quaisquer, que no possuam o
sufixo adequado para a tarefa proposta, nos teste 1, 2 e 3;
Respostas que forneam um significado semntico (uma
palavra real) para a pseudopalavra dada, mas que no
utilizem recursos morfolgicos aplicados a ela, no teste 2;
Respostas que no correspondam tarefa de flexo, nos
testes 2 e 3;
Respostas que escolham o sufixo incorreto diante do
enunciado proposto, no teste 4;
Respostas que no transformem o substantivo em verbo,
no teste 5;
Respostas que no identifiquem se o sufixo utilizado na
palavra est correto ou no, nem expliquem o porqu da
escolha, no teste 6.
Toda a metodologia elaborada para esta pesquisa visa a obser-
var o processo de aquisio de conhecimento, via Modelo de Redescri-
o Representacional, j abordado anteriormente. Dessa forma, os tes-
tes possuem questes que podem verificar desde o nvel I at o E3, e a
diversidade de testes poder tambm sugerir novas linhas de pesqui-
sa a partir dos resultados obtidos.
Dbora Mattos Marques & Aline Lorandi
262
9 CONSIDERAES FINAIS
Os testes elaborados para esta pesquisa foram fruto de extensa
pesquisa e reviso bibliogrfica, para que fosse possvel ter maior pre-
ciso nos dados que se pretendeu coletar. Toda pesquisa cientfica
precisa preocupar-se com o carter metodolgico do trabalho, pois
isto pode determinar seu sucesso ou insucesso, e sucesso no significa
obter as respostas desejadas a priori, e sim ter a certeza de que os re-
sultados obtidos revelam com clareza os fatores que esto sendo ob-
servados. Nas palavras de Eve Clark (2009, p. 65): Bons mtodos
provm ferramentas teis para coletar dados adequados tarefa de
confirmar ou no a hiptese.
REFERNCIAS
BERKO, J. The childs learning of English morphology. Word, 1958, 14, p. 150-
177.
CLARK, Eve. V. The lexicon in acquisition. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993.
CLARK. Eve. Coining new words: Old and new word forms for new meanings.
MENN, L.; RATNER, B. N. (Eds). Methods for Studying Language Acquisition. Lon-
don: Laurence Erlbaum Associates, 2009.
CLARK, Eve. First Language Acquisition. 2
nd
ed. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010.
GOSWAMI, U.; BRYANT, P. Childrens Cognitive Development and Learning (Pri-
mary Review Research Survey 2/1a). Cambridge: University of Cambridge Facul-
ty of Education, 2007.
KARMILOFF-SMITH, A. From meta-processes to conscious access: Evidence from
childrens metalinguistic and repair data. Cognition, 23, p. 95-147, 1986.
KARMILOFF-SMITH, A. Beyond Modularity: a developmental perspective on cog-
nitive science. Cambridge (MA): MIT, 1992. 234 p.
KARMILOFF-SMITH, A. Development itself is the key to understanding develop-
mental disorders. Trends in Cognitive Sciences, 2 (10), p. 389-398, 1998.
KARMILOFF-SMITH, A. From Constructivism to Neuroconstructivism: The Activi-
ty-Dependent Structuring of the Human Brain. In: MARTI, E.; RODRGUEZ, C. Af-
ter Piaget. New Brunswick, NJ: Transaction Pub, 2012.
KARMILOFF, K.; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language: from fetus to ado-
lescent. Massachussets: Harvard University Press, 2001.
LORANDI, A. From sensitivity to awareness: the morphological knowledge of Bra-
zilian children between 2 and 11 years old and the representational redescrip-
tion model. 2011. Tese (Doutorado em Letras) Faculdade de Letras, Pontifcia
Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
LORANDI, A.; MENEZES, J. T.; SILVA, I. L.; SILVA, L. B.; MARQUES, D. M. Conscin-
cia lingustica: diferentes olhares. Letrnica, v. 5, p. 21-44, 2013.
CONSCINCIA FONOLGICA E ALFABETIZAO
ESTUDOS REFERENTES IDENTIFICAO E
PRODUO DE RIMAS
Clarice Lehnen Wolff
1
1 INTRODUO
A conscincia fonolgica constitui um dos nveis de habilidades
da conscincia lingustica ou metalinguagem, que tambm abrange os
aspectos morfolgico, semntico, sinttico, textual e pragmtico da
linguagem. Liberman, Shankweiller e Mattingly foram precursores no
desenvolvimento do conceito de conscincia fonolgica, h mais de
quarenta anos, em funo dos estudos sobre dislexia e problemas de
leitura. Descobriram que aspectos visuais no eram os predominantes
nesse tipo de patologia, como defendia a teoria vigente, e que havia
alguma questo problemtica relacionada decodificao da leitura,
na integrao entre as letras e sua representao sonora. Constataram
que havia uma capacidade que permitia ao leitor iniciante dar-se con-
ta de que a codificao escrita representava palavras faladas, a consci-
ncia fonolgica. A partir da, inmeros estudos sobre este tema se de-
senvolveram no mundo todo (MANN, 2005).
Quando a criana inicia seu processo de alfabetizao escolar, j
costuma utilizar a linguagem para comunicar-se oralmente, podendo
expressar-se e compreender significados e contedos diversos. Essa
competncia lingustica adquirida naturalmente, durante o processo
de socializao, implicando o domnio de uma srie de regras gramati-
cais, internalizadas e utilizadas de forma no consciente, que orientam
1
Doutoranda em Letras Lingustica pela FALE-PUCRS, Porto Alegre. Fonoaudiloga do
Curso de Fonoaudiologia da UFRGS. E-mail: clarice.lewolff@gmail.com. Este artigo foi
desenvolvido com base em um dos captulos da tese da autora, a ser defendida no ano
de 2014.
Clarice Lehnen Wolff
264
a atividade lingustica espontnea da criana, isto , o seu desempe-
nho lingustico. Certas habilidades metalingusticas fundamentais no
processo de alfabetizao, como as de ordem fonolgica, lexical e sin-
ttica, esto presentes mesmo entre crianas no alfabetizadas, o que
apoia a hiptese de que algumas dessas precedem a aquisio da lin-
guagem escrita (BARRERA; MALUF, 2003). Tambm estudos longitu-
dinais correlacionam algumas dessas habilidades metalingusticas ini-
ciais com o desempenho posterior em leitura e escrita. Elas so facili-
tadoras de tal processo, em especial as habilidades fonolgicas que se
referem s slabas e s unidades suprassegmentares, nas quais se in-
cluem as rimas.
Neste artigo discutido o papel das rimas no processo da alfabe-
tizao, a partir da anlise de estudos j desenvolvidos sobre a habili-
dade da conscincia fonolgica, dentro dos referenciais da Psicolin-
gustica.
2 AS RIMAS NO DESENVOLVIMENTO DA CONSCINCIA FONOLGICA
A rima caracterizada como elemento intrassilbico da palavra
e costuma ser avaliada quanto sua recepo e sua produo nos
instrumentos de verificao da conscincia fonolgica, como o
CONFIAS (Conscincia Fonolgica Instrumento de Avaliao Se-
quencial MOOJEN et al., 2003). Seu papel, assim como o de outras
habilidades de conscincia fonolgica, discutido com relao a sua
influncia no processo de alfabetizao.
A evoluo das pesquisas em conscincia fonolgica permitiu
desvendar uma sequncia geral de seu desenvolvimento, a partir de
estudos com indivduos de diferentes idades, lnguas e nveis de leitura.
Dois padres gerais de desenvolvimento ficaram evidentes (ANTHONY
et al., 2003):
1 As crianas se tornam gradativamente mais sensveis a par-
tes menores das palavras conforme amadurecem; podem detectar ou
manipular slabas antes de detectar ou manipular onsets e rimas, e
podem detectar ou manipular onsets e rimas antes de poder detectar
ou manipular fonemas individuais dentro de unidades intrassilbicas
da palavra. Para o entendimento dos termos citados, torna-se impor-
tante compreender a estrutura silbica no portugus. A slaba pode
ser constituda por trs elementos: onset, ncleo, coda, sendo o ncleo
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
265
o nico elemento obrigatrio nessa estrutura. Segundo a abordagem
mtrica, a slaba pode ser assim representada:
Slaba
(Onset) Rima
Ncleo (coda)
M a r
Figura 1: Estrutura interna da slaba conforme SELKIRK, 1982.
O ncleo sempre ocupado por uma vogal, e as consoantes fi-
cam nas margens silbicas, nas posies de onset e/ou coda
(MATZENAUER, 2004). A explanao realizada contempla a teoria Fo-
nolgica, com a finalidade de esclarecimento de termos. Para os estu-
dos da conscincia fonolgica, porm, o conceito de rima costuma ser
tomado de forma mais ampla, contemplando as semelhanas de sono-
ridade entre os finais das palavras. Para esta anlise, como exemplifi-
cado a seguir, as rimas se caracterizam basicamente pela presena de
sons iguais desde a vogal ou ditongo tnico at o ltimo fonema (gato
mato), podem constituir slabas inteiras (mamo limo), s a rima
da slaba (chul cafun), mais do que uma slaba (histria vitria),
e em palavras monosslabas oxtonas so um elemento intrassilbico,
reconhecido na distino onset-rima (vu cu) (FREITAS, 2004).
2 As crianas podem detectar palavras que soam de forma se-
melhante ou diferente antes que possam manipular sons dentro das
palavras, e geralmente podem combinar/sintetizar informaes fono-
lgicas antes de segmentar informaes de mesma complexidade lin-
gustica.
O ritmo dessa sequncia de aquisies pode sofrer variaes en-
tre os falantes das diversas lnguas, o que levou constatao de que a
linguagem oral exerce um importante papel no desenvolvimento da
conscincia fonolgica (ANTHONY; FRANCIS, 2005). Examinando es-
ses diferentes falantes, descobriu-se que caractersticas da linguagem
oral favorecem o desenvolvimento de determinada habilidade de
conscincia fonolgica, a depender das caractersticas da estrutura da
Clarice Lehnen Wolff
266
palavra predominantes na lngua em questo, bem como seus deter-
minantes de complexidade lingustica, como a posio dos fonemas
nas palavras e fatores articulatrios. Assim, por exemplo, na lngua
inglesa as crianas parecem ter mais facilidade em lidar com as rimas
e no portugus com as aliteraes, ou seja, com o incio das palavras.
Ao aprender a ler e a escrever, a criana precisa se dar conta da
relao entre os fonemas e os grafemas, das suas semelhanas e tam-
bm de suas diferenas na representao oral e escrita. Nesse processo,
tem papel fundamental a conscincia fonmica, que se desenvolve
quando a criana se depara com a linguagem escrita e consegue rela-
cionar os valores distintivos abstratos dos fonemas concretude dos
grafemas que os representam. Alguns estudos sobre a rima no desen-
volvimento da conscincia fonolgica apontam sua relao com a
conscincia fonmica e suas correlaes com o desenvolvimento da
escrita e da leitura, mas normalmente esta discusso no aprofun-
dada quanto anlise de como se d essa relao de modo mais con-
creto, em especial no momento da alfabetizao, quando a criana est
se deparando formalmente com as letras e o sistema de linguagem es-
crita de forma mais sistemtica.
As rimas parecem fazer parte ao natural do desenvolvimento
lingustico, aparecendo na vida das crianas desde cedo, em msicas,
histrias infantis e brincadeiras. No mundo adulto, as rimas continuam
fazendo parte de slogans, expresses populares (exemplo: sol com
chuva, casamento de viva), e brincadeiras com a linguagem. Talvez
seja uma tarefa que oferea certa facilidade por no exigir propria-
mente uma competncia analtica, mas uma sensibilidade a similari-
dades fonolgicas, de acordo com Magnusson (1990). Esta posio fica
referendada tambm por Gombert (1992), que diferencia a metalin-
guagem, com componentes intencionais de reflexo sobre a palavra
enquanto objeto lingustico, da epilinguagem, referida como a realiza-
o de tarefas menos exigentes em termos de esforo de reflexo re-
querido por parte do sujeito (GOMBERT, 2003). De acordo com esse
autor, as habilidades epilingusticas so relacionadas compreenso
da linguagem oral, e se instalam naturalmente durante o desenvolvi-
mento lingustico da criana, enquanto as metalingusticas propria-
mente ditas resultam do contato com a aprendizagem explcita de lei-
tura, momento em que a criana dever manipular conscientemente
as estruturas lingusticas:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
267
O simples contato prolongado com a escrita no suficiente para
instalar na criana as habilidades de tratamento desse nvel. ne-
cessrio um esforo do leitor aprendiz para colocar em ao as ca-
pacidades de controle intencional dos tratamentos lingusticos re-
queridos para a aprendizagem da escrita. [] A tarefa do aprendiz
confrontado escrita no se restringe instalao das capacidades
especficas ao tratamento dos perceptos lingusticos visuais, mas
compreende igualmente a conquista de capacidades metalingusti-
cas. Essas capacidades dizem respeito aos conhecimentos fonolgi-
cos, e sobre esse ponto os dados experimentais so numerosos, mas
se referem tambm aos conhecimentos morfolgicos e sintticos.
(GOMBERT, 2003, p. 22-23)
Investigando sobre a possvel relao da percepo da rima com
a aprendizagem da leitura e da escrita, Bradley e Bryant (1983) mos-
traram, por meio de pesquisas na lngua inglesa, que a habilidade em
detectar rimas na idade pr-escolar estava correlacionada positiva-
mente com o desenvolvimento bem sucedido na aprendizagem da lei-
tura dessas crianas alguns anos mais tarde. Este estudo serviu como
base para outros autores tambm desenvolverem pesquisas voltadas
rima e sua contribuio aprendizagem da leitura e da escrita.
3 ESTUDOS SOBRE AS RIMAS E SUA RELAO COM A APRENDIZAGEM
Rueda (1995) comenta que o nvel das rimas controverso
quanto a sua participao no processo de aprendizagem de leitura e
escrita. Pondera que estudos indicam que esta habilidade auxilia as
analogias entre as palavras, o que sugere ateno sua forma, poden-
do auxiliar a desencadear a ateno para os demais planos sonoros e
para as similaridades de sentido das palavras. Gombert (2003, p. 31)
tambm sustenta essa posio da rima atrelada a outros nveis de
conscincia fonolgica, destacando que os estudos j comprovaram a
sensibilidade infantil a esse tipo de unidade intermediria entre a sla-
ba e o fonema, e que essa parece desempenhar um papel importante
na aprendizagem da leitura, principalmente na passagem do estgio
alfabtico para o ortogrfico da leitura
2
, quando precisam ser utiliza-
das correspondncias entre unidades maiores e devem ser exploradas
2
De acordo com os estgios de leitura preconizados por Uta Frith (1985): logogrfico,
alfabtico, ortogrfico.
Clarice Lehnen Wolff
268
analogias entre palavras, o que pode ser feito principalmente pela uti-
lizao das rimas, permitindo a anlise de unidades ortogrficas.
Cardoso-Martins (1993) desenvolveu estudo com crianas brasi-
leiras pr-escolares e da primeira srie, a fim de verificar se o reco-
nhecimento da rima indicava a habilidade de segmentao entre onset
e rima (KIRTLEY et al., 1989), ou se este reconhecimento se dava na
forma de uma percepo global de semelhana, conforme apontavam
os estudos de Cary et al. (1989). Para isso, as crianas foram avaliadas
em uma tarefa de subtrao da consoante inicial e em duas tarefas de
deteco de rima. O estudo da autora tambm buscou investigar a in-
fluncia dos aspectos suprassegmentares na aquisio da leitura no
portugus brasileiro. Para tal, uma tarefa de leitura de palavras foi
proposta s crianas pr-escolares, pois as de primeira srie j estari-
am todas lendo, de acordo com as informaes escolares. Os resulta-
dos desse estudo questionam a hiptese de Kirtley et al. (1989) de
que, para deteco da rima, a criana segmenta o onset da rima da pa-
lavra. Os resultados mostraram que a deteco da rima pode ou no
envolver a conscincia de unidades suprassegmentares. O nvel de ins-
truo em leitura do sujeito que parece decisivo para a habilidade
em isolar o segmento exato compartilhado por palavras que rimam.
Os resultados encontrados tambm confirmaram a hiptese de que a
conscincia de unidades maiores do que o fonema tem papel impor-
tante na aprendizagem de leitura em ortografias alfabticas; o desem-
penho das crianas pr-escolares na tarefa de deteco de rima corre-
lacionou-se significativamente com as medidas de aprendizagem da
leitura, mesmo aps ser controlado o efeito de variaes no nvel de
conscincia fonmica das crianas.
Em outra publicao, Cardoso-Martins (2008) retoma esta rela-
o entre rimas e demais nveis fonolgicos, afirmando que a consci-
ncia de segmentos fonolgicos mais amplos, como a rima e a slaba,
desenvolve-se muito antes de a criana ingressar na escola, tendo um
papel destacado como precursores da conscincia fonmica. Cita como
exemplo o estudo de Kirtley, Bryant, Maclean e Bradley (1989), de que
a habilidade para detectar rimas aos quatro anos correlacionou-se
significativamente com a habilidade para detectar fonemas, trs anos
mais tarde, em se tratando de crianas da lngua inglesa.
Freitas (2003) realizou estudo focalizando diretamente a cons-
cincia de rimas e de aliteraes com crianas entre 4 a 8 anos de ida-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
269
de, que frequentavam da pr-escola segunda srie, em escola de n-
vel socioeconmico mdio, no sul do Brasil. Para isto, comparou resul-
tados de tarefas que envolviam identificao e produo de rimas e de
aliteraes, com os objetivos de: verificar se crianas falantes do por-
tugus brasileiro apresentavam conscincia com relao a essas uni-
dades antes do ensino sistemtico da escrita; quais eram as tarefas em
que essas crianas apresentavam maior facilidade; e se havia uma re-
lao entre o nvel de escrita apresentado pelas crianas com o de-
sempenho nas tarefas propostas. As crianas no foram classificadas
por srie, mas sim por seu nvel de construo da escrita, conforme
categorizao de Ferreiro e Teberosky (1991) pr-silbico (PS); sil-
bico (S); silbico-alfabtico (AS); alfabtico (A).
Nesse estudo, as crianas com hiptese pr-silbica de escrita
mostraram maior habilidade nas tarefas de identificao, tanto de ri-
mas como de aliteraes, tendo sido a mdia nas tarefas de rima um
pouco mais alta do que a mdia nas tarefas que envolviam aliterao.
Entre as crianas silbicas, observou-se o emparelhamento no desem-
penho das tarefas de identificao e de produo. Com relao s tare-
fas de rima e de aliterao, no foi observada diferena estatistica-
mente significativa. No entanto, a mdia mostrou que a aliterao foi
mais fcil do que a rima para esse grupo. No grupo com hiptese sil-
bico-alfabtica, no houve diferena estatisticamente significativa no
desempenho entre produo e identificao, mas observou-se, a partir
da mdia, uma maior facilidade com relao identificao nos dois
tipos de tarefas. Entre aliterao e rima, verificou-se diferena estatis-
ticamente significativa, sendo as tarefas de aliterao mais fceis do
que as de rima para esse grupo. Finalmente, entre as crianas classifi-
cadas como tendo escrita alfabtica, no houve diferena estatistica-
mente significativa entre identificao e produo, mas observou-se,
pela mdia, maior facilidade com relao identificao. As tarefas de
aliterao e rima no apresentaram diferena estatisticamente signifi-
cativa, sendo que a mdia apontou maior facilidade relativa s tarefas
que envolviam aliterao.
Na comparao entre os grupos estudados por Freitas (2003),
surgem dados bastante interessantes: os quatro grupos mostraram
maior facilidade com a tarefa de identificao de slaba inicial. A iden-
tificao de rima foi a segunda tarefa mais fcil para os grupos pr-
silbico e silbico. Nos grupos com hiptese silbico-alfabtica e alfa-
Clarice Lehnen Wolff
270
btica, a produo de palavra a partir da slaba inicial tornou-se mais
fcil do que a identificao de rima. A produo a partir da slaba inicial
era a tarefa mais difcil para os grupos com hipteses mais iniciais de
escrita (PS e S), relao que se inverte aps maior domnio da escrita,
sendo a produo de rima a mais difcil para os grupos mais avana-
dos nas suas hipteses de escrita (AS e A). A autora tambm concluiu
que, para os sujeitos pesquisados, produzir rimas e aliteraes foi
mais oneroso do que identific-las. Portanto, tarefas de conscincia
fonolgica que requerem identificao so mais acessveis do que as
que envolvem produo. Aponta ainda que possivelmente as crianas
no nvel pr-silbico possuam conscincia fonolgica no nvel implci-
to
3
(DUNCAN et. al, 1997), tais como a identificao de rimas, apresen-
tando uma sensibilidade a similaridades fonolgicas globais, concor-
dando com Cardoso-Martins (1994). Na amostra avaliada, a rima pa-
rece ser um elemento menos significativo para crianas brasileiras
durante o processo de aquisio da escrita, pelo menos no aspecto de
facilidade para sua identificao e produo.
Esse estudo levou a presente autora a pensar que h uma inver-
so da ateno da criana ao longo do desenvolvimento na identifica-
o dos segmentos da palavra, estando esta inicialmente mais atenta
ao final da palavra, como se v muitas vezes na expresso oral, quando
as crianas pequenas ainda omitem determinadas partes da palavra,
predominando seu final (ex.: macaco > caco), e, aos poucos, no maior
domnio da linguagem oral e no contato com a escrita, voltando-se
mais para o incio da palavra.
Em outro estudo, realizado na Bahia, Freitas, Cardoso e Siquara
(2012) tambm investigam a conscincia de rima entre crianas de 4 a
8 anos de idade, mas por classificao em grupos etrios: 4 e 5 anos; 6
a 8 anos. Sua inteno foi a de verificar as variveis sexo e idade no
desempenho das crianas nas tarefas propostas. Esses autores propu-
seram tarefas de julgamento de rima (somente com figuras) e de detec-
o de rima (figuras e nomeao pelo avaliador). As variveis sexo e
idade no foram significativas, com exceo de que as meninas do pri-
meiro grupo tiveram um desempenho um pouco superior aos meninos.
A varivel escolaridade teve um peso maior nos resultados encontra-
dos, reforando novamente o papel do contato com a leitura e a escrita.
3
Equivalente ao que Gombert (1992) refere como nvel epilingustico.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
271
Wolff (2008), em sua pesquisa sobre compreenso de narrativas
e conscincia fonolgica de pr-escolares de 5 a 6 anos de idade, veri-
ficou que os escores das tarefas de conscincia fonolgica (CONFIAS
MOOJEN et al., 2003) correlacionaram-se significativamente com a
idade dos sujeitos pesquisados, com a tarefa de perguntas inferenciais
sobre uma narrativa lida para eles, e com a tarefa de ordenao de fi-
guras sobre essa mesma narrativa. A tarefa de conscincia fonolgica
de produo de palavra a partir da slaba dada foi a que teve maior
correlao com a idade dos sujeitos, seguida pela de produo de pa-
lavra que inicia com o som dado, que foi, dentre as tarefas propostas, a
que exigia maior esforo cognitivo e maior intencionalidade. A tarefa
de produo de rima foi a que menor correlao apresentou com a
idade. Porm, na relao interna entre os escores das tarefas solicita-
das, foi encontrada correlao significativa entre as habilidades de
produzir rimas e as tarefas de identificao de rimas e de produo de
palavra a partir de uma slaba dada. Tambm foi encontrado que, a
uma maior habilidade em identificar o fonema inicial de uma palavra,
correspondia um melhor desempenho nas habilidades de identificar a
slaba inicial de uma palavra, identificar rimas, e produzir palavras a
partir de um dado som da fala. Na correlao entre as tarefas especfi-
cas de conscincia fonolgica e s de compreenso, a tarefa de identifi-
cao de rima foi a que apresentou maior correlao com a tarefa de
ordenar as figuras da narrativa, seguida da tarefa de identificao de
fonema inicial e da produo de palavra que inicia com o som dado. A
tarefa de identificao de rima, por sua vez, foi altamente correlacio-
nada com as de fonemas. Esses dados parecem bastante sugestivos
quanto ao papel da conscincia das rimas no processo metalingustico
que leva a criana a alfabetizar-se. A descoberta da sequncia temporal
dos sons presente nas rimas e o registro do incio e do final das pala-
vras feito pela criana nesse processo parece semelhante, cognitiva-
mente, ao que ocorre quanto identificao do incio e do final da his-
tria no processo de desenvolvimento da compreenso de narrativas.
Outro aspecto que sugere a importncia do papel das rimas no
processo de desenvolvimento da conscincia fonolgica para a alfabe-
tizao que a dificuldade na identificao de rimas na pr-escola
tida como um dos prenncios do quadro chamado dislexia, distrbio
grave na aquisio da leitura, normalmente marcado pela dificuldade
no processamento fonolgico (LIMA; SALGADO; CIASCA, 2008).
Clarice Lehnen Wolff
272
Germano, Pinheiro e Capellini (2009) compararam resultados
obtidos na aplicao do protocolo de avaliao de conscincia fonol-
gica (CONFIAS MOOJEN et al., 2003) em um grupo de crianas com
diagnstico de dislexia e outro grupo com bom desempenho escolar
na leitura e na escrita, entre 8 e 12 anos de idade. Esse estudo revelou
que as crianas com dislexia do desenvolvimento apresentaram difi-
culdades quanto identificao de rima e produo de palavras com o
som dado, o que, segundo os autores da pesquisa, aponta para um d-
ficit em acessar os cdigos fonolgicos, representaes fonolgicas e
falha no armazenamento fonolgico. Os escolares com dislexia desse
estudo tiveram dificuldade, principalmente, na identificao das sla-
bas mediais e fonemas finais, alm da identificao das rimas e da
produo de palavras com o som dado. Esses dados, na opinio da
presente autora, refletem dificuldades na sequenciao temporal dos
sons da palavra, na qual a rima est inserida. Uma das chaves da
aprendizagem da leitura, de identificar e manipular os segmentos ini-
ciais e finais da palavra, parece comprometida nesse caso.
4 CONSIDERAES FINAIS
O levantamento das presentes pesquisas sugere que a rima de-
sempenha papel importante no desenvolvimento da conscincia fono-
lgica, mesmo que nas etapas iniciais esta corresponda mais a um
grau de sensibilidade fonolgica do que metalinguagem propriamente
dita, antecedendo a conscincia fonmica. Observa-se uma ateno ao
final da palavra nas crianas menores, mesmo que no consciente em
sua explicitao, e a migrao da ateno, aos poucos, de acordo com o
maior domnio da linguagem oral e o contato com a escrita, para o in-
cio da palavra, nas aliteraes e slabas iniciais, que na escrita so
marcadas pela leitura da esquerda para a direita, e por marcas de sig-
nificao importantes na raiz da palavra. Parece que este movimento
de dar-se conta do final e do incio da palavra so chaves para que o
processo de aprendizagem da leitura e da escrita se d de forma satis-
fatria. Podemos pensar que, se no continuum de desenvolvimento da
conscincia fonolgica, o foco no final da palavra no ocorrer devida-
mente, prejuzos podem ocorrer no aprimoramento das habilidades
subsequentes. Ao refletir-se sobre os estudos do desenvolvimento da
conscincia das rimas e de sua relao com a aprendizagem da leitura
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
273
e da escrita, identificaram-se alguns pontos que parecem significativos
para o processo de alfabetizao. E mesmo antes desse momento,
quando deveria ser dada maior nfase leitura para as crianas e s
brincadeiras com a linguagem, por meio de narrativas rimadas, par-
lendas, poemas e msicas infantis, despertando sensibilidade e refle-
xo sobre a lngua.
Destacam-se aqui algumas das concluses deste estudo:
o desempenho das crianas pr-escolares brasileiras na
tarefa de deteco de rima correlacionou-se significati-
vamente com as medidas de aprendizagem da leitura,
estando correlacionadas com a conscincia fonmica
(CARDOSO-MARTINS, 1993; WOLFF, 2008);
o nvel de instruo em leitura do sujeito que parece
determinar a habilidade para isolar o segmento exato
compartilhado por palavras que rimam (CARDOSO-
MARTINS, 1993; FREITAS, 2003);
as tarefas de identificao de rima exigem menor esfor-
o cognitivo do que as de produo, que se mostram
tambm mais difceis para as crianas com hipteses
mais avanadas de escrita (silbico-alfabticas e alfab-
ticas), que tm mais facilidade nas tarefas de produo
de palavras a partir de slaba inicial (FREITAS, 2003).
Observa-se, assim, uma ateno ao final da palavra nas
crianas menores, e a migrao, aos poucos, e princi-
palmente no contato com a escrita, da ateno para o
incio da palavra. Sugere-se que contribui para isso o fa-
to de a escrita alfabtica do portugus ser marcada pela
leitura da esquerda para a direita, e por marcas de sig-
nificao importantes na raiz da palavra, em que o re-
conhecimento da letra e da slaba inicial bastante des-
tacado;
a habilidade de identificao de rimas mostrou-se cor-
relacionada com a tarefa de compreenso de narrativas
que propunha a ordenao de figuras de uma histria
lida. Essas habilidades parecem compartilhar de bases
cognitivas semelhantes (WOLFF, 2008), relacionadas
Clarice Lehnen Wolff
274
sequncia temporal dos sons da fala, compartilhando
certa semelhana no desenvolvimento da descoberta do
incio/fim da palavra com o incio/fim da narrativa;
crianas brasileiras com dislexia do desenvolvimento
apresentaram dificuldades quanto identificao de
rima e produo de palavras com o som dado, o que, se-
gundo os autores da pesquisa (GERMANO et al., 2009),
aponta para um dficit em acessar os cdigos fonolgi-
cos, representaes fonolgicas e falha no armazena-
mento fonolgico.
REFERNCIAS
ANTHONY, Jason L.; LONIGAN, Christopher J.; DRISCOLL, Kimberly; PHILLIPS,
Beth M.; BURGESS, Stephen. Phonological Sensitivity: a quasi-parallel progres-
sion of word structure units and cognitive operations. Reading Research Quarter-
ly, n. 38, p. 470-487, 2003.
ANTHONY, Jason L.; FRANCIS, David J. Development of phonological awareness.
American Psychological Society, v. 14, n. 5, p. 255-259, 2005.
BARRERA, Sylvia Domingos; MALUF, Maria Regina. Conscincia metalingustica e
alfabetizao: um estudo com crianas da primeira srie do ensino fundamental.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 16(3), p. 491-502, 2003.
BRYANT, P. E.; McLEAN, M.; BRADLEY, L.; CROSSLAND, J. Rhyme, alliteration,
phoneme detection and learning to read. Developmental Psychology, n. 26, p. 429-
438, 1991.
CARDOSO-MARTINS, Cludia. A sensibilidade fonolgica e a aprendizagem da
leitura e da escrita. Cadernos de Pesquisa, v. 76, p. 41-49, 1991.
CARDOSO-MARTINS, CLUDIA. A conscincia de unidades suprassegmentares e
o seu papel na aquisio da leitura. Temas em Psicologia, n. 1, p. 103-111, 1993.
CARDOSO-MARTINS, Cludia. Sensitivity to rhymes, syllables and phonemes in
literacy acquisition in Portuguese. Reading Research Quarterly, v. 30, n. 4, 1995.
CARDOSO-MARTINS, Cludia. O desenvolvimento da conscincia fonolgica nos
anos pr-escolares. Disponvel em: <http://www.cidadedoconhecimento.org.br/
cidadedoconhecimento/sep/arquivo/101.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2008.
CARY, L.; MORAIS, J.; BERTELSON, P. As habilidades metafonolgicas dos poetas
analfabetos: suas implicaes para o estudo dos processos lingusticos envolvi-
dos na leitura. Anais do Simpsio Latino-Americano de Psicologia do Desenvolvi-
mento - Recife, Brasil, novembro 6-10, Editora Universitria da UFPE, 1989.
FERREIRO, Emlia; TEBEROSKY, Ana. Psicognese da lngua escrita. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1991.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
275
FREITAS, Gabriela Castro Menezes de. Conscincia Fonolgica: rimas e alitera-
es no Portugus Brasileiro. Porto alegre, Letras de Hoje, v. 132, p. 155-170,
2003.
FREITAS, Gabriela Castro Menezes de. Sobre a conscincia fonolgica. In:
LAMPRECHT, Regina Ritter et al. Aquisio Fonolgica do Portugus perfil de
desenvolvimento e subsdios para terapia. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 179-192.
FREITAS, Patrcia Martins de; CARDOSO, Thiago da S. Gusmo; SIQUARA, Gusta-
vo Marcelino. Desenvolvimento da conscincia fonolgica em crianas de 4 a 8
anos de idade: avaliao de habilidades de rima. Rev. Psicopedagogia, 29 (88), p.
38-45, 2012.
GERMANO, Giseli Donadon; PINHEIRO, Fbio Henrique; CAPELLINI, Simone Apa-
recida. Desempenho de escolares com dislexia do desenvolvimento em tarefas
fonolgicas e silbicas. Rev. CEFAC, 11(2), p. 213-220, abr./jun. 2009.
GOMBERT, Jean mile. Metalinguistic development. Chicago: University of Chica-
go Press, 1992.
GOMBERT, Jean Emile. Atividades metalingusticas e aprendizagem da leitura. In:
MALUF, Maria Regina (Org.). Metalinguagem e aquisio da escrita contribui-
es da pesquisa para a prtica da alfabetizao. So Paulo: Casa do Psiclogo,
2003.
KIRTLEY, C.; BRYANT, P.; MACLEAN, M.; BRADLEY, L. Rhyme, rime and the onset
of reading. Journal of Experimental Child Psychology, 48, p. 224-245, 1989.
LIMA, Ricardo Franco de; SALGADO, Cntia Alves; CIASCA, Sylvia Maria. Desem-
penho neuropsicolgico e fonoaudiolgico de crianas com dislexia do desenvol-
vimento. Rev. Psicopedagogia, 25 (78), p. 226-235, 2008.
LIBERMAN, I. Y.; LIBERMAN, A. M.; MATTINGLY, I. G.; SHANKWEILER, D. Orthog-
raphy and the beginning reader. In: KAVANAUGH, J.; VENEZSKY, R. (Eds.). Or-
thography, reading and dyslexia. Baltimore: University Park Press, 1980.
MAGNUSSON, Eva. Conscincia metalingstica em crianas com desvios fonol-
gicos. In: YAVAS, Mehmet. S. (Org.). Desvios fonolgicos em crianas teoria, pes-
quisa e tratamento. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990. p. 109-148.
MALUF, Maria Regina; BARRERA, Sylvia D. Conscincia Fonolgica e linguagem
escrita em pr-escolares. Psicologia: Reflexo e Crtica, v. 10, p. 125-145, 1997.
MANN, Virginia. Celebrating challenges of the future, learning from the past: how
language is a key to the reading puzzle. Monograph: Women Administrators Con-
ference, 2005.
MATZENAUER, Carmem Lcia Barreto. Bases para o entendimento da aquisio
fonolgica. In: LAMPRECHT, Regina Ritter et al. Aquisio Fonolgica do Portu-
gus: perfil de desenvolvimento e subsdios para a terapia. Porto Alegre: Artmed,
2004.
MOOJEN, Snia et al. CONFIAS: conscincia fonolgica instrumento de avaliao
sequencial. Porto Alegre: Casa do Psiclogo, 2003.
Clarice Lehnen Wolff
276
MORAIS, Jos. A arte de ler. Trad. lvaro Lorenciani. So Paulo: Unesp, 1996.
RUEDA, Mercedes I. Adquisicin el conocimiento fonolgico. In: RUEDA, Merce-
des I. La lectura: adquisicin, dificultades e intervencin. Salamanca: Amaur
Ediciones, 1995.
SELKIRK, E. The syllable. In: HULST, H., SMITH, N. The structure of phonological
representations. Dordrecht: Foris, 1982.
WOLFF, Clarice Lehnen. Compreenso de histria e conscincia fonolgica de cri-
anas pr-escolares. Dissertao de mestrado. Pontifcia Universidade Catlica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE
EM PAUTA NAS AULAS DE LNGUA MATERNA
Luciana Maria Crestani
1
1 INTRODUO
As prticas de ensino-aprendizagem em lngua materna tornam-
se palco de debates principalmente quando se divulgam os ndices de
desempenho dos alunos de educao bsica em avaliaes do MEC,
como o Saeb e a Prova Brasil
2
. Embora o desempenho dos estudantes
em lngua portuguesa e matemtica disciplinas constituintes das
provas venha se apresentando numa linha ascendente quando com-
parados os resultados das avaliaes (que ocorrem bienalmente, des-
de 2005), ainda deixa muito a desejar em relao aos ndices dos pa-
ses desenvolvidos
3
.
As avaliaes do MEC apontam que os alunos tm dficits de
aprendizagem no que tange leitura e interpretao de textos, pro-
blema que se arrasta ao longo do ensino fundamental e se agrava no
ensino mdio. Tambm no ensino superior esta realidade visvel.
Tanto que se ouvem, frequentemente, comentrios de docentes sobre
dificuldades dos acadmicos em interpretar textos que demandam
certo grau de abstrao e alguma capacidade de relacionar ideias.
1
Doutora em Letras, Mestre em Educao. Professora do PPG em Letras da UPF-RS e da
Faculdade Anhanguera de Passo Fundo. Bolsista de pesquisa da Funadesp grupo Le-
tramento Acadmico. E-mail: lucianacrestani@upf.br.
2
O ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica (Ideb) calculado a partir dos dados
sobre aprovao escolar, obtidos no Censo Escolar, e mdias de desempenho nas ava-
liaes aplicadas pelo Inep: o Saeb e a Prova Brasil.
As informaes sobre o Ideb esto disponveis na pgina <http://portal.inep.
gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>.
3
De acordo com o MEC, a mdia do Ideb nos pases desenvolvidos 6,0. No Brasil, estima-
se que os anos iniciais do Ensino Fundamental (EF) alcancem tal mdia em 2021. Nas s-
ries finais do EF e no Ensino Mdio, no entanto, os resultados tm evoludo mais lenta-
mente. Os ndices do Ideb podem ser visualizados em: <http://ideb.inep.gov.br/resulta
do/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=2190943>
Luciana Maria Crestani
278
Diante de tal cenrio, preciso que, como professores de ensino
bsico e, mais ainda, como formadores de docentes, (re)pensemos so-
bre o qu est sendo ensinado aos alunos nas aulas de lngua mater-
na. Se, ao final do ensino bsico, so significativas as dificuldades de
interpretao e expresso (falada e escrita), quais as efetivas contri-
buies das aulas de lngua materna para a formao social destes su-
jeitos? Nesse sentido, so necessrias reflexes constantes sobre o
qu, para qu e para quem ensinar.
Nesse contexto, procuramos, neste artigo, destacar a importn-
cia de explorar a leitura, a intertextualidade e a interdiscursividade
em sala de aula como forma de desenvolver a competncia textual/
discursiva dos alunos/sujeitos. Para tanto, primeiramente abordamos
a questo do o qu e para qu ensinar nas aulas de lngua materna,
apontando a necessidade de priorizar o trabalho com textos (leitura,
interpretao e produo) ao invs da gramtica descontextualizada.
Num segundo momento, revemos conceitos de intertextualidade e de
interdiscursividade. Por fim, apresentamos uma proposta de trabalho
desenvolvido nesta perspectiva e que teve retorno positivo.
2 MAIS UMA VEZ O ANTIGO DILEMA: O QUE ENSINAR NAS AULAS DE LNGUA
MATERNA?
O debate sobre o que deve ser priorizado no ensino de lngua
materna e o que efetivamente priorizado vem de longa data e a ques-
to sempre a mesma: ensinar gramtica ou texto? A nosso ver, gra-
mtica e texto no so objetos excludentes, como se o estudo de um
no pudesse ser aliado ao outro. Ao contrrio, se o objetivo das aulas
de lngua materna for contribuir para formao de sujeitos sociais
(que precisam constantemente interpretar e produzir enunciados nas
prticas de interao social), gramtica e texto precisam ser trabalha-
dos juntos, no sentido de a gramtica contribuir para a interpretao e
a produo de enunciados. Nesta perspectiva, o ensino da gramtica
pela gramtica, da gramtica descontextualizada das prticas de leitu-
ra e escrita, da mera decoreba de nomenclaturas, no faz sentido. Sur-
ge, ento, a necessidade de repensar e reformular objetivos, metodo-
logias e prticas de ensino, de modo a se perguntar: o que realmente
importante abordar para melhorar o desempenho dos alunos nas in-
teraes sociais, nas prticas de leitura e escrita que os circundam e os
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
279
constituem? Como possvel fazer isso? Como coloca Geraldi (2006, p.
45), preciso reconsiderar o que vamos ensinar, j que tal opo
representa parte da resposta do para que ensinamos.
Possenti (2006) enftico ao afirmar que os sujeitos, sejam crian-
as ou no, no aprendem por exerccios descontextualizados, mas por
prticas efetivas, significativas e contextualizadas. Cita como exemplo
o processo de aquisio da linguagem pelas crianas, que aprendem a
falar com os adultos e com os colegas de brincadeiras com quem inte-
ragem. Nas palavras do autor:
A escola poderia aprender muito com os procedimentos pedaggi-
cos de mes, babs e crianas. Duvido que algum tenha visto ou
ouvido falar de uma me que d exerccios do tipo completar frases,
dar listas de diminutivos, decorar conjugaes verbais, construir
afirmativas, negativas, interrogativas, etc. Crianas de alguns anos
de idade utilizam-se, no entanto, de todas essas formas. Perguntam,
afirma, exclamam, negam sempre que lhes parecer relevante ou ti-
verem oportunidade. Como aprenderam? Ouvindo, dizendo e sendo
corrigidas quando utilizam formar que os adultos no aceitam.
(POSSENTI, 2006, p. 37, grifos nossos)
A propsito, uma das prticas muito comuns observadas em au-
las de portugus at pouco tempo se no at hoje era a conjugao
de listas interminveis de verbos em todos os tempos e modos, total-
mente descontextualizados dos enunciados. Quem foi submetido a tal
metodologia h de concordar que isso de nada ou muito pouco contri-
buiu para aprimorar prticas de interao social (fala/leitura/escrita).
Pouco adianta o aluno saber em que tempo e modo est conjugada
uma forma verbal como fizssemos, se ele no sabe empregar esta
forma dentro de um enunciado.
Sobre o ensino de nomenclaturas gramaticais, tanto Geraldi
(2006) quanto Possenti (1996, 2006) defendem que no necessrio
o domnio da metalinguagem tcnica para o domnio efetivo e ativo de
uma lngua e que no faz sentido ensinar nomenclaturas a quem no
chegou a dominar habilidades de utilizao corrente e no traumtica
da lngua escrita (POSSENTI, 2006, p. 38). Tal perspectiva de ensino,
no entanto, implica uma forma diferenciada de conceber e abordar o
papel da gramtica na escola: no como um fim em si, mas como um
meio para melhorar as habilidades de leitura, interpretao e escrita
Luciana Maria Crestani
280
dos alunos. Nessa esteira, no tem como e nem por que estudar gra-
mtica fora de sua aplicao no texto (falado ou escrito).
Tomemos, por exemplo, o ensino da sintaxe
4
. Quando se traba-
lha este contedo (a partir da 5 srie), exige-se que o aluno saiba a
classificao do sujeito da orao. Quando, entretanto, vamos para o
nvel do texto (estruturas complexas), se aparece um verbo na terceira
pessoa do plural, tendo como referente um eles situado no pargrafo
anterior, ou algumas linhas acima, comum que o aluno tenha dificul-
dades em identificar quem o sujeito relacionado a tal forma verbal.
Esse tipo de dificuldade implica tanto o processo de compreenso do
enunciado quanto os de escrita, pois se o aluno no consegue relacio-
nar elementos significantes dentro de um texto, tambm ter limita-
es para bem empreg-los nas suas produes escritas. Para a forma-
o de sujeitos sociais em constantes situaes de interao, saber
classificar os tipos de sujeito no nos parece mais importante que sa-
ber relacionar termos/ideias dentro de um enunciado. Assim tambm
ocorre com o perodo composto: ser que para falar/ler, interpretar e
escrever bem nossos alunos precisam saber nomear e classificar cada
uma das oraes que constituem seus enunciados?
Um ltimo exemplo. Gastam-se aulas e aulas tentando fazer com
que os alunos decorem regras de acentuao, e, quando muito, passada
a avaliao, eles no lembram nenhuma. Para acentuar corretamente
vocbulos no preciso decorar regras, preciso leitura. Como sabe-
mos que gua leva acento? Ao escrever, ningum pensa que gua
deve ser acentuada por ser uma paroxtona terminada em ditongo
crescente. Simplesmente a acentuamos porque lemos inmeras vezes
tal palavra escrita assim. Quem leitor, escreve bem. Alunos que tm
o hbito da leitura organizam melhor os perodos, pontuam melhor o
texto, cometem poucos desvios de concordncia e regncia, grafam
corretamente as palavras. Nesse sentido, lamentvel que, em muitas
escolas, ainda se desperdice tanto tempo com ensino de nomenclatu-
ras e regras descontextualizadas da produo real de enunciados e to
pouco com leitura, interpretao, escrita e reescrita de textos.
Se queremos melhorar a competncia discursiva dos nossos alu-
nos, nas aulas de lngua materna preciso ler e, principalmente, pre-
4
Neves (2007) retrata dados de uma pesquisa feita sobre o ensino de gramtica nas
escolas, apontando que os exerccios sobre classes de palavras e sintaxe so os mais
frequentes nas atividades propostas aos alunos.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
281
ciso ensinar a ler. Como explica Kleiman (2010), a compreenso de
um texto implica decifrar pistas deixadas pelo autor que levam ao
sentido do texto. Exemplos destas pistas so os modalizadores, os re-
ferenciadores (anafricos e catafricos), os conectores, entre outros
elementos que aparecem na superfcie do texto e concorrem para a
produo dos sentidos. Por outro lado, tambm h pistas que reme-
tem no ao texto em si (cotexto), e sim a outros textos/enunciados
que ecoam na construo do sentido. Ambas as formas merecem aten-
o especial na formao de sujeitos competentes nos processos de
interao. preciso ensinar a identificar tais pistas, explorando tanto
as relaes entre elementos constituintes de um texto, bem como as
relaes entre um texto e outros textos/enunciados (intertextualidade
e interdiscursividade). Se no auxiliamos nossos alunos a tecer relaes
entre conhecimentos para construir sentidos, como esperar sujeitos
competentes na leitura, sujeitos letrados
5
?
Entendemos, afinal, que o trabalho nas aulas de lngua materna
ser to mais produtivo quanto mais se priorizar o trabalho com tex-
tos. No como pretexto para ensinar gramtica descontextualizada,
mas sim no sentido de explor-los para ampliar o universo cognosc-
vel do aluno e a capacidade de inter-relacionar conhecimentos.
3 INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE: REVISITANDO CONCEITOS
Ensinar a ler na perspectiva que aqui propomos significa tam-
bm ensinar a perceber as relaes que se estabelecem entre o texto
que o aluno tem em mos e outros textos/enunciados, explorando,
portanto, relaes intertextuais e interdiscursivas. Para falar de inter-
textualidade e interdiscursividade, primeiramente, preciso esclare-
cer o que concebemos como texto, enunciado, discurso.
Comeamos com a noo de discurso. Para tanto, lembramos que
Bakhtin, ao diferenciar as unidades da lngua (frase e orao) das uni-
dades da comunicao (enunciados), diz que
A indefinio terminolgica e a confuso em um ponto metodolgi-
co do pensamento lingstico so o resultado do desconhecimento
5
Entendido o letramento como o conjunto de prticas sociais ligadas leitura e
escrita em que os indivduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 2004, p.
72).
Luciana Maria Crestani
282
da real unidade da comunicao discursiva o enunciado. Porque o
discurso s pode existir de fato na forma de enunciaes concretas
de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre
est fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado
sujeito do discurso, e fora dessa forma no pode existir. (1992, p. 274,
grifo nosso)
Nesse sentido, de forma bem simplificada, concebemos discurso
como ideias, correntes de pensamentos, abstraes que s se do a
conhecer quando enunciadas, quando transformadas em enunciados.
Ou seja, surge um enunciado quando um sujeito se apropria de um
desses discursos e o enuncia sua maneira, sob seu ponto de vista,
suscitando, com seu dizer, atitudes responsivas de outros enunciados
com os quais o seu dialoga. Bakhtin (2003) define enunciado como
uma postura de sentido. As principais caractersticas de um enuncia-
do so: constituir um todo de sentido, ser marcado por algum acaba-
mento, ser passvel de rplica (carter responsivo dos enunciados) e
ter natureza dialgica. A interdiscursividade, portanto, est relaciona-
da ao sentido que se constri entre enunciados. Voltaremos a ela mais
adiante.
Quanto ao texto, preciso deixar claro que este no se limita aos
enunciados verbais, podendo ser constitudo de qualquer conjunto
coerente de signos manifestos por outras formas de expresso (gestu-
al, pictrica, verbal, etc.), como um quadro, um filme etc. Fiorin
(2006a, p. 52) explica que o texto a manifestao material de um
enunciado. Enquanto o enunciado da ordem do sentido, uma posi-
o assumida por um enunciador, um sentido, o texto da ordem da
manifestao, uma realidade dotada de materialidade.
Mas se os enunciados se materializam em textos, enunciado e
texto no seriam sinnimos?
6
Segundo Bakhtin (2003), um texto pode
ou no constituir um enunciado. No captulo O problema do texto na
lingstica, na filologia e em outras cincias humanas, ao mencionar
caractersticas do texto, o terico russo atribui traos do enunciado
(ter autor, ser irrepetvel e ganhar sentido na relao dialgica) ao
texto, explicando que o texto pode se tornar enunciado quando o que se
6
A esse propsito, vale lembrar que alguns autores como Barthes (1974), Koch
(1991), Marcuschi (2008) utilizam a terminologia intertextualidade para designar
tanto as relaes percebidas na materialidade do texto quanto as relaes de sentido
que se estabelecem entre textos.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
283
leva em conta nele (no texto) o seu sentido dialgico e no a sua ma-
terialidade. Fiorin assim explica tal questo:
Na medida em que um texto se torna enunciado, ele distinto des-
te. O texto pode ser visto como enunciado, mas pode no o ser, pois
quando o enunciado considerado fora da relao dialgica, ele s
tem realidade como texto. Pode-se ter uma Lingustica que estuda o
texto, mas o faz como uma entidade em si, fora das relaes dialgi-
cas, j que essas no podem ser objeto da Lingustica. (FIORIN,
2006b, p. 180)
Assim, o trabalho com textos em sala de aula pode abordar tanto
os elementos que o compem enquanto estrutura lingustica (texto
enquanto materialidade) quanto os sentidos (dialgicos) que o consti-
tuem (texto enquanto enunciado), ou, ainda mais enriquecedor, traba-
lhar ambas as possibilidades.
A diferenciao entre texto enquanto materialidade e enunciado
enquanto sentido implica terminologias diferenciadas para designar
as relaes entre textos e as relaes entre enunciados/discursos: a
intertextualidade e a interdiscursividade.
A interdiscursividade condio fundante dos enunciados. Est
relacionada ao sentido destes e tomada como sinnimo de dialogis-
mo
7
. Decorre do fato de que qualquer enunciado dialoga com outros
enunciados
8
que o antecederam e que o sucedero na linha do tempo,
num contnuo processo responsivo, de recriao e transformao do
que j foi dito/escrito. Nas palavras de Bakhtin,
Cada enunciado isolado um elo na cadeia da comunicao discur-
siva. [] O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for,
no se torna pela primeira vez objeto do discurso em um dado
enunciado, e um dado falante no o primeiro a falar sobre ele. O
objeto, por assim dizer, j est ressalvado, contestado, elucidado e
avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e diver-
gem diferentes pontos de vista, vises de mundo, correntes (2003,
p. 299-300)
7
Authier-Revuz (1982) chama esta relao de heterogeneidade constitutiva; Koch
(1991) a denomina intertextualidade em sentido amplo.
8
O dialogismo se d entre discursos/enunciados, no entre falantes. Ou seja, dialogismo
no sinnimo de dilogo ou de conversao face a face entre dois sujeitos.
Luciana Maria Crestani
284
Isso significa que os textos so, em sua essncia, dialgicos/in-
ter-discursivos, uma vez que sempre que algum produz um texto, o
objeto de que o texto fala j foi/ser objeto de outros textos/enun-
ciados. O sentido pode ser de concordncia, discordncia, complemen-
tao mas um texto sempre ser mais um elo na cadeia do discurso
sobre um determinado objeto/fato.
A intertextualidade, por sua vez, diz respeito s relaes dialgi-
cas mostradas na materialidade do texto. quando um texto traz para
dentro de si elementos materiais de outro texto com o qual dialoga.
Como explica Fiorin (2006a, p. 52-53), intertextualidade deveria ser a
denominao de um tipo composicional de dialogismo: aquele em que
h no interior do texto o encontro de duas materialidades lingusticas,
de dois textos.
Tomemos como exemplo os poemas abaixo:
Cano do Exlio
(Gonalves Dias)
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi;
As aves, que aqui gorjeiam,
No gorjeiam como l.
Nosso cu tem mais estrelas,
Nossas vrzeas tm mais flores,
Nossos bosques tm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, noite,
Mais prazer eu encontro l;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi.
Minha terra tem primores,
Que tais no encontro eu c;
Em cismar sozinho, noite
Mais prazer eu encontro l;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi.
No permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para l;
Sem que desfrute os primores
Que no encontro por c;
Sem quinda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabi.
Cano do Exlio Facilitada
(Jos Paulo Paes)
l?
ah!
sabi
pap
man
sof
sinh
c?
bah!
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
285
fcil perceber a relao intertextual existente entre os dois po-
emas. O texto de Jos Paulo Paes, datado de 1973, traz elementos ma-
teriais que remetem ao texto de Gonalves Dias, escrito em 1843: o
ttulo, Cano do exlio facilitada, e as expresses l, sabi, c,
as quais so reiteradas vrias vezes no poema de Dias e, de certa forma,
j esto cristalizadas na memria discursiva como constituintes deste.
No que tange relao interdiscursiva, o texto de Joo Paulo Paes
(poeta ps-moderno) sintetiza ao extremo o texto de Dias, recuperando
a ideia do exlio, do descontentamento com o c?/bah! e do saudo-
sismo da ptria l?/ah!. No entanto, os termos utilizados por Paes
(pap, man, sof e, principalmente, sinh) remetem no s be-
lezas da ptria, mas sim s comodidades prprias de uma vida de re-
galias. Isso faz com que o poema de Paes assuma um tom de ironia em
relao ao texto de Gonalves Dias, como se o saudosismo retratado
no poema de Dias no fosse exatamente da ptria em si, mas dos con-
fortos desfrutados pelas famlias abastadas na poca do Romantismo,
inclusive os costumes escravagistas. possvel, portanto, entender o
poema de Paes como sendo uma pardia
9
do texto de Gonalves Dias.
A propsito, vale lembrar que toda intertextualidade implica a
existncia de uma interdiscursividade (relaes entre enunciados),
mas nem toda interdiscursividade implica intertextualidade []
quando um texto no mostra, no seu fio, o discurso do outro, no h
intertextualidade, mas h interdiscursividade (FIORIN, 2006a, p. 52).
Assim, a exemplo da breve anlise feita acima, entendemos que ambas
as relaes (intertextuais e interdiscursivas) precisam ser mostradas,
ensinadas e discutidas com os alunos no intuito de desenvolver a ca-
pacidade discursiva destes.
4 EXPLORANDO RELAES INTERTEXTUAIS E INTERDISCURSIVAS EM CLASSE
Apresentamos na sequncia uma proposta de trabalho aplicada
a uma turma de 8 srie de uma escola municipal. Tal proposta propi-
ciou o trabalho com textos de diferentes gneros, com intertextualida-
de e interdiscursividade, instigou os alunos pesquisa na internet
aliando recursos tecnolgicos ao ensino e contemplou uma aborda-
gem interdisciplinar.
9
Pardia a imitao de um texto no intuito de critic-lo, de desqualific-lo de alguma
forma (FIORIN, 2006).
Luciana Maria Crestani
286
Os principais objetivos da atividade eram: a) levar os alunos a
perceberem relaes intertextuais e interdiscursivas presentes em
textos de diferentes gneros e manifestos por diferentes linguagens
(verbal, no verbal e sincrtica); b) trabalhar leitura, oralidade e escrita;
c) instigar a autonomia na construo do conhecimento mediante pes-
quisas na web e de debates em grupo; d) refletir sobre mudanas cultu-
rais e padres de beleza atuais; e) desenvolver o pensamento crtico.
Para tanto, foram selecionados os seguintes textos: uma imagem
da tela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci; uma estilizao desta pintura
(a que chamamos Mona Lisa atual); o filme O sorriso de Mona Lisa;
e a crnica A crueldade de ser mulher, de Maria Alice Guimares.
Primeiramente, no intuito de chamar a ateno dos alunos e sa-
ber se eles conheciam o texto-origem, foi apresentada a estilizao
do quadro de Mona Lisa, figura que segue abaixo.
Figura 1: Mona Lisa atual
Fonte: Bar do Smoke, 2008.
Instigando os alunos a pensarem e a interagirem com respostas,
algumas perguntas foram feitas ao longo da discusso, como: o que
lhes chama a ateno nesta figura? Conhecem alguma outra pintura/
figura semelhante? Por que o nome da imagem Mona Lisa Atual? A
palavra atual traz a ideia de outra Mona Lisa anterior? Quais as carac-
tersticas da mulher atual, tanto no que diz respeito aos aspectos f-
sicos e cuidados com o corpo, quanto ao papel social que desempe-
nham? H diferenas entre as mulheres da atualidade e as de geraes
passadas? Quais? Muitas e diferentes foram as respostas. Alguns na-
da sabiam sobre a obra original. Outros lembraram que a figura pare-
cia com alguma outra que j tinham visto ou estudado. Tambm sur-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
287
giram respostas diversas sobre o papel da mulher hoje em dia, e sobre
os aspectos fsicos da mulher atual.
Depois da discusso inicial, a tela Mona Lisa, de Leonardo da
Vinci, foi apresentada aos alunos.
Figura 2: Tela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci
Fonte: Brasil Escola, 2010.
Os alunos foram questionados, ento, sobre as semelhanas e di-
ferenas entre as imagens. Tambm sobre quais aspectos materiais
presentes na tela anterior (Mona Lisa Atual) permitiam dizer que ela
era uma recriao desta (Mona Lisa). A seguir, veio a explicao de
que a figura anterior era uma estilizao da obra de Leonardo da Vinci,
e a solicitao de que, a partir do que viam nas figuras, tentassem en-
tender/explicar o que era, ento, estilizao. Tendo em vista que um
dos objetivos era trabalhar mudanas culturais, tambm foram ques-
tionados sobre qual Mona Lisa eles achavam mais bonita e por qu? A
esta altura do trabalho, j se exploravam relaes intertextuais e in-
terdiscursivas sem ter havido qualquer conceituao ou referncia a
tais nomenclaturas.
O passo seguinte foi dividir a turma em pequenos grupos e deli-
mitar tarefas de pesquisa na internet para cada grupo. Eles deveriam
pesquisar sobre o autor da tela original, Leonardo da Vinci (onde e em
que poca viveu, em que se destacou, outras obras importantes, curio-
sidades a respeito do autor), bem como trazer dados sobre a obra (da-
ta de produo, onde est exposta e outras curiosidades que a circun-
dam). Tambm precisavam descobrir quais eram os padres de beleza
feminina da poca em que a tela foi pintada.
Luciana Maria Crestani
288
Na aula seguinte, com superviso e orientao do professor, os
grupos foram para o laboratrio de informtica realizar a pesquisa.
Cada grupo devia registrar os dados pesquisados para, nas aulas se-
guintes, apresent-los oralmente para a turma, em forma de semin-
rio. Tambm foi solicitado que, durante o seminrio, os grupos reali-
zassem anotaes sobre as informaes que cada grupo apresentava.
No dia do seminrio, um professor de Histria foi convidado pa-
ra comentar sobre a poca em que a tela foi pintada (Renascimento),
abordando, principalmente, questes sociais e a posio da mulher na
sociedade da poca.
A proposta seguinte foi assistir ao filme O sorriso de Mona Li-
sa, no intuito de que os alunos percebessem que mesmo no sculo
XX
10
ainda muito da relao de submisso da mulher persistia. Aps o
filme, realizou-se discusso sobre o que eles haviam (ou no) entendi-
do sobre ele. Foram relembradas algumas falas do professor de Hist-
ria (da aula anterior) para suscitar debates sobre as mudanas quanto
ao papel social da mulher e tambm do homem ao longo dos tem-
pos. No encerramento desta aula, foi perguntando classe que outras
questes no filme, alm do ttulo O sorriso de Mona Lisa , faziam
lembrar os textos anteriores. O que se pretendia saber era se eles ha-
viam percebido inter-relaes de ideias/concepes entre este texto e
os outros dois j trabalhados. As respostas evidenciaram que eles j
conseguiam fazer algumas relaes entre os textos, comentando prin-
cipalmente sobre as questes de comportamento (forma de sentar,
sorriso contido, roupas fechadas) e a postura social da mulher. Apro-
veitando as respostas, trabalhou-se a ideia de intertextualidade (rela-
es materiais entre elementos dos textos). Tambm foi introduzida a
questo do dilogo entre ideias dos textos (interdiscursividade), ex-
plicando que o filme dialogava tanto com a tela da Mona Lisa original
quanto com a da Mona Lisa Atual, j que retratava tanto a submisso
da mulher na sociedade quanto postura progressista/moderna bus-
cando superar tal realidade.
10
O Sorriso de Monalisa (lanado em 2003) narra a situao socioeconmica da mu-
lher durante o final da primeira metade do sculo XX. O filme se desenvolve entre os
anos de 1953 e 1954. A protagonista da histria, Katherine Watson (Julia Roberts),
uma mulher recm-formada que, muitas vezes, considerada progressista, ou at
subversiva, isso porque ela no aceita a ideia de que a mulher deveria ser submissa ao
homem.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
289
Na aula subsequente, foi explorada a crnica A crueldade de ser
mulher (Maria Alice Guimares, 2010), que tece uma crtica aos pa-
dres de beleza atuais e ditadura da esttica. Segue a crnica:
A CRUELDADE DE SER MULHER
Maria Alice Guimares
Volto ao tema da crueldade por me parecer inesgotvel. Qualquer coisa pode,
em determinado momento, ser cruel. Mulher sujeito e objeto de muita crueldade.
cruel ser bonita, ser jovem, inteligente, regada a hormnios, ferormnios,
progesteronada e anfetaminada. Portadora saudvel da vida e da fertilidade. Nada
de errado nisso. a fase da juventude, das paixes desenfreadas, da alegria e dos
sonhos. quando parecemos eternos. Tudo podemos e tudo queremos, afinal
pensamos que a velhice nunca nos atingir, como se fssemos vacinados contra
ela. coisa da vov. Ela que se vire, problema dela e de quem velho.
Que crueldade, no com os mais velhos porque esses j esto noutra. com
aquele corpinho perfeito, uns mais bonitos outros menos, mas todos no melhor da
hora.
O tempo, o velho e impiedoso senhor da razo passa e traz com ele os efei-
tos da lei da gravidade, das nefastas exposies ao sol em busca daquela corzinha
de pecado, a gravidez de quase todas, as noites mal-dormidas, a dupla jornada de
trabalho e outras mazelas que s s mulheres so impostas.
Fazer o qu? Algumas, cuja situao financeira permite, vo em busca das ci-
rurgias plsticas e acomodam litros de silicone em bundas cadas e seios murchos
e d-lhe botox, dentes implantados, tinturas nos cabelos e por a vai. So tantos
os recursos que o mercado oferece. a indstria da juventude eterna, to ampla-
mente sonhada. Melhor ainda se juntar-se a isto longas e penosas caminhadas, de
preferncia usando tnis redutor de impacto e belas malhas de preo bem alto.
Dietas, academias, massagens, muitos cremes. Tudo junto pode tirar um punhado
de anos do visual. Permite at o uso daquele baby look da filha e daquele jeans
apertadinho. Parecem irms, muitos elogiam. E o ego? Vai bem obrigada.
Pareo despeitada dizendo essas coisas, mas confesso que j fiz um pouco disso
e s no fiz mais porque o dinheiro no deixou. Hoje me pergunto se vale a pena
tanto investimento e tanto sacrifcio.
Vejo todos os dias mulheres que no reconheo. At colegas de escola, sempre
inesquecveis, passam por mim sem que eu junte o rosto de hoje ao do tempo do
colgio. A cara outra, dentua, lbios grossos, repuxadas, parecendo um Fus-
quinha reformado. Muitas at bem bonitas, mas sem terem conseguido quase
nada do que foi no modelo original. Sorriso, ento, parece que foi modificado com
grampeador.
A velhice inevitvel. S no envelhece quem morre antes. A frase popular e
no minha, mas nem por isso deixa de ser verdadeira. Envelhecemos porque
Luciana Maria Crestani
290
vivemos e se vivemos temos que arcar com as consequncias. No precisamos ir
para o ferro velho, isso seria injusto demais com as mulheres mais velhas. H mui-
tas formas de se encarar a idade com altivez e dignidade, com estilo prprio, cui-
dando da sade da beleza madura que vemos estampada no rosto de tantas por a.
Cabelos bem tratados (cabelos determinante), dentes brancos, unhas feitas, de
preferncia mais curtas (unhas tipo garras comprometem qualquer visual). Ser
elegante, ostentar a sabedoria que o tempo nos d, vale mais do que ser gostosa.
Elegante podemos ser enquanto vivermos, mas permanecer gostosa fica muito
difcil e cruel para no dizer ridculo.
Bom que temos escolha, j que da crueldade de envelhecer ningum escapa.
Ser sujeito de sua prpria histria e no meros objetos de consumo comercial e
de homens carecas, barrigudos e culturalmente convencidos que a eles foi dado e
reservado o direito s mais belas e jovens fmeas da natureza, meros objetos de
prazer, permutveis, passveis de serem trocadas por um modelo mais novo.
Hoje domingo e a saudade da minha v me assaltou. Vontade de comer a
comidinha que ela fazia, de deitar no colo carinhoso e acariciar aqueles cabelinhos
que sempre conheci brancos e presos na nuca. Um pote de amor e sabedoria que
me foi dado como exemplo de vida. Acho que vou querer envelhecer assim sendo
uma doce vovozinha de colo macio e fala mansa. Mas ser que a mdia vai deixar?
Mas toda essa nostalgia so conversas de domingo
Aps a leitura do texto, os alunos foram instigados a tecer rela-
es entre a crnica e os outros textos j trabalhados e a expressarem
oralmente suas percepes. De imediato, eles identificaram a crnica
como mais parecida com o texto Mona Lisa Atual pelas descries
fsicas mencionadas na crnica (principalmente o silicone e a tintura
no cabelo) e latentes na estilizao. Ou seja, perceberam questes in-
tertextuais.
Tambm falaram dos padres estticos atuais e dos de antiga-
mente, bem como do papel da mulher na sociedade, como a dupla
jornada de trabalho. Sobre a relao da crnica com o filme, comenta-
ram que a protagonista do filme era uma mulher moderna para seu
tempo, porque estudava, trabalhava, vivia de forma livre e indepen-
dente, mas que naquela poca parecia no existir tamanha ditadura
da beleza. Disseram, ainda, que as alunas do filme retratavam o con-
trrio da imagem de mulher que a crnica traz, que se pareciam
mais com a Mona Lisa de Da Vinci. Tambm notaram que a autora da
crnica no estava feliz com a ditadura da esttica e que parecia
querer envelhecer com mais naturalidade. Apontaram, portanto, ques-
tes interdiscursivas.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
291
O fechamento do trabalho incluiu reviso sobre a forma de ex-
presso dos gneros textuais trabalhados (verbal, no verbal e sincr-
tico) e sobre como os textos dialogavam uns com outros, seja por
apresentarem elementos materiais que se reiteravam na superfcie
textual (intertextualidade), ou pelo entrecruzamento de temas, ideias,
conceitos veiculados e/ou pertencentes ao universo dos outros textos
(interdiscurso). Como proposta final, cada grupo deveria produzir um
relatrio (escrito) das atividades realizadas, contemplando tambm
uma avaliao do trabalho. Embora os alunos j tivessem conhecimento
do gnero relatrio, foi-lhes passado um roteiro de desenvolvimento e
algumas questes norteadoras cujas respostas deveriam estar no inte-
rior do texto. Eles tambm deveriam/poderiam dar sugestes para as
aulas.
No relatrio, em geral, os alunos mencionaram ter gostado muito
da atividade, porque tinha sido algo diferente, que lhes trouxe co-
nhecimentos sobre questes culturais e no apenas de regras de
gramtica. Tambm demonstraram desejo de repetir as atividades de
pesquisas na internet e os debates em classe. Pelas respostas, tambm
foi possvel identificar que haviam entendido que os textos dialoga-
vam entre si, ou seja, tinham compreendido noes de intertexto e in-
terdiscurso.
A atividade foi produtiva. Alm de contribuir para os processos
leitura, interpretao e produo de textos, instigou pesquisa, propi-
ciou a expresso oral e escrita e a aquisio de conhecimentos de dife-
rentes reas (lngua portuguesa, artes, histria, sociologia). Foi signifi-
cativa, portanto, para as prticas de letramento e para o desenvolvi-
mento de competncias discursivas dos sujeitos que dela participaram.
5 CONSIDERAES FINAIS
Na proposta apresentada, o intuito principal era ajudar os alu-
nos a entender as relaes intertextuais e interdiscursivas constituti-
vas dos textos, porm muitos outros aspectos foram explorados a par-
tir disso, e tantos outros poderiam ter sido objeto de estudo e traba-
lho, inclusive questes gramaticais. A propsito, como j apontamos
no incio deste trabalho, entendemos que a gramtica pode e deve ser
trabalhada em aula, mas no como instrumento focado em si mesmo, e
sim como ferramenta para melhorar as habilidades de leitura, expres-
so oral e escrita.
Luciana Maria Crestani
292
Certamente, atividades como esta ou mais criativas so de-
senvolvidas semanalmente em muitas aulas de lngua materna nas es-
colas brasileiras. No entanto, preciso tambm admitir que, em mui-
tos contextos escolares, o estudo de nomenclaturas e regras gramati-
cais descontextualizadas da produo textual continuam sendo priori-
zados em classe, como comprovam comentrios de alunos participan-
tes da proposta ora descrita, bem como resultados de avaliaes do
MEC aplicadas ao ensino bsico.
Por outro lado, conhecemos a realidade deficitria de muitas es-
colas brasileiras e de formao de muitos dos professores que nelas
atuam. Consideramos tambm o fato de que as atividades de leitura e
produo demandam tempo de elaborao e correo. Por isso, en-
tendemos que, antes de tudo, mudar o foco das aulas de lngua mater-
na implica uma postura de comprometimento do docente com seu fa-
zer e com seus alunos. Ao mesmo tempo, entendemos que mesmo nos
contextos mais precrios possvel priorizar o trabalho com leitura e
produo textual. E que s assim podemos ajudar os alunos a desen-
volverem a competncia discursiva e a ampliar seu universo de co-
nhecimentos, contribuindo, efetivamente, para a formao destes.
REFERNCIAS
BAKHTIN, M. Esttica da criao verbal. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
BAR DO SMOKE. Verses da Mona Lisa (2008). Disponvel em: <http://bardo
smoke. blogspot.com/2008/04/versoes-da-monalisa.html>. Acesso em: abr.
2010.
BARTHES, R. Novos ensaios crticos. O zero grau da escritura. So Paulo: Cultrix,
1974.
BRASIL ESCOLA. Mona Lisa - quem foi Mona Lisa? Disponvel em: <http://www.
brasilescola.com/artes/mona-lisa.htm>. Acesso em: abr. 2010.
DIAS, G. Cano do Exlio. Disponvel em: <http://www.ufrgs.br/proin/versao_1/
exilio/index01.html>. Acesso em: maio 2013.
FIORIN, J. L. Introduo ao pensamento de Bakhtin. So Paulo: tica, 2006a.
FIORIN, J. L. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAITH, Beth (Org.).
Bakhtin: outros conceitos-chave. So Paulo: Contexto, 2006b. p. 161-194.
GERALDI, J. W. Concepes de linguagem e ensino de portugus. In: GERALDI, J.
W (Org.). O texto na sala de aula. 4. ed. So Paulo: tica, 2006, p. 39-56.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
293
GUIMARES, M. A. A crueldade de ser mulher. Disponvel em: <http://pensador.
uol. com.br/autor/maria_alice_guimaraes/>. Acesso em: jun. 2010.
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 13. ed. Campinas: Pon-
tes, 2010.
KOCH, I. V. Intertextualidade e polifonia: um s fenmeno? Revista D.E.L.T.A, n. 7,
v. 2, p. 529-543, 1991.
MARCUSCHI, L. A. Produo textual, anlise de gneros e compreenso. So Paulo:
Parbola Editorial, 2008.
NEVES, M. H. de M. Gramtica na escola. 8. ed. So Paulo: Contexto, 2007.
PAES, J. C. Cano do Exlio Facilitada. Disponvel em: <http://educador.brasil
escola.com/orientacoes/o-uso-parodias-suas-multiplas-formas-aplicacao.htm>.
Acesso em: 30 maio 2013.
POSSENTI, S. Por que (no) ensinar gramtica na escola. Campinas: Mercado das
Letras, 1996.
POSSENTI, S. Sobre o ensino de portugus na escola. In: GERALDI, J. W. (Org.). O
texto na sala de aula. 4. ed. So Paulo: tica, 2006. p. 32-38.
SOARES, M. B. Letramento: um tema em trs gneros. 2. ed. Belo Horizonte: Au-
tntica, 2004.
QUEM O INTERLOCUTOR DOS PARMETROS
CURRICULARES NACIONAIS DE LNGUA
PORTUGUESA DO TERCEIRO E QUARTO CICLOS?
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
1
1 CONSIDERAES INICIAIS
Os professores, em especfico os que trabalham com o ensino de
lngua materna, vivem perodos de insegurana quanto metodologia
mais adequada para ensinar Lngua Portuguesa na escola. Somado a
isso, acentuadas mudanas no meio educacional sugerem novas orien-
taes nos documentos curriculares, como um meio de contribuir para
a melhoria do ensino de lngua materna.
Na dcada de 90 aconteceu o brotar de vrios documentos educa-
cionais, leis, diretrizes, pareceres que objetivavam estabelecer novo
horizonte para a educao. Um dos documentos partejados nesse pero-
do foram os Parmetros Curriculares Nacionais e com ele estabeleceu-se
a dvida: como articular a proposta dos PCNs/LP
2
na sala de aula se,
mais de uma dcada depois da publicao, o documento no consegue
estabelecer dilogo com seus provveis leitores?
Deste questionamento surgem trs inquietaes que ganham len-
tes de relevncia: a primeira delas centrada na definio do objeto de
ensino de Lngua Portuguesa, intercalada entre as prticas reais e as
prticas desejveis de ensino-aprendizagem. A segunda refere-se ao
processo de recepo de textos destinados ao professor. No bojo desse
processo, o professor vive a interrogar-se acerca do construto terico
1
Doutoranda em Estudos da Linguagem (UFRGS). Professora do CAFW/UFSM.
E-mail: mvboabaid@yahoo.com.br
2
A partir deste momento, usaremos a sigla PCNs para nos referir aos Parmetros Curri-
culares Nacionais e PCNs/LP para nos referir aos Parmetros Curriculares Nacionais de
Lngua Portuguesa.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
296
que pode embasar sua prtica e, em muitas situaes, convive com o
conflito da sua formao inicial em relao formao continuada.
considerando esse contexto que o ensino de lngua materna tem
suscitado, nas ltimas dcadas, inmeros questionamentos, porque na
prtica no tem revelado avanos significativos, fato que convoca tanto
o meio acadmico quanto o ambiente escolar a uma reflexo. A partir
dessa constatao, entendemos que no h mais dvidas: urgente a
necessidade de redimensionar no s o objeto de estudo, mas tambm
compreender o embasamento terico que serve de suporte pedaggico
para o ensino de lngua materna na escola, alm de estabelecer o dilo-
go com os Parmetros Curriculares Nacionais de Lngua Portuguesa.
A terceira inquietao reside na interpretao da proposta dos
textos oficiais, neste caso, PCNs/LP, e como traduzi-la em uma metodo-
logia efetiva que no s alimente os discursos pedaggicos, mas que de
fato rena a eficcia e o resultado pretendido pelo documento. Ainda,
salientamos que o entendimento e aplicabilidade dos PCNs/LP no am-
biente escolar se v afetado pela no coincidncia entre a instncia pre-
tendida e a instncia real de alocuo. Nesta ltima abordagem, tem
nos interessado, sobretudo, a formulao de princpios terico-
metodolgicos que possibilitem ler textos oficiais, numa perspectiva
enunciativa. Essas trs dimenses so complementares uma da outra.
Acreditamos, porm, que a ltima inquietao contempla nosso objeto
de estudo, principalmente por constatarmos que h um distanciamento
entre o texto oficial PCNs/LP e a esfera escolar, motivo pelo qual parece
ser pertinente verificar a quem o documento se dirige, o que este estu-
do prope que seja feito por meio da anlise e identificao de ndices
no material textual que permitam postular um alocutrio como instn-
cia pretendida do texto, ao mesmo tempo que confronta essa pretenso
com os alocutrios que efetivamente a ele se apresentam.
Partimos da hiptese de no haver coincidncia da instncia de
alocuo pretendida com os alocutrios reais que se instauram na leitura
do texto. Tal evidncia pode soar um pouco estranha, visto que o do-
cumento foi criado para ser um recurso pedaggico, para transitar e
auxiliar a escola na elaborao do projeto educativo e subsidi-la na
organizao do planejamento escolar. Entretanto, verificamos que, na
prtica, ocorre exatamente o contrrio: os PCNs/LP no fazem parte da
rotina de leitura dos professores de lngua materna, e, em muitas situa-
es, so lidos, mas no so compreendidos. na tentativa de entender
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
297
porque tal problema se instaura que tomamos como objeto de investi-
gao o referido documento do ponto de vista enunciativo.
Neste artigo, tentaremos responder interrogao que o intitula.
Inicialmente, lanamos um olhar para o contexto histrico da escola
brasileira, destacando alguns fatos que possivelmente tenham motivado
o surgimento do documento parametrizador. No pretendemos produ-
zir uma reflexo exaustiva do documento, faremos um recorte menos
abrangente, procurando evidenciar as transformaes e ou contribui-
es propostas pelas polticas pblicas educacionais. Posteriormente,
delinearemos os principais eixos da teoria de Benveniste que susten-
tam nossa investigao, terminando com uma anlise inicial por meio
dos ndices no material textual.
2 ESCOLA, REFORMAS EDUCACIONAIS E PCNS DE LNGUA PORTUGUESA: MAIS DE
UMA DCADA (EN PASSANT)
Nas ltimas dcadas a temtica da educao adquiriu centralida-
de na agenda das discusses que envolvem as polticas pblicas, tanto
no que se refere s propostas, aos planos governamentais, quanto s
pesquisas no meio acadmico. Os profissionais da educao h muito
mostram insatisfao com a prtica educacional. Somado a isso, muitos
estudos foram desenvolvidos com vista busca de solues para os di-
ferentes insucessos no mbito escolar, sempre subsidiados por refe-
renciais tericos. Porm, o resultado de muitos destes estudos no che-
gavam ao professor e, por conseguinte, sala de aula.
Alm disso, o alto ndice de repetncia e evaso, as desigualdades
regionais que promovem desnveis educacionais , o baixo aprovei-
tamento escolar, a defasagem idade/srie e os entraves que impedem
uma parte considervel da populao fazer valer seus direitos e inte-
resses fundamentais, como o acesso educao universal e de qualida-
de eram tambm indcios de que era necessrio repensar a prtica pe-
daggica. Com o objetivo de compreender e atenuar esse grave pro-
blema social, o Brasil por intermdio de representantes do Ministrio
da Educao e Cultura, participou da Conferncia Mundial de Educao
para Todos, em Jomtien, na Tailndia
3
.
3
Para ampliar os estudos acerca da Conferncia, sugerimos ler Torres (2001).
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
298
O resultado desse encontro assinalou que a educao o canal de
acesso modernizao e um meio para minimizar os contrastes e a ex-
cluso social, agindo com perseverana na busca de conhecimento e no
exerccio da cidadania. Assim, teve incio o processo de redemocratiza-
o do Pas somado s transformaes nos campos polticos, econmi-
cos, sociais e culturais, alm dos avanos nas reas da tecnologia e da
informao, o que provocou alteraes substanciais nas demandas e
expectativas da sociedade brasileira, principalmente no que se refere
ao mercado de trabalho. Diante dessa nova realidade, tornaram-se im-
prescindveis a democratizao e permanncia na escola, alm da busca
pela qualidade na educao bsica, o que apontava a educao como
meio para a superao das desigualdades sociais e para o desenvolvi-
mento.
A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 determina que compe-
tncia da Unio estabelecer, junto aos estados e municpios, medidas
que orientem os currculos e seus devidos saberes, de forma a garantir
uma formao bsica comum a todos. O Ministrio da Educao e Cul-
tura, buscando propostas de abordagens pedaggicas mais eficazes,
considerando, tambm, a necessidade de assegurar o direito social
formao, garantido por lei, e construir uma sociedade mais justa, pau-
tada na promoo do desenvolvimento econmico, no perodo de 1995
a 1998 elaborou os PCNs, documento considerado um marco divisor,
cujo objetivo oferecer s escolas, professores e profissionais ligados
educao as diretrizes para a prtica pedaggica e para a educao no
Brasil.
Os PCNs surgiram para auxiliar a compreenso deste novo cen-
rio educacional, ampliando as reflexes acerca do sistema educacional
pblico brasileiro, envolvendo no s profissionais ligados educao,
mas tambm a sociedade em geral.
Este documento o veculo norteador das propostas curriculares
brasileiras. Dentre os propsitos que o integra, destacam-se servir de
apoio s discusses e ao desenvolvimento do projeto educativo das es-
colas, reflexo sobre a prtica pedaggica, ao planejamento das aulas
e anlise e seleo de materiais didticos bem como contribuir para a
formao e atualizao profissional. Assim, tendo uma orientao di-
nmica e visando a construir referncias nacionais comuns ao processo
educativo em todas as regies brasileiras, institui-se como importante
subsdio para socializao da prtica profissional do docente.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
299
A necessidade de construir uma escola voltada para a formao
dos cidados, na qual o professor deve no somente ensinar o contedo
pontualmente, mas tambm fazer os alunos se sentirem integrantes de
uma sociedade, que saibam opinar criticamente sobre tudo em sua volta
o eixo central do documento. Na sequncia, apresentaremos o docu-
mento especfico de Lngua Portuguesa do terceiro e quarto ciclos.
3 PCNS DE LNGUA PORTUGUESA DO TERCEIRO E QUARTO CICLOS
Sem dvida, os PCNs alteraram significativamente o trabalho com
a lngua materna na escola e tornaram-se um ponto de reflexo, mas
mesmo sendo um recurso para o ensino de lngua materna no se esta-
belecem na ambincia escolar. O documento prope que a escola orga-
nize o ensino de modo que o aluno possa desenvolver seus conheci-
mentos discursivos e lingusticos, sabendo ler e escrever conforme seus
propsitos e demandas sociais; expressar-se apropriadamente em situ-
aes de interao oral diferentes daquelas prprias de seu universo
imediato e refletir sobre os fenmenos da linguagem, particularmente
os que tocam a questo da variedade lingustica, combatendo a estig-
matizao, discriminao e preconceitos relativos ao uso da lngua.
No que concerne ao subsdio na disciplina de Lngua Portuguesa,
assinalam que a prtica de ensino deve estar pautada no uso da lingua-
gem, ou seja, toda educao comprometida com o exerccio da cidada-
nia precisa criar condies para que o aluno possa desenvolver sua
competncia discursiva (PCNs/LP, 1998, p. 23). Assim fica evidente
que o domnio da linguagem uma das condies para a participao
social e compreender as relaes intersubjetivas facilita a plena parti-
cipao social.
Quanto composio, organiza-se de duas partes. A primeira,
Apresentao da rea de Lngua Portuguesa, contextualiza a situao
atual do ensino de lngua e apresenta-se como uma proposta em rela-
o ao movimento de reestruturao curricular. A segunda, denomina-
da Lngua Portuguesa no terceiro e no quarto ciclos, voltada s orien-
taes para o trabalho escolar que deve ser desenvolvido com a lingua-
gem nesses ciclos. Definem-se objetivos e contedos, explicitam-se ori-
entaes didticas, descrevem-se relaes entre o ensino de Lngua
Portuguesa e as tecnologias da comunicao e, por fim, propem-se cri-
trios de avaliao.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
300
O documento sugere o texto como a unidade bsica do ensino de
lngua materna, dando nfase noo de gnero como parte constituti-
va do texto. A organizao dos contedos de Lngua feita em dois ei-
xos: prticas de uso e prticas de reflexo. O eixo uso se subdivide em
Prtica de escuta e de leitura de textos e Prtica de produo de textos
orais e escritos. Os contedos sero desenvolvidos em funo do eixo
uso-reflexo-uso.
Tendo este recorte, sugere que o ensino da lngua materna em to-
dos os anos da educao bsica importante para facultar ao aluno me-
lhor domnio da lngua que fala, para que lhe seja possvel assumir a
palavra e produzir enunciados constituindo-se como cidado.
Considerando nossa hiptese inicial de que h uma dissimetria
entre o texto PCNs e seu alocutrio, entendemos necessrio investigar o
porqu desta lacuna. Para tanto, recorreremos aos pressupostos ben-
venistianos na tentativa de compreender marcas no texto de quem po-
de ser concebido como instncia pretendida de alocuo.
4 AS BASES DA TEORIA DA ENUNCIAO DE BENVENISTE
A teoria que embasa e motiva este estudo provm do conjunto de
textos produzidos por mile Benveniste e agrupados nas obras Proble-
mas de lingustica geral I e II, a que se convencionou considerar como os
textos que fundam a Teoria da Enunciao benvenistiana.
Flores (2012, p. 151) destaca que [] no fcil ler Benveniste.
Para l-lo, no basta abrir os Problemas e dar incio a uma leitura linear.
preciso, antes, assumir um ponto de vista epistemolgico. Sem dvi-
da, os textos benvenistianos so conhecidos no apenas pela instigante
temtica, mas pela dificuldade de leitura, devido no s complexidade
de temas enfocados, mas tambm pela dificuldade terminolgica e no-
cional. Alm do que, os artigos foram feitos em diacronia, por mais que
dispostos em sincronia. Este dado no invalida o contedo de nenhum
texto, nem sugere maior ou menor importncia de um em relao ao
outro, simplesmente denuncia um amadurecimento do pensamento de
Benveniste, ou ainda, mostrar o esboo da teoria que o linguista nunca
nominou.
Partindo do pressuposto de que ler Benveniste um grande desa-
fio, isto porque os textos no podem ser lidos de forma isolada, fato que
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
301
convoca o leitor a propor um sistema de leitura, considerando a sepa-
rao temporal que lhe so devidas, Flores (2012, p. 153) assinala:
[...] os textos nos quais Benveniste estuda a enunciao no podem
ser tomados como se constitussem um conjunto coeso de proposi-
es terico-metodolgicas. Ao contrrio disso, cada texto de Benve-
niste prope categorias de anlise, teoriza sobre elas e desenvolve as
anlises dentro desses limites. Cada texto encerra, em si, maneiras
especficas de analisar e de teorizar sobre as lnguas, a lngua e a lin-
guagem.
Diante dos desdobramentos que esta teoria provoca, poderamos
ser questionados quanto opo pela base terica do referido autor.
Pontuar as razes que nos levaram eleger Benveniste para conduzir
este estudo entender que no h como l-lo e ser indiferente, neces-
srio provocar e sentir-se provocado. Alm do que encantou-nos o mo-
do como prope o objeto terico enunciao.
Se a lngua um consenso coletivo e o homem a reinventa a cada
instante, ler Benveniste discorrer entre o labirinto da teoria da enun-
ciao e compreender o quadro interlocutivo dos PCNs, analisando co-
mo se instala a cena enunciativa no referido documento. Esta teoria
permite uma abordagem que d lugar subjetividade, possibilitando a
observao de singularidades que emergem no texto e do texto, produ-
to da presena de um locutor que se relaciona com a lngua a partir de
marcas lingusticas.
Para eleger os artigos que conduziriam este estudo priorizamos
os que enfatizam o quadro interlocutivo, textos que por excelncia fa-
lam do quadro figurativo da enunciao. Dessa forma, selecionamos da
obra Problemas de Lingustica Geral I, os artigos, Estrutura das relaes
de pessoa no verbo (1946), A natureza dos pronomes (1956), Da subjeti-
vidade na linguagem (1958) e da obra Problemas de Lingustica Geral II,
o artigo O aparelho formal da enunciao (1970).
A seleo dos artigos citados possibilita entender conceitos signi-
ficativos da teoria que contribuiro para que possamos investigar com
quem o documento PCNs de Lngua Portuguesa do terceiro e quarto
ciclos dialoga, ou, de acordo com a teoria de Benveniste, investigar o tu
do referido texto.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
302
5 O QUADRO FIGURATIVO DA ENUNCIAO
O que em geral caracteriza a enunciao a acentuao da relao
discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginrio, individual ou
coletivo.
Esta caracterstica coloca necessariamente o que se pode denominar
o quadro figurativo da enunciao. Como forma de discurso, a enun-
ciao coloca duas figuras igualmente necessrias, uma origem, a
outra, fim da enunciao. a estrutura do dilogo. Duas figuras na
posio de parceiros so alternativamente protagonistas da enuncia-
o. Este quadro dado necessariamente com a definio de enunci-
ao. (BENVENISTE, 1989, p. 87)
Iniciamos nossa reflexo apresentando consideraes acerca do ar-
tigo O aparelho formal da enunciao, texto de 1970, buscando interpre-
t-lo a partir das relaes que ele estabelece com os textos anteriores.
Neste artigo, entendido como simultaneamente uma reflexo sn-
tese e um esboo fecundo para o desenvolvimento de pesquisas, que
retomaremos elementos que deixam em evidncia a enunciao. O texto
sintetiza e organiza as principais temticas desenvolvidas por Benve-
niste a respeito do que ele nomeia de o homem na lngua. Alm de
que partindo do aparelho formal que o locutor busca significar e sin-
gularizar o seu ato individual de apropriao da lngua, firmando a re-
ferncia no seu discurso, constituindo-se como sujeito ao mesmo tempo
que constitui o outro em seu dizer. A apropriao da lngua, neste for-
mato, depende de dois aspectos: a intersubjetividade, que est para a
linguagem, e a subjetividade, que est para a lngua. de uma relao
intersubjetiva que emerge a subjetividade.
Benveniste, no aparelho, distingue trs eixos para abordar a
enunciao: a realizao vocal da lngua, semantizao da lngua em
discurso, realizao individual da lngua e a definio no quadro formal
de sua realizao. Aqui daremos nfase ao terceiro eixo que se d por
um ato que implica eu-tu, o quadro figurativo, e tambm ele.
A abordagem, neste enfoque, consiste em definir a enunciao no
quadro formal de sua realizao, ou seja, na enunciao o prprio ato
deve ser considerado. Assim, o ato individual pelo qual se utiliza a ln-
gua introduz o locutor como parmetro nas condies de enunciao.
Antes da enunciao, a lngua no seno possibilidade de lngua
(1989, p. 83). Aqui entendemos que a lngua passa a fazer parte deste
quadro em sua totalidade.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
303
Desta forma, no que se refere enunciao, define-a como o colo-
car em funcionamento a lngua por um ato individual de utilizao, ou se-
ja, o prprio ato de produzir um enunciado e no o texto do enunciado
que objeto de anlise. Assim, a lngua introduz o locutor como parme-
tro para a enunciao. Este se apropria do aparelho formal da lngua e
enuncia sua posio de locutor e quando se declarar locutor, automati-
camente instala o outro, o alocutrio. Desse modo, ao proferir eu, elege o
seu interlocutor na pessoa do tu. Este dado relevante neste estudo por
dois motivos: o primeiro pela constatao de que o alocutrio no pode
ser pensado fora de uma situao proposta a partir do eu, porque eu
constitutivo do tu, ou seja, o tu s existe no eu. O segundo de que na
enunciao o locutor implica necessariamente um outro, ou seja, um tu.
Neste segundo eixo possvel inferir que Benveniste previu a possibili-
dade de um alocutrio interior ao discurso e a existncia de diferentes
graus de presena desse tu em enunciaes diversas. Benveniste deixa
pistas de que a enunciao pode postular um alocutrio implicitamente,
no importando o grau de presena atribudo a ele. Resumindo: a pri-
meira condio da enunciao a existncia de um alocutrio.
Ento, o funcionamento da lngua est atrelado ao locutor, o qual
se constitui como sujeito e coloca o outro na posio de alocutrio; desta
forma, a enunciao explicita ou implicitamente uma alocuo.
Nos estudos que faz dos pronomes e da pessoa verbal, principal-
mente nos textos Estrutura das relaes de pessoa no verbo e A natureza
dos pronomes, Benveniste diferencia os pronomes cuja referncia de-
pende da enunciao (eu-tu) daqueles cuja referncia est relacionada
sintaxe da lngua (os do paradigma do ele). A partir dessa diferencia-
o ope eu-tu a ele e funda a dicotomia pessoa/no-pessoa.
Quando opomos uma pessoa outra podemos entender a trade
eu-tu-ele e possvel perceber o que as distingue. O primeiro fato que
deve ser considerado de que no h homogeneidade entre elas. Eu o
locutor, ao se apropriar da lngua enuncia-se com um tu; tu sendo aque-
le a quem o eu se dirige no momento em que se enuncia, tomando a pa-
lavra passa a ser eu, o qual se dirige a um tu, aquele que na situao an-
terior era eu. Quanto ao ele, o no-pessoa, no participa da instncia
discursiva. Para o locutor, a enunciao a necessidade de referir pelo
discurso e, para o outro, a possibilidade de correferir, pois, como resu-
me Benveniste, o quadro da enunciao a lngua como um todo.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
304
Neste momento possvel entender o processo de referenciao
como parte da enunciao, ou seja, mobilizar a lngua e dela se apropriar,
o locutor estabelece uma relao com o mundo via discurso, e o alocu-
trio correfere no dilogo, nica realidade lingustica
4
.
Aqui uma observao se impe: a separao existente entre eu-tu
e ele, a distino entre pessoa e no-pessoa. Parece ser claro ao colocar
que tudo que est fora da pessoa restrita, ou seja, fora da ordem do eu-
tu recebe como predicado uma forma verbal de terceira pessoa, no
podendo receber nenhuma outra. Ento ele aquele que est ausente,
comporta apenas uma indicao do enunciado sobre algum ou alguma
coisa; pode ser uma infinidade de sujeitos ou nenhum; no designa es-
pecificamente nada nem ningum e possui como marca a ausncia que
qualifica eu-tu.
A categoria de pessoa (eu-tu) um conceito que se ope catego-
ria de no pessoa (ele). Quando se instala a subjetividade, surge a noo
de pessoa, estabelecendo relaes de organizao e de significao. As-
sim, as trs pessoas do discurso no tm o mesmo estatuto, isso porque
a primeira pessoa apresenta uma situao especial na conjugao, o
que a difere das demais. Em primeiro lugar, enquanto eu e tu so sem-
pre os participantes da comunicao, o ele designa qualquer ser ou no
designa ser nenhum. Com efeito, usa-se apenas a terceira pessoa, quan-
do a pessoa no determinada, notadamente, na chamada expresso
impessoal, em que um processo relatado como puro fenmeno cuja
produo no est ligada a qualquer agente ou causa. Depois, eu e tu
so reversveis na situao de enunciao, isso porque quando dirijo a
palavra a algum, ele o tu; quando ele me responde, ele passa a ser eu
e eu torno-me tu. No entanto, essa reversibilidade no possvel com o
ele. A terceira pessoa a nica com que qualquer coisa predicada ver-
balmente, uma vez que ele no implica nenhuma pessoa, pode repre-
sentar qualquer sujeito ou nenhum sujeito.
Fica claro que eu e tu apresentam em seu paradigma lingustico
propriedades que fazem com que, a cada vez que sejam pronunciados,
remetam a si mesmos, isto , ao mesmo sujeito. J ele tem a capacidade
de remeter a cada enunciado, a sujeitos gramaticais diferentes. Conside-
rando isso, podemos afirmar que a categoria de pessoa adquire novo
estatuto, pois no basta defini-la em termos de presena ou ausncia do
trao da pessoalidade, mas em termos de subjetividade, porque a dife-
4
Construo baseada nos apontamentos feitos por FLORES, V. do N.; FINATTO, M. J. B.,
2009, p. 118.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
305
rena entre a pessoa e a no pessoa depende do tipo de referncia que
estabelecem. Assim, o par eu-tu pertence ao nvel pragmtico da lin-
guagem e, definido na prpria instncia de discurso, refere-se a uma
realidade diferente a cada vez que enunciado.
A oposio entre eu, tu, ele decorre de um ato em que eu diz eu, e a
capacidade de subjetividade, que se instala por meio deste ato, a capa-
cidade de um locutor para se propor como sujeito (BENVENISTE, 1995,
p. 286). A subjetividade como propriedade fundamental da linguagem.
na definio do quadro formal que Benveniste faz aparecer, na
prpria estrutura da lngua, a presena constante de elementos do discur-
so: o sujeito e a referncia. Assim, a enunciao, enquanto realizao
individual, como um processo em que o locutor se apropria do aparelho
formal da lngua e, por meio de ndices especficos e procedimentos
acessrios, configura, no prprio ato, um aparelho formal de enuncia-
o, assinalando sua presena no seu prprio dizer, constituindo-se
como sujeito.
A subjetividade de que trata Benveniste uma propriedade da
lngua e pelo aparato lingustico que ela emerge. Essa assero fun-
damenta-se no sistema porque este que contm o essencial para a sua
constituio eu que se enuncia institui um tu e por ele reconhecido
como tal. O conceito de intersubjetividade comporta o de subjetividade,
porque a emergncia desta passa necessariamente pelo reconhecimen-
to do outro. Os pronomes pessoais so essenciais para a revelao da
subjetividade na linguagem, porque por meio da dupla referncia ins-
taurada pelas formas pessoais que a lngua encontra as condies de
seu emprego.
No momento em que desenha o aparelho formal afirma que o ato
individual de apropriao da lngua introduz aquele que fala em sua
fala. Esse um dado constitutivo da enunciao, ou seja, a presena do
locutor em sua enunciao cria um centro de referncia interno a partir
do qual se criam as demais relaes.
6 A ANLISE DO TEXTO SOB O OLHAR DA ENUNCIAO
O texto de anlise a carta de apresentao dos PCNs, e direcio-
nada ao professor, assinada pelo Ministro da Educao e do Desporto,
Paulo Renato Souza. A escolha justifica-se pelo fato de que nele est fo-
calizado o possvel leitor do texto, ou seja, h evidncias no texto que
nos permitem identificar o interlocutor pretendido pelo documento.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
306
Dividiremos nossa anlise em trs momentos: a) os recursos lin-
gusticos que permitem ver as marcas da enunciao, b) a situao es-
pao-temporal com relao enunciao que produz o enunciado e c) a
categoria de pessoa como centro de referncia do discurso.
AO PROFESSOR
O papel fundamental da educao no desenvolvimento das pessoas e das 1
sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milnio e aponta para a 2
necessidade de se construir uma escola voltada para a formao de cidados. 3
Vivemos numa era marcada pela competio e pela excelncia, em que pro- 4
gressos cientficos e avanos tecnolgicos definem exigncias novas para os 5
jovens que ingressaro no mundo do trabalho. Tal demanda impe uma revi- 6
so dos currculos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos 7
professores e especialistas em educao do nosso pas. 8
Assim, com imensa satisfao que entregamos aos professores das 9
sries finais do ensino fundamental os Parmetros Curriculares Nacionais, 10
com a inteno de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva 11
escolas, pais, governos e sociedades e d origem a uma transformao positi- 12
va no sistema educativo brasileiro. 13
Os Parmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, 14
de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, polticas existentes no 15
pas e, de outro, considerar a necessidade de construir referncias nacionais 16
comuns ao processo educativo em todas as regies brasileiras. Com isso, pre- 17
tende-se criar condies, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter 18
acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 19
como necessrios ao exerccio da cidadania. 20
Os documentos apresentados so o resultado de um longo trabalho que 21
contou com a participao de muitos educadores brasileiros e tm a marca de 22
suas experincias e de seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos 23
no contexto das discusses pedaggicas atuais. Inicialmente foram elaborados 24
documentos, em verses preliminares, para serem analisados e debatidos por 25
professores que atuam em diferentes graus de ensino, por especialistas da edu- 26
cao e de outras reas, alm de instituies governamentais e no governa- 27
mentais. As crticas e sugestes apresentadas contriburam para a elaborao da 28
atual verso, que dever ser revista periodicamente, com base no acompanha- 29
mento e na avaliao de sua implementao. 30
Esperamos que os Parmetros sirvam de apoio s discusses e ao de- 31
senvolvimento do projeto educativo de sua escola, reflexo sobre a prtica 32
pedaggica, ao planejamento de suas aulas, anlise e seleo de materiais 33
didticos de recursos tecnolgicos e, em especial, que possam contribuir para 34
sua formao e atualizao profissional. 35
Paulo Renato Souza
Ministro da Educao e do Desporto
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
307
6.1 A ANLISE ENUNCIATIVA DO TEXTO AO PROFESSOR
Benveniste, no texto Da subjetividade na linguagem (1995, p.
284), assinala que a linguagem constitutiva do homem, pois por
meio dela que o ser se revela e constitui-se na relao com o outro.
Neste mesmo texto destaca ego que diz ego (1995, p. 286). Con-
soante com as ideias de Benveniste, nosso primeiro ponto de reflexo
reside no conceito de ego e a associao ao homem, o qual se apro-
pria do aparelho formal da lngua e manifesta-se. Arriscamo-nos a
mencionar que a primeira ocorrncia do termo ego pode remeter ao
locutor e na segunda ocorrncia, aos ndices e marcas lingusticas que
subjazem no texto ou do texto
5
.
O texto Ao professor j no ttulo chama ateno ao direcionar o
documento ao seu possvel leitor, ao mesmo tempo que o locutor re-
gistra pontualmente a inteno de divulgar o documento comunida-
de escolar e, mais especificamente, aos professores. A partir da relao
intersubjetiva entre o locutor e o possvel interlocutor depreende-se
que os dois se conhecem, comungam das mesmas opinies. Ainda, o
locutor, inscrevendo o alocutrio de forma clara no texto, aproxima-se
dele e o convida a aderir a sua tese.
Na primeira linha do texto possvel perceber a opinio do locu-
tor quando destaca que o papel fundamental da educao no novo mi-
lnio sugere a necessidade de que a mesma seja mais prxima da socie-
dade em que est inserida. Neste mesmo formato, assinala ateno
para um novo quadro, marcado pela competio e pela excelncia,
alm do cenrio desafiador em que o avano tecnolgico define novos
modos de aprender, fato que desafia a escola para preparar tambm os
jovens para o mundo do trabalho. Diante deste quadro h urgncia na
(re)definio da funo da escola, na preparao e formao dos pro-
fessores, alm de um espao para auxiliar na construo do conheci-
mento do jovem cidado. O locutor, neste momento, apresenta a reali-
dade delineada pela tica dele.
O locutor, na sequncia do texto, registra a satisfao em entre-
gar aos interlocutores professores os PCNs/LP. Ao materializar es-
te ato ocupa funo de representante oficial da educao no Brasil, por
ser Ministro da Educao. Em relao a este quadro, questionamos:
5
Esta ideia tambm apresentada na tese de Vera Mello.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
308
Que imagem o locutor tem do professor? Um profissional atualizado,
um professor em formao, um professor que no conhece os avanos
tecnolgicos, desatualizado? Ento, qual a referncia que o locutor
estabelece? Quem o professor que o locutor imagina estar recebendo
o documento? Ou, quem o professor a quem o documento destinado?
Quando o locutor toma a palavra e se marca discursivamente
como eu, o interlocutor tu, implcito no texto, parece identificar-se
com as ideias projetadas no documento. Considerando que as proprie-
dades que definem a enunciao so a irrepetibilidade e a singulari-
dade, no momento em que o locutor (eu) se apropria do aparelho for-
mal da lngua e instaura o interlocutor (tu), a referncia constri-se
apenas no discurso. Desta forma, quando o eu se marca no discurso
notifica o tu e neste ato instituem a situao de enunciao, a qual, no
entendimento de Benveniste (1989, p. 84) apresenta-se como um jo-
go de formas especficas cuja funo de colocar o locutor em relao
constante e necessria com sua enunciao.
Na continuidade do texto, deixa evidente que a situao da edu-
cao no est em um bom momento, neste momento parece marcar
interlocutivamente o professor. J no terceiro pargrafo explica que a
proposta do documento parametrizador procura contemplar a diver-
sidade (respeitar diversidades regionais linha 15), mas ao mesmo
tempo sublinha que os PCNs se propem a implantar uma referncia
comum (necessidade de construir referncias nacionais comuns
linha 17). Aqui parece haver um paradoxo. Como ser um documento
que de um lado respeita a diversidade e de outro tenta engessar o en-
sino em uma base comum?
No quarto pargrafo, menciona que o documento resultado de
um amplo trabalho e que foi idealizado considerando as experincias,
permeado por discusses pedaggicas. Questionamos: como isso foi
feito? Os professores que esto na escola foram ouvidos? Depois, na
sequncia, explica que os PCNs foram construdos em verses preli-
minares e posteriormente analisadas por professores que atuam em
diferentes graus de ensino. Neste sentido interrogamos: o documento
foi construdo para auxiliar a escola e os professores do ensino fun-
damental, por que foi analisado por diferentes graus de ensino e no
pelo pblico a quem supostamente seria dirigido? Considerando que,
no mbito enunciativo, a cada vez que o locutor agencia palavras, es-
tas comportam forma e sentido diferentes, no momento em que o lo-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
309
cutor destaca que o documento foi elaborado em um amplo processo
interrogamos: a referncia pode distanciar-se do sentido?
pontual destacar que o documento parece ter sido elaborado
com boa inteno, mas est longe da escola, longe do professor, distante
das prticas escolares e parece no valorizar os profissionais que atuam
na escola, isso porque a eles est sendo entregue o documento, o que
nos autoriza a pensar que os alocutrios a ele destinados no tiveram
oportunidade de registrar suas experincias, perspectivas, nem mes-
mo contribuir com as teorizaes ali tecidas. O locutor, ainda registra
que o documento objetiva contribuir para a atualizao dos professores.
Indagamos: como, se muitos no conhecem a teoria ou as teorias que o
permeia? Convm sublinhar que o referencial terico que embasa o
texto s apresentado no final do documento, no h referncia direta, o
que dificulta consideravelmente a leitura e interpretao por algum
que no tenha o conhecimento necessrio.
Ainda no quarto pargrafo destaca que a verso do documento
aceita crticas e sugestes e que a qualquer tempo a verso apresentada
poderia ser revista, mas na prtica isso nunca aconteceu.
O autor do texto se apropria da lngua e se enuncia, instaurando
o tu/leitor do documento. Em outras palavras, quando o Ministro Paulo
Renato de Souza se apropria da lngua e se enuncia, concretiza o ato
de enunciao. Ainda, ocorre a incorporao da fala do outro no do-
cumento, ou seja, h evidncia de que o contedo ali desenvolvido faz
parte de informao colhida em pesquisa e que, a fim de garantir o ob-
jetivo do texto, est sendo apresentada pelo eu equipe que organizou
o documento e que instaura um tu/leitor que dever, no mnimo,
conhecer um pouco das noes tericas ali implicadas.
nesse momento que a lngua se realiza e se atualiza em uma
instncia de discurso, instaurando o locutor e o alocutrio/leitor. Essa
realizao e essa atualizao so sempre novas e nicas, na medida
em que uma enunciao sempre singular e irrepetvel. De acordo
com a teoria convocada, em ambos os textos o locutor pode at apro-
priar-se da lngua novamente e escrever outros textos como esses,
mas jamais teremos uma mesma enunciao e jamais eles sero o
mesmo. essa apropriao da lngua pelo locutor que instaura o tu e
constri a referncia pelo discurso.
Por meio das formas especficas, ou seja, dos ndices de pessoa
(eu/tu) possvel perceber ocorrncias de indicadores de subjetivi-
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
310
dade, que marcam o locutor: Vivemos (linha 4), entregamos (linha
9), Esperamos (linha 32), nosso (linha 8), nossos (linha 19). Nes-
ses fragmentos observamos os verbos com a desinncia de primeira
pessoa do plural e o uso do pronome possessivo de primeira pessoa
do plural que se marca no texto, mostrando ser o representante de
uma coletividade, marcando linguisticamente sua concordncia com
aquele a quem se dirige. A identificao das formas verbais so signifi-
cativas para o entendimento da intersubjetividade no corpus, isso
porque as vrias formas, independentemente de estarem no passado
ou no futuro, remetem instncia do discurso.
Na enunciao, torna-se essencial particularizar o olhar para as
caractersticas de cada pessoa: eu, o ser subjetivo, que instaura um tu,
este no subjetivo; ambos em oposio a ele, que no corresponde
marca de pessoa.
Assim, a forma verbal pretende-se (linha 18) sublinha a inten-
o do governo em criar condies para que o jovem brasileiro tenha
acesso ao conhecimento. O locutor, neste caso a voz oficial, entende
que o conhecimento o que auxiliar o jovem no exerccio da cidada-
nia, (re)afirmando ou justificando a necessidade de nova proposta
educacional no cenrio brasileiro. Ainda, a construo verbal marcada
no futuro cria certa possibilidade em relao ao momento da enuncia-
o, ou seja, delineia uma vontade do presente em relao ao que pode
ser realizvel. Neste momento o locutor projeta a confiana no pro-
grama que est sendo entregue ao professor. Na anlise dos recortes
apontados, verificamos um eu direcionado a seus possveis leitores
professores do ensino fundamental , por isso, se enunciando, ao
mesmo tempo que destaca a importncia do texto oficial, a entrega
dos PCNs/LP e o processo de elaborao do documento. Tais expres-
ses marcam certo distanciamento do documento em relao ao dizer
do autor do texto, em uma espcie de construo que tenta, tanto
quanto possvel, delimitar bem os limites do que faz parte da enuncia-
o de um e de outro.
possvel destacar que as consideraes aqui delineadas nos
remetem a vrias interrogaes, tais como: quem o locutor da pri-
meira informao? Quem est autorizado a afirmar este dado? Na se-
quncia temos o pronome se (pretende-se) que parecer afastar o locu-
tor da afirmao apontada, ou seja, h um locutor marcado no texto,
instituindo-se como eu que dialoga com um alocutrio marcado no
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
311
texto como sendo exterior ao domnio do documento. Ento, a partir
do momento em que o locutor se apropria da lngua e diz, convoca um
tu para acompanhar esse raciocnio de tentar entender como ele (o
eu). O locutor instaura um alocutrio com o qual deseja dividir a res-
ponsabilidade, o sucesso e at mesmo a eficcia do documento. Enten-
dendo o cenrio enunciativo em que o locutor do texto convoca o lei-
tor para vivenciar com ele o momento histrico de divulgao do do-
cumento, possvel notar a construo da categoria de pessoa.
A satisfao do governo manifestada nas palavras do ministro,
em oferecer ao professor um documento cuja tarefa auxiliar a ativi-
dade pedaggica da escola, pode ser observada pelo uso da expresso
imensa satisfao (linha 9), a qual deixa este sentimento evidente. J
na construo foram elaborados (linha 14), possvel perceber que
o locutor situa o possvel interlocutor acerca do ato concludo. No
momento em que o locutor toma a palavra, ele divide com o interlocu-
tor a situao de discurso (aqui-agora), o mesmo acontece com o tem-
po lingustico do locutor que assumido pelo alocutrio e com o espa-
o, adotado por ambos.
Interessa observar que, at o momento, tudo o que se apresenta
atribudo no ao texto, mas ao autor do texto/documento. Os dados
aqui apresentados se encarregaram de mostrar que a escrita instaura
condies para uma dupla enunciao aquela do autor do texto e
aquela das demais enunciaes que so convocadas a se tornar pre-
sentes.
No caso do texto analisado, h marca de enunciao que se con-
figura em condies distintas, ou seja, h o eu, mas no h evidncias
do tu. O quadro figurativo no se completa, falta o tu, o alocutrio.
Como destaca Benveniste (1995, p. 284), a linguagem em ao se
d necessariamente entre parceiros, pois eu no emprego eu a no
ser dirigindo-me a algum, que ser na minha alocuo um tu. Por-
tanto, essa relao leituraescritaleitura configura uma das grandes
questes a serem discutidas quando o que est em jogo esse tipo de
enunciao.
Cabe ressaltar que ocorrncias como sua escola (linha 33),
suas aulas (linha 34) e sua formao (linha 36), apontam para o
possvel alocutrio do texto, isso porque tm traos que denotam cer-
ta proximidade do locutor com o alocutrio. Mas, ao mesmo tempo
que a ideia deste tu ganha forma ou torna-se mais concreto, h um
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
312
movimento que desconstri esta presena o que sugere que, de acordo
com nossa hiptese, este material no se estabelece na escola e nova-
mente questionamos: a que escola o locutor se refere? A que aulas e
formao ele se reporta? H evidencia tambm de que o locutor muda
um pouco a forma como estabelece o dilogo com o possvel interlocu-
tor, o tom utilizado parece convidar o provvel alocutrio para conhe-
cer a proposta ali abarcada, apropriando-se dela.
No texto h, tambm, o sentimento do locutor de que o primeiro
passo para contribuir com a tarefa da escola foi dado, houve um em-
penho do governo para apresentar sociedade, e em especial escola,
nova proposta educacional. H evidncias de um locutor cheio de ex-
pectativas e que, ao colocar a lngua em funcionamento, revela-se sa-
tisfeito e motivado, ao mesmo tempo que deixa transparecer a neces-
sidade de que o alocutrio, neste caso, o professor entregamos aos
professores (linha 9), a tarefa de materializar a proposta contida no
documento. O emprego do termo professores deixa claro a quem o tex-
to est destinado, ou seja, possvel entender que um eu exige de um
tu a coparticipao para a eficcia da proposta. Qual o perfil deste
professor? Quem o tu que o texto procura? possvel delinear o per-
fil deste tu que o texto convoca? Ainda, este tu pode ser entendido co-
mo o professor que atua na escola?
O texto deixa evidente um leitor construdo pela imaginao do
rgo governamental, um leitor representado, mas que jamais ser
nico, pois ter mil faces e identidades. Ento, qual a imagem de pro-
fessor posta no documento? Para quem est sendo endereada, de fa-
to, a carta de apresentao do texto parametrizador? Com quem, de
fato, o ministro dialoga?
A cada vez que o locutor mobiliza a lngua sempre um ato novo,
porque o eu e o tu so novos, so engendrados de novo, a cada enuncia-
o designam algo novo. Fica evidente que h uma espcie de convite
para que o tu aceite o teor do documento e seja parceiro da proposta
encaminhada pelo locutor, que vai marcando sua subjetividade no texto.
7 CONSIDERAES FINAIS
Registramos que a anlise aqui apresentada a primeira tenta-
tiva de aproximar o texto PCNs/LP com seu interlocutor, tambm a
primeira vez que a teoria de Benveniste mobilizada para analisar um
documento oficial.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
313
Assim, considerando que o sentido do texto se constri a cada
enunciao e que em cada anlise ocorre o quadro formal de enuncia-
o, que se realiza e se faz nico a cada discurso, assinalamos a fragili-
dade desta apreciao. Isso traz outra evidncia, a qual mostra que a
construo de um sentido sempre nico, que no est naquela ou nou-
tra expresso, no est pronto, no est l, esperando para ser desco-
berto, ele se constri na relao entre as expresses que compem o
texto.
Portanto, este trabalho apresenta uma reflexo inicial e, por isso,
a anlise apresentada ainda um esboo que se altera a cada novo
olhar. Salientamos, tambm, que o objetivo deste trabalho refletir
como os elementos que compem o quadro formal da enunciao po-
dem contribuir na leitura de textos oficiais. Portanto, acreditamos que
um maior nmero de anlises e um melhor e maior aprofundamento
nos conceitos que se apresentam na Teoria da Enunciao de Benve-
niste possibilitaro que se chegue a resultados mais conclusivos e
mais significativos. Fica aqui uma provisria tentativa de ver como o
sentido se constri no discurso, a partir da apropriao do aparelho
formal da lngua por um locutor, ou melhor, por um homem que est
na lngua.
REFERNCIAS
BENVENISTE, mile. Problemas de Lingustica Geral I. Campinas: Pontes, 1995.
BENVENISTE, mile. Problemas de Lingustica Geral II. Campinas: Pontes, 1989.
CONFERNCIA Mundial de Educao para Todos. Declarao Mundial de Educa-
o para Todos. Plano de Ao para Satisfazer as Necessidades Bsicas de Apren-
dizagem. Braslia, DF: UNICEF, 1990.
FLORES, Valdir et al. Dicionrio de Lingustica da Enunciao. So Paulo: Contex-
to, 2009.
FLORES, Valdir. O sentido na linguagem. Porto Alegre: EDIPUC, 2012.
FLORES, Valdir Introduo lingustica da enunciao. So Paulo: Contexto,
2005.
MARINHO, Marildes. A oficializao de novas concepes para o ensino de portu-
gus no Brasil. Tese. So Paulo: Unicamp, 2001.
MARINHO, Marildes. Leituras do Professor. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
MEC/SEF. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino
Fundamental: Lngua Portuguesa. Braslia: MEC, 1998.
MEC/SEF. Introduo aos PCNs. Braslia: MEC, 1998.
MEC/SEF. Educao para todos: avaliao da dcada. Braslia: MEC, 2000.
Mrcia Elisa Vanzin Boabaid
314
MELLO, Vera. A sintagmatizao semantizao: uma proposta de anlise de
texto. Tese. UFRGS, 2012.
TEIXEIRA, Beatriz de Basto. Parmetros Curriculares Nacionais, Plano Nacional
de Educao e a Autonomia da escola. Disponvel em: <http://www.anped.org.
br/reunioes/23/textos/0503t.PDF>. Acesso em: 6 jun. 2013.
TORRES, Rosa Maria. Educao para Todos: a tarefa por fazer. Porto Alegre: Ar-
tmed, 2001.
TEXTOS PODEM FICAR PEQUENOS:
USOS DO RESUMO COMO INSTRUMENTO
EM TRS DIMENSES
Marlia Marques Lopes
1
Tendo-se em mos uma tese de doutorado na qual nos fazemos
perguntas de cunho cognitivo, necessrio realizar alguns testes para
comprovar ou rechaar certas premissas. O que se pretende neste ar-
tigo , com mais da metade do caminho andado e boa parte das refle-
xes feitas, apresentar algumas destas de modo a salientar o carter
multifuncional do resumo, que envolve estratgias distintas, pratica-
mente, ao mesmo tempo leitura, sntese e escrita. Este artigo surge
de um trabalho ainda em andamento, que apresenta questes em
aberto que podero ser mais bem definidas durante a ltima etapa da
tese, e tambm aps a realizao dos testes a que se prope.
Com inspirao em texto de Spinillo (2009) e em seu ttulo, bus-
camos tecer consideraes a respeito do aprendizado do resumo como
ferramenta importante na busca de reflexes do professor e do aluno
a respeito dos meandros do texto e das estratgias para l-lo e rees-
crev-lo de outra forma. Consideraes essas que reforam e susten-
tam o que est para vir as produes dos mais de trinta sujeitos que
pretendemos investigar por intermdio de pr- e ps-testes.
A sumarizao acontece de forma inconsciente e gradual durante
a leitura, proporcionando uma imagem mental do texto. Quanto mais
lemos para resumir e quanto mais resumimos, a tendncia cada vez
usarmos menos palavras at chegarmos a uma estrutura, que na reali-
dade abstrata. Conforme Eco (2007), procuramos formar uma estru-
tura mnima por meio de operaes simplificadoras at chegarmos a
1
Doutoranda em Letras Lingustica pela FALE-PUCRS, Porto Alegre.
E-mail: liamarilopes@gmail.com
Marlia Marques Lopes
316
um mnimo que possa englobar o essencial uma frase, uma palavra.
O autor acrescenta que essa simplificao nasce de um ponto de vista
(idem, p. 36), e entendemos que isso que nos d a incerteza de es-
tarmos elaborando um resumo fiel ao original, pois o que relevante
para um o autor pode no s-lo para outro o leitor-resumidor.
Deixando de lado questes filosficas acerca do que tem rele-
vncia ou no na anlise de um texto, embora reconheamos sua im-
portncia, e partindo para o lado prtico do assunto, vejamos esta de-
finio de resumo segundo Dole et al. (1991): o resumo uma ativida-
de sinttica em que importante, mas no suficiente, estabelecer o que
fundamental. O imprescindvel deve estar acompanhado de uma toma-
da de posio de quem resume, pois este deve assumir o lugar do escri-
tor do texto original seja este uma narrativa, uma argumentao ou
mesmo uma descrio sem manifestar nada alm do que foi escrito
por outrem, e obedecendo ao seu estilo. O leitor que resume pode se
assemelhar a um ghost writer, que deve ser invisvel aos olhos de quem
vai ler sua produo escrita, e se passar pelo escritor j conhecido.
A habilidade em sintetizar ou sumarizar um texto exige que o
leitor peneire grandes unidades de sentido, distinga ideias importan-
tes das irrelevantes, sintetize-as e crie um novo texto que represente o
original, segundo critrios substantivos. Esse novo texto deve ade-
quar-se a uma nova situao. O leitor que se envolve em atividades de
reescrita e resumo, na realidade tem trs tarefas a cumprir (ALVES,
2010): seleo de ideias centrais (estratgia de leitura), organizao
de um novo texto (estratgia de escrita) de acordo com o gnero re-
sumo (estratgia de sntese). E isto no pouco, pois so atividades
que surgem graas a muito esforo comeando pela alfabetizao e
se constroem e desenvolvem ao longo do percurso escolar, e que de-
vem ter, cada uma, seu papel e lugar no processo de escrita como um
todo.
O resumo tem sido visto como uma consequncia natural da leitu-
ra, e solicitado ao aluno sempre que o professor pretende verificar
sua compreenso, sem maiores detalhamentos sobre sua elaborao
simplesmente, ele far a reescrita sinttica de um texto, de preferncia
utilizando as prprias palavras. E nesse momento que se percebe que
nunca se tratou do assunto, tendo-se passado ao largo desse tipo de
produo como se, por ela estar vinculada a um texto de verdade,
original, sua existncia pudesse ser considerada parasitria e indigna
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
317
de um olhar mais atento dos educadores. Mas o resumo, por estar vin-
culado a um escrito mais extenso e completo, de determinado gnero
ou tipo textual, pode ser um instrumento em trs dimenses desen-
volve a leitura comeando pelo texto-fonte, enriquece a escrita e se
presta como instrumento de aprendizado.
O resumo pode ser uma ao implicada na leitura, ou seja, que se
constri no momento desta veja-se a sntese, que ocorre mentalmen-
te durante a leitura ou um gnero textual til a diversas prticas dis-
cursivas. Spinillo (2009) enfatiza duas de suas provavelmente muitas
dimenses: pode ser ele mesmo objeto de aprendizagem, quando se
aprende a resumir; ou ser um instrumento de aprendizagem, quando
utilizado para aprender. Brando e Spinillo (2001, p. 59) afirmam
que,
Dependendo da idade, as relaes entre compreenso e produo
se alteram. Entre as crianas mais jovens, mais fcil produzir um
texto original do que expressar a compreenso atravs da reprodu-
o de um texto ouvido. Com a idade, essa relao se inverte, sendo
mais fcil expressar a compreenso atravs da reproduo do que
produzir um texto original.
Tomando a reproduo de um texto como evidncia de compre-
enso, e reforando a citao acima, as autoras analisaram crianas
entre quatro e oito anos de idade em tarefas de produo e compreen-
so. Concluram que as menores lograram produzir um texto original
a partir de figuras, e no foram bem sucedidas em expressar sua com-
preenso no reconto depois da leitura de um texto-fonte. J as crian-
as maiores tiveram mais xito nesta ltima tarefa do que as de menos
idade. O que pode explicar isso o fato de as crianas maiores terem
mais recursos lingusticos para poder reproduzir uma narrativa, e isso
se deve escolarizao.
Apesar de algumas crianas apresentarem facilidade de manejo
de textos os mais diversos, isso se observa com pouca frequncia, o
que torna evidente a necessidade de um trabalho diretivo e sistemti-
co do professor que envolva a conscientizao do aluno. Colomer e
Camps (2002) so favorveis a intervenes de auxlio compreenso
de textos, embora a educao tenha por base a criao de contextos
reais de leitura. Devem-se prever situaes em que sero necessrios
trabalhos especficos para o aluno leitor entender o significado de um
Marlia Marques Lopes
318
texto. Segundo as autoras, essas intervenes, que podem inclusive ter
carter preventivo,
[...] ajudam os alunos a desenvolver melhor e mais rapidamente as
capacidades e habilidades envolvidas no ato da leitura. A parte mais
importante dessas intervenes deve ser voltada a facilitar o acesso
compreenso global do texto escrito. [...] O planejamento de ativi-
dades especficas de reflexo e sistematizao sobre a leitura pare-
ce conveniente, pois evita que o leque de problemas leitores a re-
solver dependa exclusivamente do acaso de seu aparecimento nos
textos lidos em aula e porque, alm disso, permite ajudar os alunos
a ter conscincia da maneira de operar e dos conhecimentos adqui-
ridos, o que se reverte em uma possibilidade maior de domnio e
automatizao posterior. (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 100)
A mencionada conscientizao do aluno diz respeito conscin-
cia lingustica, que, segundo Tunmer e Herriman (1984), pode ser di-
vidida em fonolgica, lexical, sinttica e pragmtica. A conscincia fo-
nolgica refere-se discriminao das unidades ortogrficas do alfa-
beto, comeando pelas unidades fonolgicas. Diz respeito percepo
da criana de que pode segmentar a fala em palavras, fonemas e sla-
bas, que podem por sua vez ser modificadas; desde cedo, ela desen-
volve gradualmente uma conscincia que lhe proporciona refletir so-
bre a leitura e a escrita durante sua aquisio. A conscincia lexical
refere-se conscincia da palavra como unidade de linguagem, como
rtulo fonolgico arbitrrio, e ainda ao entendimento do termo pala-
vra como entidade lingustica; tambm indica a habilidade para seg-
mentar a linguagem oral em palavras de funo semntica ou relacio-
nal. A conscincia sinttica trata da capacidade de reflexo sobre a es-
trutura gramatical interna das oraes, quando a criana passa a jul-
gar sentenas quanto sua aceitabilidade e a analisar sinnimos e
ambiguidades. Segundo Gombert (2003), essas capacidades so cha-
madas de metalingusticas, e resultam de aprendizagens explcitas, de
mbito escolar.
Alm dos tipos de conscincia lingustica propostos por Tunmer
e Harriman (1984), esse autor (GOMBERT, 1992) prope a conscincia
textual, ou metatextual, que envolve operaes metatextuais no con-
trole deliberado, compreenso e produo textual, iniciando-se esta
ltima na ordenao de frases em unidades lingusticas mais amplas.
Essa conscincia tem como foco a estrutura e organizao textual de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
319
gneros distintos, enfim, a anlise do texto por meio de um monitora-
mento intencional. Essa conscincia vlida no somente para quem
escreve textos, mas para quem l o planejamento do que escrever,
bem como a predisposio do leitor podem ser determinantes nas
respectivas tarefas. H um conjunto de comportamentos que contro-
lam o processamento do texto, quer em sentido formal quer no das
representaes no estritamente lingusticas. Portanto, difcil sepa-
rar o que de natureza metalingustica do que no o , mesmo pos-
suindo natureza metacognitiva. Essa conscincia precisa ser abordada
em sala de aula de maneira a se estimular atitudes reflexivas perante
um texto, seja qual for seu gnero e tipo. As tarefas analticas contri-
buem na formao das funes metacognitivas e metalingusticas do
sujeito, pois a reflexo tem como foco tanto o texto em si como o nvel
de compreenso alcanado pelo leitor. Assim, a compreenso est in-
trinsecamente relacionada construo de significado e observao
dos aspectos formais de um escrito a forma como estes se encami-
nham pode determinar a construo de sentido pelo leitor, assim co-
mo a maneira de este compreender pode ou suprir falhas na escrita de
um texto ou prejudicar seu entendimento.
Gombert (1992), ao propor a conscincia textual, enumera trs
aspectos importantes que dela fazem parte coerncia, coeso e estru-
tura textual responsveis pela compreenso do leitor. importante
mencionar que esses mesmos aspectos no so tomados somente con-
siderando-se a leitura, mas devem ser igualmente levados em conta na
produo de qualquer texto, oral ou escrito. Em relao coerncia, o
autor ressalta a importncia de se estabelecer o limite entre a consci-
ncia da situao extralingustica e o processamento geral do texto,
nos aspectos lingusticos conceituais (idem, p. 124, traduo nossa).
Por se mostrarem relacionadas, e por haver divergncias no seu tra-
tamento por diversos autores, coerncia e coeso so, por vezes,
abordadas simultaneamente. Segundo Gombert, teoricamente fcil a
distino entre esses dois aspectos, e a dificuldade est em se verificar
at onde cada uma est presente no processamento da leitura. Tal dis-
tino pertinente no sentido de que se trata, de um lado, de aspectos
essencialmente semnticos (coerncia), e de outro, de aspectos essen-
cialmente morfossintticos (coeso). Dessa maneira, torna-se vivel o
estudo tanto de uma como de outra. O autor acrescenta ainda a estru-
tura textual, que representa o impacto da organizao geral do texto
sobre o monitoramento da leitura. As inferncias tm papel de desta-
Marlia Marques Lopes
320
que no processo de compreenso leitora, situando-se no mbito da
coerncia, de acordo com esse autor.
Como, por razes de foco e extenso deste artigo, no h espao
aqui para nos adentrarmos detidamente nessas questes separada-
mente, cabe-nos brevemente tratar da leitura e da escrita de resumos
como tarefas que se complementam. necessrio, pois, distinguirem-
se dois tipos de atividade na leitura e que tm relao direta com a
coerncia: identificar se as afirmaes de um texto se relacionam a um
tema, e elaborar uma hierarquia entre essas frases que se relacione ao
seu assunto. Essas atitudes frente ao texto tm carter metalingustico
e, segundo Gombert, so tarefas distintas. Tal classificao por ordem
de importncia das frases habilidade que surge a partir dos dez anos
de idade na criana (1992). Ainda de acordo com esse autor, j por
volta dos cinco anos de idade observa-se um comportamento metatex-
tual na criana no que diz respeito a tarefas simples, como identifica-
o de texto e no-texto ou contradies. somente aps os oito ou
nove anos que a criana admite que um texto pode ser resumido, por
exemplo. Aos nove ou dez anos ela tem condies de detectar anforas
ambguas e estabelecer hierarquia entre as informaes. Aos doze e
treze, consegue identificar o que um pargrafo, e bem mais tarde
consegue desenvolver a hierarquia completa de um texto (1992). As-
sim, v-se o quo gradual esse desenvolvimento, que , por exceln-
cia, trabalhado no mbito escolar.
Tendo como foco a criao textual a partir da leitura, o leitor
empreende trs tarefas que concretamente configuram um resumo. A
organizao dos elementos relevantes formando um todo coerente; a
condensao do significado global; e a produo de um segundo texto
com o auxlio primordial da memria so operaes mencionadas por
Kintsch e van Dijk (1978) como sendo a base para a compreenso de
texto e criao de resumos. Van Dijk (2000), a respeito das operaes
de resumo, menciona as macroproposies que so geradas durante a
leitura, e que derivam de sequncias de proposies de um discurso. O
que possibilita isso so as macrorregras de apagamento, generaliza-
o e construo. Omitem-se informaes secundrias, generalizam-se
ideias semelhantes ou repetitivas e constri-se um texto menor, mais
depurado e mais objetivo em relao ao original. Tais macrorregras
funcionam de modo recursivo, e isso proporciona as macroproposi-
es ainda mais gerais, formando a macroestrutura textual que pode
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
321
ser tipicamente expressa com resumos (VAN DIJK, 2000, p. 103). O
resultado dessa recursividade das macrorregras remete ao que afirma
Eco, antes mencionado, quanto estrutura mnima de um texto. Se-
gundo van Dijk, o que alimenta as macrorregras so as proposies do
texto, juntamente com as crenas e conhecimento prvio dos sujeitos.
O resumo considerado um gnero textual que tem a peculiari-
dade de se agregar a qualquer outro gnero ou a um tipo textual. Po-
demos falar de resumo de narrativas, de uma descrio ou de uma ar-
gumentao (tipos); e tambm podemos resumir telefonemas, cartas,
reportagens, editais etc. (gneros). Com ele possvel nos referirmos
de forma sinttica e objetiva a muitos outros textos, falados ou escri-
tos. Pode ter inmeras finalidades, sempre conservando a estrutura
do texto que lhe deu origem. Acreditamos que pode ser um instrumen-
to interessante para se iniciar um processo de escrita j tendo um mo-
delo para seguir o texto-fonte. Segundo Silva e Da Mata (2001), o en-
sino da produo e compreenso de textos deve ter por base a questo
dos gneros, entre os quais est o resumo, definido pelos autores co-
mo uma atividade discursiva produzida e consumida em diferentes
esferas das atividades sociais. A funo e o uso social desse tipo de
produo so os de aferir se o sujeito/produtor tem habilidades ne-
cessrias para ler/compreender e registrar essa compreenso. Ele
utilizado no contexto escolar, por exemplo, como uma tarefa de avalia-
o da leitura. Mas isso no significa que no possa ser aprendido ex-
plicitamente, pois no no dia a dia, em contextos informais, que se
aprende a faz-lo, da mesma maneira como se aprende a falar ou con-
tar histrias por meio de interaes com outros indivduos.
Em se tratando de produo, Bereiter e Scardamalia (2009) tra-
tam de composio escrita em geral e dos processos que encaminham
a uma proficincia nessa tarefa. Apontam dois modelos bsicos de
composio escrita, sendo que em cada um deles pode haver bons e
maus escritores. O modelo chamado relato de conhecimento envolve
a capacidade natural da competncia lingustica, que diz respeito ao
uso social da lngua. Quando um indivduo precisa criar contedo para
sua escrita, realiza o que, para ns, se parece com um brainstorming
de ideias a serem desenvolvidas, porm, sua produo carece de um
planejamento mais sofisticado. J o modelo chamado de transforma-
o de conhecimento vai alm das caractersticas naturais do sujeito
e tem carter individual, pois trata de um reprocessamento do conhe-
Marlia Marques Lopes
322
cimento, enfim, de uma tarefa que podemos classificar como de meta-
cognio:
O que distingue as habilidades mais elevadas que elas envolvem
controle intencional e estratgias de partes do processo que foram
ignoradas pela habilidade natural. por isso que so necessrios
diferentes modelos para descrever esses processos. (BEREITER;
SCARDAMALIA, 2009, p. 6, traduo nossa)
Segundo os autores, a criana, apesar de ter plena capacidade
para a linguagem oral, somente por volta dos 12 anos consegue atingir
o ponto de catch up. Isso ocorre porque ela precisa superar a fase da
alfabetizao e outros obstculos que surgem no caminho, como gerar
contedo para o discurso sem o auxlio de um interlocutor, fazer bus-
cas na memria, ou mesmo lidar com grandes unidades de texto a es-
crever, mantendo-se em um mesmo tpico. O planejamento da escrita
tambm exige do escritor um distanciamento no como escritor, mas
como leitor do prprio texto, assim implicando atividades condizentes
com o processo de transformao do conhecimento ou, como mencio-
namos, com a metacognio. O esquema narrativo, por exemplo, que
vem sendo construdo com a criana desde a fase pr-escolar, relati-
vamente fechado, e disso depende a escrita individual, pois no h in-
puts externos. O sujeito escritor tem, como nico recurso, esse esque-
ma pr-concebido de texto. Em se tratando de resumo, o texto-fonte
o nico input externo com que o leitor-resumidor pode contar, e com
que dialoga para gerar um texto, por sua vez menor e com caracters-
ticas singulares possui o que h de mais importante do original,
menos extenso e no uma cpia do texto-fonte. E deve faz-lo usan-
do suas habilidades de sntese, articulando com seus conhecimentos
textuais.
As atividades de leitura, em conjunto com a composio escrita,
precisam fazer parte de um programa mais amplo, cuja finalidade o
desenvolvimento integral da faculdade de comunicao da criana. Ao
realizar atividades metalingusticas no processo de aprendizado, as
quais so de natureza epistemolgica, o aprendiz trabalha o prprio
objeto de conhecimento. Conforme Spinillo (2009), as instncias meta-
lingustica, metacognitiva e psicolgica no podem ser vistas em sepa-
rado, pois a aprendizagem de natureza psicolgica, mas acontece
levando-se em conta o objeto de conhecimento e as situaes de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
323
aprendizagem (2009). Esse ponto de vista vai de encontro ao que diz
Gombert (1992) quanto aos limites entre o metalingustico e o meta-
cognitivo por vezes, h uma sobreposio entre essas duas instn-
cias.
Ferreira e Spinillo (2003) defendem a adoo de intervenes de
cunho metatextual, ou de conscincia textual, de modo a incentivar
habilidades de escrita de crianas. Os autores, tendo por base estudos
conduzidos com alunos entre seis e oito anos de idade, puderam con-
cluir que a adoo desses procedimentos incluindo o ensino explcito
do esquema narrativo prprio de histrias seus elementos consti-
tuintes e sua organizao hierrquica relevante para o desenvol-
vimento de um esquema narrativo (p. 142) entre crianas. Embora a
habilidade em produo de textos surja gradualmente e de forma au-
tomtica, antes de uma conscincia a respeito de seus elementos e es-
trutura, os exerccios que visem anlise e reflexo sobre textos po-
dem, sim, aumentar a qualidade da produo textual das crianas. Os
autores sugerem que os Parmetros Curriculares Nacionais concedam
mais destaque conscincia textual no trabalho com textos, tornando
estes objetos de estudo e reflexo por si mesma. Essas consideraes
sobre o texto em todas as suas formas podem proporcionar, no nosso
caso especfico, uma maior firmeza no que tange reescrita resumida
de histrias.
Acreditamos que o texto o texto e mais um pouco, e as rela-
es que o aluno faz entre ele e o que extratextual podem, inclusive,
proporcionar a escrita de resumos o uso dos prprios recursos de
percepo e a escrita com as prprias palavras podem ser bons indi-
cadores de uma efetiva compreenso, vista tambm como construo.
Assim, tm-se focos distintos que podem ter que interagem uns com
os outros: estratgias de leitura + estratgias de sntese + estratgias
de escrita.
Apesar de a atitude reflexiva do sujeito com relao a um texto,
de forma intencional, ser tratada por muitos pesquisadores como algo
separado dos seus usos, essa anlise parece estar a servio da com-
preenso e da produo. Estas se constroem pela ao de uma sobre a
outra, com bases que devem ser explicitamente ensinadas e estimula-
das nas aulas que envolvem a linguagem. No se deve, portanto, espe-
rar que surjam espontaneamente habilidades que podem ser ensina-
das e/ou desenvolvidas nos alunos.
Marlia Marques Lopes
324
REFERNCIAS
ALVES, Sandra Maria Leal. Estratgias de compreenso leitora e de produo de
resumo do gnero cientfico: aspectos textuais e cognitivos. Tese (Doutorado em
Letras) - Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2010.
BRANDO, Ana Carolina Perussi; SPINILLO, Alina Galvo. Produo e compreen-
so de textos em uma perspectiva de desenvolvimento. Estud. psicol., Natal
[online], v. 6, n. 1, p. 51-62, 2001.
COLOMER, Teresa; CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Traduo
Ftima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002.
DOLE, J. A.; DUFFY, G. G.; ROEHLER, l. R.; PEARSON, P. D. Moving from the old to
the new: research on reading comprehension instruction. Review of Educational
Research, 61, p. 239-264, 1991.
ECO, Umberto. A estrutura ausente. Trad. Prola de Carvalho. So Paulo: Perspec-
tiva, 2007.
FERREIRA, Aurino Lima; SPINILLO, Alina Galvo. Desenvolvendo a habilidade de
produo de textos em crianas a partir da conscincia metatextual. In: MALUF,
Maria Regina (Org.). Metalinguagem e aquisio da escrita: contribuies da pes-
quisa para a prtica da alfabetizao. So Paulo: Casa do Psiclogo, 2003. p. 119-
148.
GOMBERT, Jan-mile. Atividades metalingusticas e aprendizagem da leitura.
In: MALUF, Maria Regina (Org.) Metalinguagem e aquisio da escrita: contribui-
es da pesquisa para a prtica da alfabetizao. So Paulo: Casa do Psiclogo,
2003. p. 19-63.
SPINILLO, Alina Galvo. Eu sei fazer uma histria ficar pequena: a escrita de re-
sumo por crianas. Interamerican Journal of Psychology, Sociedad Interamericana
de Psicologa Latinoamericanistas, v. 43, n. 2, p. 362-373, 2009.
SILVA, J. Q. G.; DA MATA, M. A. Proposta tipolgica de resumos: um estudo explo-
ratrio das prticas de ensino da leitura e da produo de textos acadmicos.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, p. 123-133, 2 sem. 2002.
TUNMER, W. E.; HERRIMAN, M. L. The development of metalinguistic awareness:
a conceptual overview. In: TUNMER, W. E.; PRATT, C.; HERRIMAN, M. L. (Orgs.).
Metalinguistic awareness in children: theory, research and implications. New
York: Springer-Verlag, 1984. p. 12-35.
VAN DIJK, Teun A.; KINTSCH, Walter. Strategies of discourse comprehension. New
York: Academic Press, 1983.
A TRADUO E O SEU PAPEL NA SALA DE AULA DE
ESPANHOL COMO LNGUA ESTRANGEIRA
Angela Luzia Garay Flain
1
/
2
1 INTRODUO
O uso da traduo em sala de aula comeou a me interessar a
partir da experincia como orientadora de estgio no curso de gradua-
o em Letras Lngua Espanhola, quando os estagirios se queixa-
vam que algumas professoras regentes praticamente impunham o uso
de exerccios de traduo em todas as aulas, independentemente do
que havia sido planejado ou do programa a ser desenvolvido, o que
muitas vezes tornava-se uma atividade cansativa e aborrecida para os
alunos e para os estagirios.
Por essa situao, fica evidente que, mesmo que alguns profes-
sores no aprovem ou no assumam que fazem uso da traduo em
aula, ela usada como recurso didtico que pode contribuir para a
aquisio de uma lngua estrangeira. Mesmo porque, aprovemos ou
no, o aluno, principalmente nos nveis iniciais, vai se utilizar da tra-
duo como ferramenta auxiliar no seu processo de aprendizagem
(HARBORD, 1992).
Supondo que os professores no tiveram formao acadmica
relacionada com disciplinas de traduo e que no tm bem claro o
conceito e a utilidade da traduo em sala de aula, senti-me instigada a
pesquisar esse assunto.
Assim, o objetivo deste estudo investigar o que os professores
entendem que seja traduzir e de que forma a traduo contribui para a
aprendizagem de espanhol como lngua estrangeira no seu fazer pe-
1
Professora do Departamento de Letras da Universidade de Santa Cruz UNISC. Pro-
fessora de Lngua Espanhola na UAB-UFSM, Santa Maria RS. Mestre em Estudos Lin-
gusticos. E-mail: angelaflain@hotmail.com
2
As tradues realizadas neste captulo so de minha autoria.
Angela Luzia Garay Flain
326
daggico. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo mediante um
questionrio online, para investigar o conceito de traduo, os objeti-
vos e como os professores entendem que a traduo contribui no pro-
cesso de ensino e aprendizagem de Espanhol como lngua estrangeira.
Onze professores que atuam no ensino bsico de escolas pblicas e
privadas, de cinco cidades do Rio Grande do Sul, responderam as
questes.
Para discutir os dados, entende-se ser importante revisar as
abordagens de lngua estrangeira que, ao longo da histria, nortearam
o ensino, pois seguramente estaro refletidas na prtica do professor.
Assim, so apresentadas, resumidamente, as quatro mais utilizadas no
Brasil, evidenciando o uso da traduo em cada uma delas. A seguir,
algumas concepes de traduo e indicaes de aspectos favorveis
ao uso da traduo como recurso didtico.
2 AS ABORDAGENS OU MTODOS DE ENSINO DE LNGUA ESTRANGEIRA MAIS
USADOS NO BRASIL E A TRADUO
As abordagens usadas para o ensino de lngua estrangeira so
vrias e vm mudando desde o final do sculo passado. Neves (1996)
constatou, em levantamento terico realizado em 1993, que, no Brasil,
as abordagens ou mtodos que mais influenciaram o ensino de lnguas
foram a Abordagem Tradicional ou Mtodo de Gramtica e Traduo,
a Abordagem Direta ou Mtodo Direto, a Abordagem Estrutural ou
Audiolingual e a Abordagem Comunicativa.
Historicamente, o ensino de Lnguas Estrangeiras foi baseado no
ensino do latim que, ao passar de lngua viva a disciplina do currculo
escolar, adquiriu funo diferente, baseado na memorizao de regras
de gramtica, estudo das declinaes e conjugaes de verbos e tradu-
es e verses. Os mesmos procedimentos foram naturalmente adota-
dos quando se incluram as lnguas modernas, no currculo das escolas
europeias do sculo XVIII (RICHARDS; RODGERS, 2001).
Essa abordagem de ensino de lnguas estrangeiras, que hoje
conhecida como Mtodo de Gramtica e Traduo, dominou o ensino
das lnguas europeias de 1840 at 1940, ou seja, durante cem anos.
Por isso fcil de entender que, com algumas modificaes, ainda seja
usada amplamente em algumas partes do mundo. O objetivo de estu-
dar uma lngua estrangeira era aprender para ler obras literrias ou
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
327
beneficiar-se da disciplina mental e do desenvolvimento intelectual
que resultavam do seu estudo. A leitura e a escrita so as habilidades
principais, e no se d relevncia s habilidades de falar e ouvir
(RICHARDS; RODGERS, 2001).
Essencialmente, essa abordagem consiste no ensino da segunda
lngua pela primeira e toda e qualquer informao ou explicao de
que o aluno necessite lhe dada na sua lngua materna. So trs os
passos fundamentais para a aprendizagem: memorizao prvia de
listas de palavras; conhecimento das regras necessrias para juntar
essas palavras em frases e exerccios de traduo e verso, que, con-
forme Leffa (1988), configura-se como uma abordagem dedutiva, par-
tindo sempre da regra para o exemplo, enfatizando a forma escrita da
lngua. Hoje, no se justificaria o seu uso como ferramenta de ensino
de lnguas estrangeiras, por ser essencialmente um mtodo de tradu-
o mecnica, que no observa os aspectos contextuais do uso da ln-
gua. O papel do professor, na viso de Neves (1996), o de autoridade,
e a interao professor-aluno centrada no professor.
Em meados do sculo XIX, as oportunidades de comunicao,
advindas principalmente das transaes comerciais entre os europeus,
criou a demanda por desenvolver a capacidade de falar lnguas es-
trangeiras, fato que colocou em cheque a eficcia do Mtodo de Gra-
mtica e Traduo, centrado na escrita.
Na Alemanha, na Inglaterra, na Frana e em outras partes da Eu-
ropa, especialistas no ensino de lnguas desenvolveram novas aborda-
gens, cada um com um mtodo especfico para reformular o ensino
das lnguas modernas, baseados principalmente na forma como as cri-
anas aprendem as lnguas, por vezes chamado de mtodo natural. Os
princpios desses mtodos coincidiam em vrios aspectos: a habilida-
de oral era fundamental e devia ser intensamente usada em aula, os
aspectos gramaticais eram ensinados de forma contextualizada, ou
seja, a gramtica deveria ensinar-se de forma indutiva e as palavras
em oraes, includas em contextos significativos. Nesses mtodos, a
traduo, que antes ocupava o papel central no ensino, passou para
um segundo plano, e a lngua materna somente podia ser usada para
explicar palavras novas ou comprovar a compreenso (RICHARDS;
RODGERS, 2001).
Esses princpios fundamentaram o Mtodo Direto, o mais conhe-
cido dos mtodos naturais. Esse mtodo obteve bastante xito nas es-
Angela Luzia Garay Flain
328
colas de idiomas privadas, como as da rede Berlitz, nos Estados Uni-
dos, nas quais os alunos tinham um alto grau de motivao e os pro-
fessores deveriam ser falantes nativos, pois o ensino era centrado na
compreenso e expresso oral e toda a comunicao era feita exclusi-
vamente na lngua objeto (RICHARDS; RODGERS, 2001).
O Mtodo Direto surgiu como uma reao ao anterior (LEFFA,
1988) e, ao contrrio daquele, tem como princpio bsico que uma ln-
gua estrangeira aprendida por intermdio da prpria lngua estran-
geira, o aluno deve aprender a pensar na lngua. Dessa maneira, o
professor d informaes e transmite significados de palavras exclusi-
vamente na lngua estrangeira ou recorre a gestos e gravuras, a fim de
se comunicar, mas nunca se faz uso da traduo. A nfase est na ln-
gua oral, sendo que o ponto de partida para os exerccios orais so os
dilogos situacionais e a leitura de pequenos textos.
A integrao das quatro habilidades, na seguinte ordem, ouvir,
falar, ler e escrever, usada pela primeira vez no ensino de lnguas. A
gramtica e at os aspectos culturais da lngua estrangeira so ensina-
dos indutivamente, pois, primeiro, o aluno exposto aos fatos da
lngua, depois, faz-se a sistematizao. Primeiramente, so feitos os
exerccios orais e, posteriormente, os escritos. Os dilogos sobre as-
suntos da vida cotidiana so utilizados com o objetivo de tornar viva a
lngua usada em aula. A tcnica da repetio usada para aprendizado
automtico da lngua (LEFFA, 1988).
O Mtodo Direto sofreu crticas por no ter uma base terica ri-
gorosa em Lingustica Aplicada e tambm apresentava inconvenientes
como a necessidade de professores nativos ou com a fluncia de um
nativo para dar conta de aplicar o mtodo, que exigia o uso exclusivo
da lngua estrangeira, o que tambm era contraproducente do ponto
de vista de que o professor dispendia um enorme esforo para no
usar a lngua materna, quando uma simples explicao ou a traduo
de uma palavra resolveria o problema de compreenso (RICHARDS;
RODGERS, 2001).
O Mtodo Audiolingual, segundo Leffa (1988), surgiu durante a
Segunda Guerra Mundial, quando o exrcito americano precisou de
falantes fluentes em vrias lnguas e no os encontrou. Na busca des-
ses falantes, em um curto espao de tempo, o exrcito criou um mto-
do de ensino de lnguas que privilegiava a fluncia oral, com a ajuda de
linguistas e falantes nativos. Embora este mtodo fosse uma reedio
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
329
da Abordagem Direta, anteriormente rejeitada, teve muito sucesso,
chamando a ateno das universidades e escolas secundrias. Posteri-
ormente, o mtodo do exrcito foi refinado e transformou-se na Abor-
dagem que hoje conhecemos como Audiolingual.
Neves (1996, p. 71) afirma que a Abordagem Audiolingual criou
razes firmes em todo o mundo porque a sua fundamentao terica
teve o suporte cientfico da psicologia comportamental e da lingustica
estrutural. Dessas duas escolas de pensamento, derivam as premissas
que norteiam a abordagem em questo. A participao de linguistas
nesse projeto proporcionou ao ensino de lnguas o status de cincia,
conforme Leffa (1988), isso porque as premissas que sustentavam o
mtodo foram reformuladas, resultando uma doutrina coesa, a qual,
por muito tempo, dominou o ensino de lnguas estrangeiras.
Da mesma forma que ocorreu com as outras abordagens, essa
tambm comeou a sofrer restries, e as crticas referiam-se ao seu
embasamento lingustico e psicolgico. A partir da viso de que a fala
e a escrita eram formas paralelas de manifestao da lngua, no havia
justificativa para dar maior importncia fala no ensino de lnguas.
Tambm no era mais possvel considerar a lngua como um conjunto
de hbitos, se o ser humano era capaz de criar frases novas. A nfase
na forma em detrimento do significado fazia com que os alunos repe-
tissem frases que no se aplicavam a um contexto real (LEFFA ,1988).
A respeito da traduo, Romanelli (2009) afirma que, se j era
escassamente considerada pelas duas ltimas abordagens, ou ocupava
um papel sempre menos relevante, foi, em seguida, definitivamente
excluda e criticada pela Abordagem Comunicativa.
A Abordagem Comunicativa traz nova viso de ensino de ln-
guas, propondo o estudo como um todo, assim como ocorre na comu-
nicao. A fundamentao terica desta abordagem est baseada nos
estudos em Anlise do Discurso, que propunham no s a anlise do
texto, mas tambm as circunstncias em que ele era produzido e in-
terpretado, sob a tica da psicologia cognitiva e da gramtica gerativo-
transformacional de Chomsky (NEVES, 1996).
Enquanto no audiolingualismo o ensino de lnguas concentrava-
se no cdigo, a nova abordagem enfatizava a semntica da lngua, des-
crita fragmentariamente em alguns estudos esparsos. O desafio dos
metodlogos, agora, era elaborar um inventrio das noes e funes
que normalmente expressam-se mediante a lngua, ou seja, aquilo que
se faz por meio da lngua (LEFFA, 1988).
Angela Luzia Garay Flain
330
Nessa abordagem, segundo Leffa (1988), no existe ordem de
preferncia na apresentao das quatro habilidades lingusticas, nem
restries quanto ao uso da lngua materna, principalmente no incio do
curso.
Mudam os papis de professor e aluno, pois a Abordagem Co-
municativa defende a aprendizagem centrada no aluno, no s em
termos de contedos, que podem, inclusive, ser negociados com eles,
mas tambm em relao s tcnicas usadas em sala de aula, como, por
exemplo, os trabalhos em grupo. O professor deixa de ser a autoridade
e passa a exercer o papel de orientador. Alm disso, deve ser sensvel
aos interesses dos alunos, encorajando a participao e acatando su-
gestes, considerando que o aspecto afetivo visto como uma varivel
importante nessa abordagem.
Depois desta breve exposio a respeito das abordagens e mto-
dos de ensino mais utilizadas pelos professores brasileiros, ao longo
dos anos, para o ensino de lnguas estrangeiras, pode-se inferir que a
traduo foi o recurso mais usado em sala de aula durante os mais de
cem anos em que vigorou o Mtodo de Gramtica e Traduo, mas
que, com a necessidade de desenvolver outras habilidades que no
somente a escrita, o seu prestgio foi decaindo, sendo inclusive, muito
criticada nas abordagens e mtodos que vieram depois. Porm, na rea-
lidade, ela nunca deixou de auxiliar o professor de lnguas estrangeiras.
3 ALGUMAS CONCEPES DE TRADUO
A traduo, que tem sofrido alteraes no seu status como re-
curso de ensino para a aquisio de uma lngua estrangeira, conforme
a abordagem ou mtodo a ser utilizado, muito tem sido discutida nos
ltimos tempos. Para refletir sobre a sua contribuio para o ensino,
hoje, importante ter clara a sua definio conforme alguns autores
da rea.
H conceitos bastante tradicionais e fechados a respeito do que
seja traduo como, por exemplo, os de Catford (1980, p. 42), que a
concebe como substituio de material textual de uma lngua para
material textual equivalente em outra e de Campos (1987, p. 7) como,
traduzir nada mais do que isto: fazer passar de uma lngua para ou-
tra, um texto escrito na primeira delas e ainda, uma boa traduo
deve atender tanto ao contedo quanto forma do original, pois a
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
331
equivalncia textual uma questo de contedo, e a correspondncia
formal, como o nome est dizendo, uma questo de forma (p. 49).
Tais concepes demonstram uma viso de que possvel transferir
de uma lngua para outra os aspectos formais e de significado de um
texto, porm no contemplam o contexto para o qual est sendo tra-
duzido.
Autores como Humboldt (1992, p. 3) opinam que Nem toda pa-
lavra de uma lngua tem um equivalente exato na outra. Dessa forma,
nem todos os conceitos que so expressos atravs de palavras de uma
lngua, so exatamente os mesmos que so expressos atravs de pala-
vras de outra. Assim, o autor demonstra uma perspectiva um pouco
mais ampla a respeito do que seja traduzir, pois nem sempre h cor-
respondncia entre forma e contedo nas duas lnguas. Ou seja, ne-
cessrio transpor o significado usando as palavras e estruturas lin-
gusticas prprias da lngua meta.
H tambm autores que propem a traduo como uma recria-
o e ressignificao do texto original, e pode-se dizer que, nesta
perspectiva, a traduo se amplia e passa a realizar uma relao de
intertextualidade. Frota (1999) considera a traduo uma reescritura,
um novo texto, que transforma o texto estrangeiro no s pelas for-
mas lingusticas, mas principalmente pelas diferentes funes que o
texto traduzido pode ter na cultura-meta.
Outras concepes de traduo consideram os aspectos cultu-
rais, j que a relao entre lngua e cultura no pode ser ignorada no
ensino de lnguas estrangeiras. Para Agra (2007), a traduo no est
ligada ao significado das palavras tais com as encontramos no dicion-
rio, mas essencialmente aos sentidos culturalmente construdos, ao
subjetivo, viso de mundo de cada indivduo. Dessa maneira, a tra-
duo pode ser um instrumento pedaggico muito til na superao
de barreiras culturais e ampliao do conhecimento a respeito de si
mesmo e do mundo que cerca o aluno, conhecimento esse muito im-
portante no mundo globalizado em que vivemos.
4 A TRADUO NA SALA DE AULA: MOTIVOS PARA DEFEND-LA
Com a excluso da lngua materna como suporte para o ensino
da lngua estrangeira, proposta pelos mtodos que vieram depois do
Mtodo de Gramtica e Traduo, consequentemente a traduo tam-
Angela Luzia Garay Flain
332
bm foi banida da sala de aula. Porm, mais recentemente, volta a
ocupar espao como recurso de ensino. A questo como usada,
pois, conforme Lucindo (2006), no h material didtico disponvel no
mercado que oriente os professores. Dessa forma, mesmo percebendo
a importncia de usar a traduo como recurso didtico, no sabem
muito bem como faz-lo. Na mesma perspectiva, Tessaro (2012) evi-
dencia que muitos professores no se sentem vontade para usar
exerccios de traduo, mesmo que os alunos solicitem, e s vezes os
utiliza como forma de avaliao, por no saber de que maneira utiliz-
los, talvez porque no haja material didtico que abordem a traduo
como uma ferramenta pedaggica. Dessa forma, a traduo utilizada
sem um objetivo claro e de forma descontextualizada.
Considerando que a traduo, que em determinada poca foi
usada como recurso fundamental de aprendizagem e em outras per-
deu esse status, mas que de alguma forma sempre esteve presente e
que, provavelmente, sempre vai estar, o ideal fazer dela um instru-
mento vlido e produtivo no ensino das lnguas estrangeiras.
Muitos so os autores que defendem a sua utilizao. Para Har-
bord (1992), compreensvel que os aprendizes tentem comparar as
estruturas ou itens lexicais da sua lngua materna com a lngua estran-
geira que esto aprendendo, independentemente do estmulo ou per-
misso do professor para traduzir, pois esse um processo natural.
Atualmente, as vrias correntes metodolgicas para o ensino de
lnguas estrangeiras apresentam orientaes comunicativas, fato que,
conforme aponta Figueredo (2007), reabilitou o uso da traduo pe-
daggica (interpretativa e explicativa) e tambm recolocou a lngua
materna no lugar devido na aprendizagem de uma lngua estrangeira.
Afinal, inquestionvel a sua onipresena em qualquer ato cognitivo
que ocorre na aprendizagem de uma lngua estrangeira, na qual o
aprendiz faz relaes contrastivas entre as duas lnguas de forma es-
pontnea e inevitvel, quando compara elementos lexicais ou estrutu-
ras sintticas para confirmar, compreender melhor e at para consoli-
dar a sua aquisio.
Outro aspecto importante do uso da traduo, tambm demons-
trado por Harbord (1992), consiste em facilitar comunicao e otimi-
zar o tempo em sala de aula, pois uma das grandes queixas dos profes-
sores de lngua estrangeira o pouco tempo que lhes dedicado na
grade curricular, um ou dois perodos semanais, o que dificulta o de-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
333
senvolvimento das quatro habilidades e, muitas vezes, determina que
eles escolham privilegiar somente a leitura e a escrita que sero, pro-
vavelmente, as mais necessrias para os alunos.
O professor economiza tempo em sala de aula ao traduzir, quan-
do necessita explicar as atividades que vai desenvolver, esclarecer o
uso de estruturas lingusticas e questes de vocabulrio, mais justifi-
cvel ainda, no ensino da lngua espanhola, devido s semelhanas
com a lngua portuguesa, o que, se no incio da aprendizagem uma
vantagem, num nvel mais avanado requer muita ateno, pois h
grandes diferenas no uso das preposies, dos tempos verbais, e das
armadilhas que representam os falsos cognatos, entre outras. Alm
disso, facilita a comunicao entre professor e aluno, principalmente
nos nveis iniciais, quando o aporte de vocabulrio ainda pequeno. A
traduo, sob essa tica, torna-se uma grande aliada da aprendizagem.
Como prope Figueredo (2007), a traduo pedaggica se cons-
titui na traduo de textos como recurso didtico para o ensino de
uma lngua estrangeira com os objetivos de evitar as interferncias
por meio do confronto entre as duas lnguas, pois permite identificar
analogias e diferenas entre os dois sistemas lingusticos em questo,
alertando o aluno para esse aspecto. Mediante estratgias cognitivas e
comunicativas j usadas na lngua materna, busca o aperfeioamento
lingustico, e, tambm, a percepo de diferenas histricas e sociocul-
turais dos falantes da lngua que se est aprendendo.
A mesma autora ainda se refere traduo interpretativa e ex-
plicativa, na qual se usa deliberadamente a traduo como mecanismo
ou atalho para acessar o significado de determinada palavra para
construir o sentido pela compreenso lingustica e extralingustica da
mensagem.
Costa (1988) faz a distino entre traduo oral e escrita. A pri-
meira um meio direto e eficaz para explicar o significado das pala-
vras e falhas de compreenso, o que muito til na dinamicidade que
caracteriza a sala de aula. Quanto modalidade escrita, a traduo
mais um recurso para verificar a competncia do aluno e a sua com-
preenso de vocabulrio, sintaxe, expresses idiomticas e o uso de
diferentes registros.
O nvel de aprendizagem dos alunos um fator que condiciona
fortemente o uso adequado da traduo em sala de aula (ROMANELLI,
2003), pois traduzir inevitvel nas etapas iniciais quando os apren-
Angela Luzia Garay Flain
334
dizes usam a gramtica da lngua materna como estratgia, porm,
indicado us-la somente para compensar o pouco conhecimento da
lngua estrangeira. J em nveis mais avanados, revela-se um timo
meio de aprofundamento das estruturas lexicais e gramaticais, favore-
cendo tambm a autonomia do aluno em relao ao seu processo de
aprendizagem.
A traduo no ensino de uma lngua estrangeira adquire um pa-
pel muito mais complexo quando se refere aos aspectos sociais, hist-
ricos e culturais que esto inseridos na lngua a ser ensinada. Lima
(2008) enfatiza que a lngua no um simples instrumento de comu-
nicao. uma representao do pensamento, portanto a sua aprendi-
zagem no deve se resumir traduo de palavras e regras gramati-
cais descontextualizadas, pois ensinar uma lngua tambm ensinar a
sua realidade. Para que uma lngua estrangeira seja efetivamente ad-
quirida, preciso desenvolver nos alunos a competncia comunicativa
intercultural, para que aprendam a melhor lidar com o mundo globali-
zado e ver o mundo sob essa perspectiva (LIMA, 2008).
Este um aspecto da traduo em sala de aula que exige do pro-
fessor um bom conhecimento da sociedade, da histria e da cultura do
povo a que pertence a lngua estrangeira que vai ensinar, pois esses
aspectos so muito importantes no entendimento e interpretao de
qualquer material a ser usado como recurso didtico. Mas traz gran-
des benefcios, considerando que o aluno pode, alm de adquirir um
aprendizado mais consistente, em termos lingusticos, ampliar os seus
horizontes, conhecendo outras culturas e situar-se melhor no mundo a
partir do conhecimento do outro.
5 O QUE DIZEM OS PROFESSORES
Conforme os dados levantados no questionrio realizado com os
professores, nove dos onze entrevistados tiveram, no curso de gradua-
o, uma disciplina que tratava de traduo. Cabe informar que eles
so oriundos de uma Universidade particular que tm um currculo
diferenciado. Todos eles, de alguma maneira, esto familiarizados com
o processo de traduo, seja para preparar material didtico para as
aulas, seja para traduzir documentos, resumos e artigos acadmicos.
Quanto ao conceito de traduo, oito dos onze professores en-
tendem que traduzir seja passar de uma lngua para outra: transfe-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
335
rir os significados representados por cdigos conhecidos em uma ln-
gua aos equivalentes em outra; Em meu entendimento, traduzir
passar um determinado texto para outro idioma, Essa passagem no
deve desconsiderar as caractersticas do idioma ao qual se destina;
Transferir, coerentemente, um texto da lngua estrangeira para a
nossa lngua materna, Passar da lngua que foi escrita para outra,
mantendo sempre a coerncia e o significado contextual do texto de
origem. Pelo que se pode perceber, suas concepes se aproximam do
que propem Catford (1980, p. 42), que concebe a traduo como []
substituio de material textual de uma lngua para material textual
equivalente em outra, e de Campos (1987, p. 7): traduzir [] fazer
passar de uma lngua para outra, um texto escrito na primeira delas.
Este posicionamento frente traduo leva a pensar que o mtodo
que subjaz o ensino o de Gramtica e Traduo, e, mesmo que alguns
deles faam referncia ao contexto ou a caractersticas da lngua, sem-
pre o fazem de forma unilateral, ou seja, manter a fidelidade a uma ou
a outra lngua. Assim, a concepo de traduo parece bem restrita,
mantendo-se apenas na esfera lingustica.
Os outros trs professores entendem que traduzir seja interpre-
tar: A traduo uma estratgia/ atividade de interpretar outra ln-
gua e de produzir o texto da maneira mais apropriada da lngua origi-
nal; Para mim, traduzir interpretar, interpretar o sentido do texto,
da palavra da forma mais exata possvel, pois nem sempre consegui-
mos traduzir nas mesmas palavras para a lngua desejada. Tais con-
cepes demonstram uma forma mais flexvel de entender a traduo,
que se coadunam com Frota (1999) e Cavalcanti (2009), pois conside-
ram que traduzir implica recriar o texto tanto no que se refere forma
quanto ao sentido. Pode-se inferir que esta postura frente traduo
se aproxima das proposies da abordagem comunicativa, que privi-
legia a comunicao, a contextualizao e os aspectos semnticos da
lngua (LEFFA, 1998, NEVES,1996).
Questionados sobre o uso da traduo em sala de aula e de sua
presena no planejamento de ensino, os professores foram unnimes
em afirmar que a traduo est presente e utilizada como ferramen-
ta de aprendizagem, independentemente do conceito ou metodologia
em que o professor se apoie. A questo como ela usada, pois, con-
forme Lucindo (2006) e Tessaro (2012), no h material didtico dis-
ponvel no mercado que oriente os professores. Dessa forma, mesmo
Angela Luzia Garay Flain
336
percebendo a importncia de usar a traduo como recurso didtico,
no sabem muito bem como faz-lo.
Quando recorrem traduo em sala de aula, dez dos professo-
res a utilizam para esclarecer dvidas de vocabulrio, oito para escla-
recer explicaes ou exerccios, e outros dois usam-na para ajudar na
interpretao de textos e selecionar o melhor termo para uma tradu-
o. Nesses casos, o professor usa a traduo como um recurso didti-
co, til e produtivo, ao que Figueredo (2007) se refere como traduo
interpretativa e explicativa, que serve como mecanismo ou atalho para
acessar ao significado de determinada palavra, para construir o senti-
do pela compreenso lingustica e extralingustica da mensagem. Em
tais situaes, o professor recorre principalmente traduo oral que,
para Costa (1988), um recurso rpido e eficaz para explicar o signifi-
cado das palavras e falhas de compreenso.
Os exerccios realizados em aula, conforme relato de nove pro-
fessores, consistem na traduo de textos ou fragmentos de texto, nos
nveis mais avanados, e na traduo de frases e palavras, principal-
mente nos nveis iniciais, de acordo com a necessidade e para facilitar
a compreenso do texto ou das atividades propostas. Nesse aspecto,
os professores esto de acordo com o que afirma Romanelli (2003): no
incio, traduzir inevitvel, pois os alunos se apoiam na gramtica da
lngua materna como estratgia de aprendizagem, e, em nveis mais
avanados, um meio de conhecer mais profundamente as estruturas
lexicais e gramaticais, quando se pode pedir a traduo de pequenos
textos.
Os professores demonstraram que tm bem claros os motivos
que os levam a utilizar a traduo em sala de aula: faz parte do pro-
cesso de aprendizagem, podem ampliar o vocabulrio, descobrir
sinnimos para uma mesma palavra em textos diferentes, encontrar
palavras polissmicas, falsos amigos, estruturas particulares de ex-
presso do espanhol. Assim, eles mostram que importante destacar
que nem sempre h correspondncia absoluta entre as duas lnguas, o
que est em conformidade com as proposies de Humboldt (1992), e
que, para que a aprendizagem seja significativa, preciso considerar
as particularidades de cada uma das lnguas envolvidas nesse processo.
Ainda dentro da mesma perspectiva, os professores tambm se
referem ao uso da traduo de forma comparada, pois dois deles
apontam que o ensino de uma Lngua Estrangeira est relacionado ao
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
337
lxico, s vezes sintaxe, outras vezes morfologia da lngua que se est
traduzindo e da lngua para a qual se est traduzindo; A traduo se
faz importante quando trabalhada de modo comparativo entre as ln-
guas. Mesmo porque, de acordo com Figueredo (2007), inevitvel
que o aprendiz faa relaes contrastivas entre as duas lnguas, pois
permite a identificao de analogias e diferenas e, ainda, comprove e
consolida a sua aprendizagem. Assim, os professores esto conside-
rando que esse um processo natural que deve ser valorizado e pode
contribuir na aquisio da lngua meta.
Trs deles demonstram a preocupao de que a traduo sirva
para compreender o texto e o contexto, que no se atenha simples-
mente a passar de uma lngua para a outra, demonstrando uma viso
mais ampla e til do exerccio de traduo. Tambm apontam que a
traduo importante para melhorar a comunicao entendendo a
lngua estrangeira como prtica social. Este um conceito bastante
atual e pode estar relacionado com o ensino dos gneros textuais, como
forma de melhor atuar no contexto social, j indicado nos PCNs para o
ensino de lnguas estrangeiras.
Os professores tambm apontam que eles precisam aprender a
compreender o contexto apresentado no texto em Lngua Estrangei-
ra; devem entender que devemos seguir um contexto para utilizar
palavras e expresses corretamente. O uso do recurso da traduo
como forma de melhor entender e produzir textos contextualizados
aponta para a concepo da Abordagem Comunicativa que, como
afirma Neves (1996), traz nova viso de ensino de lnguas, propondo
no s a anlise do texto, mas tambm as circunstncias nas quais ele
produzido e interpretado.
Mais um motivo para usar a traduo seria o desenvolvimento
das quatro habilidades: precisamos de ferramentas, como a traduo,
para melhorar as quatro habilidades de comunicao: escrever, falar,
ouvir e ler; para melhorar a escrita e a fala do aluno. Neste aspecto,
o uso da traduo est estreitamente relacionado com a Abordagem
Comunicativa, que conforme Leffa (1988), contempla o desenvolvi-
mento das quatro habilidades sem ordem de preferncia, diferente-
mente do mtodo Audiolingual, que indicava que primeiro o aluno de-
veria ouvir e falar para depois ler e escrever.
Uma queixa constante e justa dos professores de lngua estran-
geira o pouco tempo dedicado a ela na grade curricular e o uso da
Angela Luzia Garay Flain
338
traduo como forma de otimizar o tempo, na concepo de Harbord
(1992), uma das solues para essa questo: com 1 perodo por se-
mana ajuda e muito, No uso a traduo escrita em decorrncia do
tempo e dos materiais que a escola disponibiliza, de dicionrios adequa-
dos. Especialmente a traduo oral serve de apoio para que a aula
flua com mais dinamismo e eficincia, e o professor, neste caso, o
acesso mais rpido e eficiente de que o aluno dispe, j que algumas
escolas contam com dicionrios muito precrios e nem sempre possu-
em acesso internet, fato que favorece o ensino centrado no profes-
sor, como referenciam os mtodos de ensino mais tradicionais.
Os aspectos socioculturais, que no devem ser dissociados do
ensino de lnguas estrangeiras, aparecem nas falas dos professores
quando tratam da traduo em suas aulas, por facilitar a compreenso
dessas diferenas entre os falantes de lnguas e culturas diferentes:
Acredito que a traduo possibilite a criao da conscincia dos envol-
vidos no processo com relao ao respeito s diferenas culturais entre
os falantes das diferentes lnguas.; promove uma viso mais equilibra-
da e crtica da cultura da outra lngua. Dessa forma, o trabalho com a
traduo tambm contempla o ensino da lngua estrangeira sob a
perspectiva intercultural que, na viso de Lima (2008), dimensiona a
lngua para alm da simples comunicao. Este aspecto, hoje, de su-
ma importncia na formao do aluno, por proporcionar-lhe uma vi-
so mais real do mundo globalizado em que vivemos.
6 CONCLUSES
Segundo as consideraes tericas e os relatos dos professores
participantes deste estudo, pode-se afirmar que a traduo, ao longo
dos tempos e nos diferentes mtodos ou abordagens de ensino de ln-
guas estrangeiras, sempre esteve presente como recurso didtico, de
modo mais ou menos evidente.
Em relao ao conceito de traduo, a maioria deles demonstra
entend-la como uma forma de passar informaes de uma lngua pa-
ra a outra, mantendo-se apenas na esfera lingustica, o que se pode
considerar-se uma concepo bastante hermtica/ limitada, no entan-
to trs deles revelam a preocupao de que, ao traduzir, se considere o
contexto e as formas lingusticas das duas lnguas em questo para
garantir a compreenso e a comunicao.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
339
Todos admitem que usam a traduo em aula e reconhecem a
sua importncia como recurso didtico e pedaggico, que adotado
mais especificamente para solucionar dvidas de vocabulrio, para
explicaes e, tambm, de forma comparada nos nveis mais avana-
dos, nos quais podem se aprofundar nas estruturas lingusticas e for-
mas particulares de expresses de lngua estrangeira. A forma de tra-
duo mais utilizada a oral, por dinamizar o tempo de aula que, se-
gundo os professores, de um ou dois perodos por semana.
Ao evidenciar o uso da traduo para trabalhar as questes so-
cioculturais das lnguas envolvidas e facilitar a comunicao, conside-
rando o contexto de produo e recepo do texto, os professores pa-
recem estar mais afinados com a Abordagem Comunicativa de ensino
de lnguas estrangeiras, mesmo que os seus conceitos de traduo se-
jam, na maioria, mais tradicionais.
A ttulo de concluso, pode-se afirmar que os professores consi-
deram a traduo um recurso didtico til, que facilita a compreenso
das atividades e das tarefas, o conhecimento da lngua e do seu con-
texto sociocultural.
REFERNCIAS
AGRA, K.L.O. A integrao da lngua e da cultura no processo de traduo. Biblio-
teca on-line de Cincias da Comunicao. Disponvel em: <http://www.bocc.ubi.
pt/pag/agra-klondy-integracao-da-lingua.pdf>. 2007. Acesso em: 12 jan. 2012.
CAMPOS, Geir. O que traduo. So Paulo: Brasiliense, 1986.
CATFORD, J. C. Uma teoria lingustica da traduo: um ensaio em lingustica apli-
cada. Campinas, So Paulo: Cultrix, 1980.
COSTA, Walter C. A traduo e ensino de lnguas. In: BOHN, Hilrio; VANDRESEN,
Incio. Tpicos de lingustica aplicada ao ensino. Florianpolis: Ed. UFSC, 1988.
FIGUEREDO, Viviana. A. C. de C. A dimenso pragmtica da traduo no ensino-
aprendizagem da lngua estrangeira especializada. Revista Traduo e Comunica-
o, n. 16, 2007. Disponvel em: <http://sare.anhanguera.com/index.php/
rtcom/article/view/140/139>. Acesso em: 12 dez. 2012.
FROTA, Maria Paula. Por Uma Redefinio de Subjetividade nos Estudos da Tra-
duo. In: MARTINS, Mrcia A. P. (Org.). Traduo e multidisciplinaridade. Rio de
Janeiro: Lucerna, 1999.
HARBORD, J. The use of the mother tongue in the classroom. ELT Journal, v. 46, n.
4, p. 350-355, Oct. 1992.
Angela Luzia Garay Flain
340
HUMBOLT, Wilhelm. Introduction to his Tranlation of Agamemnon. In: SHULTE,
R.; BIGUENET, J. Theories of translation: an anthology of essays from Dryden to
Derrida. Chicago. The University of Chicago Press, 1992. p. 55-59.
LEFFA, Vilson. Metodologia do Ensino de Lnguas. In: BOHN, Hilrio,
VANDRESSEM, Paulino (Orgs.). Tpicos de Lingustica Aplicada: o ensino de ln-
guas estrangeiras. Florianpolis: EdUFSC, 1988.
LIMA, Digenes Cndido de. Vozes da (Re)Conquista: o papel da cultura no ensi-
no de lngua inglesa. Polifonia, Cuiab, Editora Universitria, ano 10, n. 15, p. 87-
107, 2008.
LUCINDO, Emy Soares. Traduo e ensino de lnguas estrangeiras. Scientia Tra-
duc-tionis, n. 3, 2006. Disponvel em: <www.scientiatraductionis.ufsc.br>. Acesso
em: 28 jan. 2012.
NEVES, Maralice de Souza. Os Mitos de Abordagens Tradicionais e Estruturais
ainda Interferem na Prtica em Sala de Aula. In: PAIVA, Vera L. M. de Oliveira e
(Org.). Ensino de Lngua Inglesa: reflexes e experincias. Campinas: Pontes,
1996.
RICHARDS, Jack C.; RODGERS, Theodore S. Enfoques y mtodos en la enseanza de
Idiomas. Madrid: Cambridge University Press, 2001.
ROMANELLI, Sergio. O ensino/aprendizagem de pronomes do italiano: interfe-
rncia na interlngua do falante do portugus brasileiro. Desempenho, UnB, p. 41-
50, 2003.
ROMANELLI, Sergio. O uso da traduo no ensino-aprendizagem das lnguas es-
trangeiras. Disponvel em: <http://seer.bce.unb.br/index.php/horizontesla/ar
ticle/viewFile/2942/2546>. Acesso em: 15 dez. 2012.
TESSARO, Annye C. A traduo no ensino-aprendizagem de lnguas estrangeiras a
distncia: o curso de Letras Espanhol da UFSC. Disponvel em: <http://www.
pget.ufsc.br/curso/dissertacoes/Annye_Cristiny_Tessaro_-_Dissertacao. pdf>.
Acesso em: 22 jan. 2013.
A CONSTRUO DO SENTIDO DO VOCABULRIO
DA LNGUA PORTUGUESA POR SURDOS
Catia Regina Zge Lamb
1
Graciele H. Welter
2
1 INTRODUO
O Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa (IFFarrou-
pilha) tem como misso promover a educao profissional, cientfica e
tecnolgica por meio do ensino, da pesquisa e da extenso. Oferta cur-
sos de formao tcnica em nvel mdio e superior. Uma de suas fina-
lidades desenvolver a cultura da educao para a convivncia e para
a aceitao da diversidade, propiciando a incluso de todos na educa-
o, aes que realiza com o auxlio do Ncleo de Apoio s Pessoas
com Necessidades Especiais (NAPNE). Por meio de uma poltica edu-
cacional de acesso e permanncia, alunos com necessidades especiais
tm a oportunidade de estudar em cursos tcnicos e superiores.
Neste estudo de caso, focamos a leitura de uma aluna surda que
cursa o 6 semestre do Curso de Licenciatura em Matemtica, que re-
cebe apoio do referido Ncleo com a presena de intrpretes que a
acompanham em todo o processo educativo. Apresentamos, ento,
neste texto um relato de experincia de prticas de atividades de lei-
tura desenvolvidas em sala aula, na disciplina de Lngua Portuguesa,
prticas estas que envolvem tanto a docente quanto a tradutora/in-
trprete de Libras que atuam diretamente com a acadmica surda.
1
Mestre em Geografia (UFSM) e Bacharel em Letras/Libras-Bacharelado (UFSC); Tra-
dutora/Intrprete de Libras/Lngua Portuguesa no Instituto Federal Farroupilha
Campus Santa Rosa. E-mail: catiarlamb@yahoo.com.br
2
Mestre em Letras (UPF), Especialista em Metodologia do Ensino do Portugus e Licen-
ciada em Letras (URI). Professora do Ensino Bsico, Tcnico e Tecnolgico do Instituto
Federal Farroupilha Campus Santa Rosa.
E-mail: graciele.welter@sr.iffarroupilha.edu.br
Catia Regina Zge Lamb & Graciele H. Welter
342
Entendemos que o processo de construo do sentido do voca-
bulrio da lngua portuguesa por surdos bastante complexo. Ns,
ouvintes, adquirimos e utilizamos uma lngua na modalidade oral-
auditiva e apoiamo-nos nela para ento iniciarmos o processo de
aprendizado da escrita. Mas como acontece esse processo relativa-
mente s pessoas surdas, uma vez que a primeira lngua a Lngua de
Sinais, modalidade viso-espacial, e a segunda lngua o Portugus, na
modalidade escrita?
A partir da experincia que temos com sujeitos surdos, ao traba-
lharmos com a traduo e interpretao de textos escritos, buscamos
neste artigo apresentar algumas reflexes sobre como ocorre a com-
preenso da escrita e a construo de sentidos das palavras por estes
sujeitos.
2 SURDOS: UM GRUPO CULTURAL E LINGUSTICO
Neste trabalho, buscamos refletir acerca da construo do sentido
do vocabulrio da lngua portuguesa por surdos, fazendo-se pertinente
iniciarmos o estudo com uma caracterizao desses sujeitos.
O primeiro ponto a destacar que os surdos so vistos pelo dis-
curso da diferena, sendo sujeitos de identidades culturais constru-
das nas comunidades surdas, sujeitos que experienciam artefatos pe-
culiares dessa cultura (CAMATTI; GOMES, 2011, p. 163), ou seja, rea-
firmando um processo que visa reconstituir a experincia da surdez
como um trao cultural, tendo a lngua de sinais como elemento signi-
ficante para essa definio (S, 2006, p. 65). Deixamos de lado o olhar
clnico conferido a esses sujeitos, que eram tratados como pessoas que
no ouviam e no falavam, mas que, por meio de aporte de profissio-
nais da sade para sanar essa falta, foram sendo enquadrados num
padro de normalidade imposto pela maioria da sociedade que ouve,
v e fala. Hoje chegamos ao entendimento de que os surdos so pessoas
que compartilham experincias visuais, cultura e uma lngua prpria,
sendo reconhecidos, ento, a partir da diferena.
O segundo ponto que podemos destacar pela parfrase de S
(2006), quando salienta que a experincia da surdez um trao cultu-
ral e, nessa cultura surda, a lngua de sinais um elemento que assu-
me significao.
Atualmente, a lngua de sinais reconhecida oficialmente como
a lngua das comunidades surdas, mas muitos estudos foram desen-
volvidos por linguistas para dar a ela esse status.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
343
O incio das pesquisas lingusticas sobre as lnguas de sinais se
deu com o pesquisador Stokoe, em 1960, quando ficou reconhecido
que:
As lnguas de sinais so, portanto, consideradas pela lingustica co-
mo lnguas naturais ou como um sistema lingustico legtimo e no
como um problema do surdo ou como uma patologia de linguagem.
Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a lngua de sinais
atendia a todos os critrios lingusticos de uma lngua genuna, no
lxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita
de sentenas. (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 30)
A partir dos estudos de Stokoe, no Brasil, seguiram-se as pesqui-
sas de Ferreira Brito (1995), Karnopp (1994) e Quadros (1995/1999),
que a comparam com as lnguas orais e assim comprovam que os
mesmos aspectos gramaticais presentes nas lnguas faladas esto na
Lngua Brasileira de Sinais (Libras). Diante desses estudos, a Libras
reconhecida oficialmente como lngua oficial das comunidades surdas
do Brasil em 24 de abril de 2002, quando o presidente da Repblica
promulgou a Lei n 10.436, assim descrita:
Art. 1 reconhecida como meio legal de comunicao e expresso
a Lngua Brasileira de Sinais Libras e outros recursos de expres-
so a ela associados.
Pargrafo nico. Entende-se como Lngua Brasileira de Sinais
Libras a forma de comunicao e expresso, em que o sistema lin-
gustico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical pr-
pria, constituem um sistema lingustico de transmisso de ideias e
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
(BRASIL, 2002)
Com a promulgao dessa lei, e mais tarde com o Decreto 5.626,
de 22 de dezembro de 2000, que a regulamenta, fica claro que a primei-
ra lngua do sujeito surdo no Brasil a Libras. A Lngua Portuguesa,
mesmo sendo a lngua oficial do pas, a segunda lngua desses sujei-
tos. Cabe salientar ainda que o portugus para os surdos o da modali-
dade escrita.
Assim, estamos perante uma diferena no apenas cultural, mas
tambm lingustica, entre surdos e ouvintes, em que as lnguas utiliza-
das tm outro diferencial, enquanto a lngua portuguesa para ouvintes
na modalidade oral-auditiva, a lngua de sinais para os surdos na
Catia Regina Zge Lamb & Graciele H. Welter
344
modalidade viso-espacial, ou seja, so dois canais diferentes usados
para internalizar essas lnguas.
Diante das diferenas de modalidade, surge o desafio para os
ouvintes de aprender uma lngua com estruturas diversas da lngua
falada; e, para os surdos, o de aprender uma lngua escrita, que exige
grande esforo da memria visual, j que os surdos no dispem do
recurso auditivo para a construo dessa escrita e para a construo
de sentidos do texto.
3 OS SURDOS E O PORTUGUS: A COMPREENSO DO VOCABULRIO
Ler e compreender so habilidades complexas. A construo do
sentido de uma palavra ou de um texto depende de vrios elementos.
Conforme Koch (2005, p. 17), a compreenso de um texto passa a ser
entendida como uma atividade interativa altamente complexa de
produo de sentidos (grifo da autora). Portanto, o sentido no pode
preexistir interao. A autora destaca nessa relao trs elementos
essenciais:
1. o produtor/planejador, que procura viabilizar o seu projeto de
dizer, recorrendo a uma srie de estratgias de organizao textual
e orientando o interlocutor, por meio de sinalizaes textuais (ind-
cios, marcas, pistas) para a construo dos (possveis) sentidos;
2. o texto, organizado estrategicamente de dada forma, em decor-
rncia das escolhas feitas pelo produtor entre as diversas possibili-
dades de formulao que a lngua lhe oferece, de tal sorte que ele
estabelece limites quanto s leituras possveis;
3. o leitor/ouvinte, que, a partir do modo como o texto se encontra
lingisticamente construdo, das sinalizaes que lhe oferece, bem
como pela mobilizao do contexto relevante interpretao, vai
proceder construo dos sentidos. (KOCH, 2005, p. 19)
Nessa interao que ocorre especialmente entre produtor, texto
e leitor, realiza-se a construo do sentido das palavras e do texto co-
mo um todo. Mas como acontece esse processo para pessoas surdas,
que tm a lngua de sinais modalidade viso-espacial como primeira
lngua e a segunda lngua, o portugus, na modalidade escrita? Uma
vez que, para os ouvintes:
A decodificao um aspecto peculiar a leitores iniciantes que cos-
tumam recorrer audio como caminho para fazer a informao
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
345
visual da escrita chegar ao crebro. Como conhecem os sons das le-
tras a rota fonolgica os auxilia na recodificao dos sons em sla-
bas que se unem at formar unidades de significado (palavras) que
so reconhecidas ou no pelo dicionrio mental. Se forem reconhe-
cidas so compreendidas; se no forem reconhecidas, no houve
leitura, apenas decodificao. (FERNANDES, 2006, p. 9)
No caso dos surdos, conforme Fernandes (2006), a leitura no
ocorre recorrendo s relaes letrasom, que chamamos de rota fono-
lgica. J nos primeiros contatos com a escrita, as palavras so proces-
sadas mentalmente como um todo, sendo reconhecidas em sua forma
grfica que denominada rota lexical, ou seja, elas so fotografadas
e memorizadas no dicionrio mental, se a elas corresponder alguma
significao. Caso no haja sentido, da mesma forma que, para os ou-
vintes, no houve leitura. Ento, a prpria interao entre texto e lei-
tor surdo complexa. Observamos a importncia do acompanhamento
do tradutor/intrprete de Libras para auxiliar no momento da leitura e
no processo de interao entre texto e aluno surdo. Da a necessidade
de possibilitar a esse aluno maior tempo para a leitura, maior tempo
para interagir com o texto, sendo que essa interao precisa ser media-
da pelo professor e tambm pelo profissional tradutor/intr-prete de
Libras que transita por duas lnguas de modalidades diferentes e tam-
bm por dois grupos culturais distintos. Porque
Ler no passa apenas pelo reconhecimento e compreenso das pa-
lavras isoladas. A atividade da leitura se d em contextos lingusti-
cos mais amplos, em que as palavras so combinadas para a forma-
o de enunciados. Apenas o reconhecimento e a memorizao de
forma externa da palavra no garantem a sua compreenso, pois o
contexto que lhe delimitar o sentido. (FERNANDES, 2006, p. 10)
Ou seja, para compreender a palavra, ou um texto, dentro de um
determinado contexto
3
, o aluno surdo precisa do acompanhamento e
da orientao do professor para que a leitura gere a construo do
sentido conforme a situao comunicativa delimitada pelo texto ou
discurso. Se as prticas tradicionais da leitura requerem o reconheci-
3
Entendemos que o contexto passa a constituir agora a prpria interao e seus sujei-
tos: o contexto constri-se, em grande parte, na prpria interao (KOCH, 2004, p.
32), ou seja, para cada atividade comunicativa tem-se um contexto especfico constru-
do durante a interao.
Catia Regina Zge Lamb & Graciele H. Welter
346
mento, identificao e atribuio de significados a smbolos grficos,
para os surdos,
[] isso significa ir sinalizando palavra por palavras no texto, pu-
lando elementos gramaticais de coeso. Esse processo de leitura
mecnica no possibilita a compreenso, mas to somente a identi-
ficao de palavras no texto. O problema a implicado a aparente
incapacidade de o aluno construir relaes significativas entre texto
escrito, outras reas do conhecimento e suas vivncias.
(FERNANDES, 2006, p. 10, grifo do autor)
O processo de leitura mecnica ao qual Fernandes (2006) se re-
porta preocupante, pois nesse processo no h uma preocupao
com a compreenso do texto pelo leitor surdo, ou pior, em muitos ca-
sos ele acaba construindo um sentido que no aquele proposto pelo
autor. Isto ocorre em muitos casos, pois os surdos:
Ao se depararem com o texto escrito, o primeiro impulso sinalizar
linearmente palavra por palavra (pulando as desconhecidas), o que
uma estratgia inadequada que no garante a compreenso dos
enunciados. Primeiro por no haver isonomia estrutural (corres-
pondncia termo-a-termo) entre o portugus e a lngua de sinais.
Segundo, porque sinalizam o primeiro significado que lhes vinham
cabea, no necessariamente o sentido atribudo s palavras no
contexto. (FERNANDES, 2006, p. 11)
Situaes como as referidas, de sinalizar palavra por palavra,
atribuindo s palavras o primeiro significado que lhes vier cabea,
foram identificadas durante as leituras realizadas pela aluna surda.
Durante as aulas, nas prticas de leitura com a aluna, fomos rea-
lizando o registro das palavras postas nos textos e da primeira cons-
truo de sentido feita pela aluna. O quadro a seguir sintetiza algumas
das palavras/expresses presentes nas atividades de leitura. Na pri-
meira, coluna apresentamos os trechos de textos estudados em aula
com destaque (em negrito) de algumas palavras; na segunda coluna
apresentamos o significado dessas palavras na situao de comunica-
o e no texto especficos; e na terceira coluna apresentamos como foi
feita a leitura de uma palavra da lngua portuguesa pela aluna.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
347
Quadro 1: Comparao proposta pelas autoras
Trechos de textos com a
palavra destacada
Sentido da palavra no texto
Sentido da palavra
sinalizada pela aluna
A respeito da construo do
LEM
Em relao
Respeito do verbo que
indica ao de respeitar
Observe a linguagem empre-
gada no texto e
Utilizada no texto
Empregada trabalhadora
domstica
por meio das possveis e
indispensveis contribuies
dos professores
Indispensvel, importante,
que no pode faltar
responsvel substantivo
feminino, pessoa respons-
vel
reduo de tarifa do trans-
porte
Tarifa, substantivo que indica
custos
tarefa ato de trabalhar
Embora, a nosso ver, a des-
contextualizao da Matem-
tica
Embora, ainda que, apesar de
embora do verbo sair, ir
embora
Aps fortes temporais na
madrugada, chuva volta
Temporais, tempestades
termmetro, aparelho de
medir a temperatura
crianas com melhores no-
es espaciais foram me-
lhor
Espacial, relativo a espacial,
percepo espacial
especial que tem muito
valor, prprio, peculiar
e vira letra de cano Cano, msica corao rgo do corpo
contornando por uma cala-
da de largura
Calada, faixa destinada ao
trnsito de animais e pedes-
tres
calado tipo de sapato,
serve para proteger os ps
Analisando o quadro podemos destacar pelo menos trs situa-
es. Primeiramente, a aluna sinaliza para a palavra um sentido que
no est presente no texto. Apesar de ela ler corretamente uma parte
dos textos, essas construes de sentido equivocadas que ocorrem
com alguns vocbulos acabam por comprometer a compreenso do
todo (seja um texto curto como a ordem de um exerccio ou um par-
grafo de um texto mais longo), fazendo com que a aluna no consiga
atribuir um sentido claro ou coerente ao que l.
A segunda situao que cotejamos por meio deste quadro a
troca de letras em algumas palavras o que, no caso especfico, acarre-
tou tambm troca de sentido. As trocas de letras se devem em grande
parte por causa da memorizao das palavras em sua globalidade e
no a partir de sua estrutura fontica (FERNANDES, 2002). Alm dis-
so, o fato de a escrita ter uma relao fnica com a lngua oral pode e
Catia Regina Zge Lamb & Graciele H. Welter
348
de fato estabelece outro desafio para o surdo: reconhecer uma reali-
dade fnica que no lhe familiar acusticamente. So smbolos abs-
tratos para o surdo (GESSER, 2009, p. 56).
A outra situao que verificamos que com o auxlio da traduto-
ra/intrprete de Libras a leitura e a construo de sentido das pala-
vras ou do texto facilitada e se torna mais coerente para a aluna sur-
da. E isso no acontece porque a intrprete oferece aluna um sentido
correto ou pronto da palavra, mas porque na mediao houve h
uma interpretao em que a mensagem foi passada da lngua portu-
guesa para a lngua de sinais. Em segundo lugar, porque entre aluna,
intrprete e professor ocorre uma interao comunicativa que conduz
construo de um sentido apropriado para a situao de comunicao
que vivenciam todos que esto em aula e, tambm, para a construo
de um sentido apropriado lngua portuguesa. Diante dessas coloca-
es, possvel concluir que, seja para surdos, seja para ouvintes:
A leitura , pois, uma atividade interativa altamente complexa
de produo de sentidos, que se realiza evidentemente com base
nos elementos lingusticos presentes na superfcie textual e na sua
forma de organizao, mas requer a mobilizao de um vasto con-
junto de saberes no interior do evento comunicativo. (KOCH; ELIAS,
2006, p. 11, grifos do autor)
Assim, verificamos, durante as aulas, nos momentos de leitura,
que ler um processo que demanda um grande esforo do surdo. De-
manda o controle de seu sentimento de medo e insegurana frente
compreenso da lngua portuguesa escrita, considerada uma lngua
estrangeira. Exige uma interao respeitosa e confiante entre intr-
prete, professor e colegas. Exige um tempo maior para identificar um
sentido prprio s palavras em lngua portuguesa, adequado situa-
o comunicativa em anlise. Isso nos faz concordar com o fato de
que:
Na lngua portuguesa, h tambm um fator emocional em jogo, que
diz respeito memria negativa retratada a partir da experincia
de vrios surdos alfabetizados. Uma aluna surda contou que sem-
pre que ela tem que escrever fica muito nervosa, tem vergonha de
errar, resiste, no tem prazer em faz-lo e sempre fica preocupada
com as reaes de quem vai ler o que ela escreve. (GESSER, 2009, p.
56)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
349
A situao descrita por Gesser (2009) foi vivenciada no processo
educativo da aluna surda, participante da pesquisa aqui relatada. So
experincias que nos fazem refletir sobre como estamos trabalhando
em sala de aula e se estamos trabalhando com critrios diferenciados,
compreendendo e aceitando que a lngua de sinais organiza de forma
lgica as ideias dos surdos a partir de uma estrutura gramatical pr-
pria.
Sabemos que a lngua de sinais produzida por meio de recur-
sos gestuais e espaciais e sua percepo ocorre por meios visuais
(FERNANDES, 2002), logo para os surdos se processa naturalmente.
Enquanto:
A lngua portuguesa no ser a lngua que acionar naturalmente o
dispositivo devido, falta de audio da criana. Essa criana at
poder vir a adquirir essa lngua, mas nunca de forma natural e es-
pontnea, como ocorre com a lngua de sinais. (QUADROS, 1997, p.
27)
Apesar de a maioria dos surdos apresentarem dificuldades na
construo de sentidos durante as leituras, por no ser o portugus a
sua lngua natural, importante destacar que isso no quer dizer que
ler seja impossvel. necessrio, sim, a atuao de tradutores/intr-
pretes de Libras presentes nessas construes a mediao de profes-
sores que faam uso de metodologias e avaliaes coerentes com a
realidade cultural e lingustica desses alunos.
4 CONSIDERAES FINAIS
A atividade de leitura para o aluno surdo um trabalho comple-
xo de interao com o texto, que, num primeiro momento, resulta na
construo de um sentido nem sempre coerente ao proposto pelo
produtor do texto. Assim, o professor necessita compreender essas
prticas de leitura como prticas que precisam ser contextualizadas,
trabalhadas de forma interativa, adaptadas a diferentes situaes de
comunicao para levar percepo do aluno surdo o significado de-
vido das palavras/expresses da lngua portuguesa. Ento, mesmo no
trabalho com surdos inseridos na escola regular, necessrio mobili-
zar estratgias de transposio didtica dessas prticas para o traba-
lho com leitura em lngua portuguesa.
Catia Regina Zge Lamb & Graciele H. Welter
350
Consideramos que os surdos, para desenvolverem um bom en-
tendimento da lngua portuguesa escrita, necessitam, em primeiro lu-
gar, ser alfabetizados na sua primeira lngua, uma vez que essa base
que dar suporte para a adquirirem a segunda lngua. Sem dvida, o
processo de entendimento da lngua escrita (do portugus) muito
difcil para os surdos, pois eles contam apenas com a memria visual
para fazerem o registro, havendo em muitas situaes confuso entre
significados e significantes das palavras. As situaes identificadas e
analisadas neste trabalho podem ser visualizadas no Quadro I. Nele
ficou claro o quanto palavras simples do nosso contexto de ouvintes
so complexas para os surdos e no contexto do texto podem ganhar
sentidos completamente diferentes, quando lidas pelo sujeito surdo.
Mesmo com as dificuldades encontradas pelos surdos, poss-
vel, em uma escola e em uma sala de aula que aceitam e praticam a
cultura da educao para a convivncia e para a aceitao da diversida-
de, auxiliar o aluno surdo a construir sentido para as palavras e textos,
a partir de um processo de leitura que valorize a interao entre alu-
no, professor, intrprete e o ensino de lngua portuguesa. Ainda mais,
possvel mediar um processo de leitura que ajude o aluno surdo a
compreender a importncia da situao comunicativa para a constru-
o ou delimitao de sentido de uma palavra.
Alm disso, tambm necessrio que a instituio de ensino
disponha de recursos humanos especiais tradutores/intrpretes de
Libras que possam se fazer presentes nas construes escritas dos
surdos e nas leituras, de forma a auxili-los fazendo contrapontos en-
tre a lngua de sinais e a lngua portuguesa. Finalizando, muito im-
portante, alm disso, os professores adotarem metodologias e avalia-
es coerentes com a realidade cultural e lingustica desses alunos,
lembrando sempre que o portugus a segunda lngua deles.
Assim, a permanncia dos alunos surdos nas instituies e sua
aprendizagem dependem muito do processo de ensino que, obrigato-
riamente, passa pela leitura e pela compreenso.
REFERNCIAS
BRASIL. Lei 10. 436, de 24 de abril de 2002. Lei de oficializao da Libras. Dirio
Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil, Braslia, DF, 25 de abril de 2002. Dis-
ponvel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm>.
Acesso em: 28 jan. 2012.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
351
CAMATTI, L.; GOMES, A. P. G. A captura da cultura e da diferena: articulaes a
partir de uma poltica bilngue para surdos. In: HILLESHEIM, B.; THOMA, A. da S.
(Orgs.) Polticas de Incluso: gerenciando riscos e governando as diferenas. San-
ta Cruz do Sul: ADUNISC, 2011. p. 165-178.
FERNANDES, S. Critrios diferenciados de avaliao na lngua portuguesa para
estudantes surdos. 2. ed. Curitiba: SEED/DEE, 2002.
FERNANDES, S. Prticas de Letramento na Educao Bilngue para Surdos. Curiti-
ba: SEED, 2006.
GESSER, A. Libras? Que Lngua essa? Crenas e preconceitos em torno da Ln-
gua de Sinais e a da realidade surda. So Paulo: Parbola Editoria, 2009.
KOCH, I. V. Introduo lingstica textual: trajetria e grandes temas. So Paulo:
Martins Fontes, 2004.
KOCH, I. V. Desvendando os segredos do texto. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2005.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto. So Paulo: Con-
texto, 2006.
QUADROS, R. M. de. Educao de surdos: a aquisio da linguagem. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1997.
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Lngua de Sinais Brasileira: Estudos lingusti-
cos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
S, N. R. L. de. Cultura, Poder e Educao de Surdos. So Paulo: Paulinas, 2006.
Parte III
NARRATIVAS LITERRIAS E
MIDITICAS
AUTONARRATIVAS: TECENDO REDES ENTRE
OS CONCEITOS DE AUTORIA, COMPLEXIFICAO E
AUTOCONSTITUIO DO HUMANO
Beatriz Rocha Araujo
1
1 INTRODUO
Ao pensar em narrativas, associo a ideia de textos produzidos
com o objetivo literrio, ainda que as narrativas estejam presentes em
vrios contextos e situaes da vida cotidiana dos humanos, sendo
eles leitores ou escritores de obras literrias ou no. Esse fato aconte-
ce devido s inmeras possibilidades de o humano entrar em contato
com as diferentes formas de narrativas, como as literrias, entre elas
os contos e romances, entre outros gneros. Tambm h outras for-
mas, no menos importantes, porm, no reconhecidas como liter-
rias, como as novelas, os filmes, e as escritas pessoais pblicas (sites
de relacionamentos, blogs, ou outros meio digitais de publicao), ou
privados como os dirios.
Nesse momento, me proponho a discutir a temtica das narrati-
vas, iniciando com as contribuies tericas sobre o conceito de narra-
tiva, para diferenciar as literrias de outros tipos de narrativas, como as
autonarrativas, que se constituem de relatos e escritas pessoais, e como
essas potencializam a complexificao e autoconstituio do ser huma-
no, pelo ato de escrever sobre si e seus sentimentos e emoes. Portan-
to, apresento as minhas reflexes enquanto pesquisadora de um pro-
cesso de pesquisar um grupo de 15 adolescentes, que teve como tem-
tica as autonarrativas e constituem o objeto de estudo de minha disser-
tao de mestrado intitulada Virtualidade e narrativas: o ambiente di-
gital como complexificador da auto-constituio/cognio.
1
Mestre em Educao pela UNISC Bolsista BIPSS 2012.
E-mail: baraujo.psi@hotmail.com
Beatriz Rocha Araujo
356
Para iniciar a discusso sobre a temtica das narrativas, iniciarei
mapeando o conceito de narrativas e elementos que a constituem, en-
quanto uma escrita das belas letras. Seguirei aprofundando termos
como autoria e narrador, bem como compreender o papel de cada um
desses elementos na narrativa literria. Aps definir as narrativas lite-
rrias e seus aspectos constitutivos, passarei a discutir as questes
referentes s autonarrativas, ou as escritas pessoais, e como pensar as
mesmas em relao s questes de complexificao e metacognio do
humano, j que a escrita um momento de constituio do humano,
transformando e significando a si prprio, por meio de processos au-
topoiticos e de inseparabilidade entre o conhecer/subjetivar-se.
2 NARRATIVAS: ALGUMAS CONTRIBUIES
As narrativas so abordadas por diferentes tericos, cada um
com o seu ponto de vista, apresentando uma viso para a temtica,
alguns sob o ponto de vista literrio, com uma estrutura e elementos
das narrativas presentes, enquanto outros trabalham com uma viso
da escrita enquanto um processo de constituio do humano, potencia-
lizando a transformao e significao de si.
A primeira ideia acerca da temtica narrativas est associada
s narrativas literrias, ou obras de arte literrias, consideradas assim
pela estrutura e elementos do texto, geralmente so escritas por escri-
tores reconhecidos tanto da literatura brasileira como da estrangeira.
Segundo Rosenfeld (2002, p. 11) literatura tudo o que aparece fixa-
do por meio de letras, portanto, toda a escrita um texto que faz par-
te da literatura, de acordo com Rosenfeld (2002), independentemente
do objetivo de comunicao que o autor queira apresentar ao leitor,
ou apenas registrar de forma escrita, como a histria das aventuras de
um personagem, uma notcia, a receita de um bolo, ou mesmo os regis-
tros de sentimentos e emoes de quem escreve, porm, as obras de
arte literrias utilizam critrios de esttica, possibilitando o reconhe-
cimento das mesmas,
O uso conjunto de ambos os critrios recordaria, dentro do prprio
campo das belas letras, uma rea de interseco limitada quelas
obras que ao mesmo tempo tenham carter ficcional e alcancem al-
to nvel esttico. (ROSENFELD, 2002, p. 12)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
357
Para alcanar esse nvel esttico, o texto apresenta uma estrutura
que compe-se de uma srie de planos, dos quais o nico real, sensi-
velmente dado, o sinal tipogrfico impresso no papel (ROSENFELD,
2002, p. 12), pois cada leitor pode significar a sua leitura, de acordo
com suas questes subjetivas e individuais, no necessariamente com
o significado proposto inicialmente pelo autor, j que esse tem sua his-
tria, seus valores, seus sentimentos, que tambm compem o texto.
Nas obras de arte literrias, a narrativa, segundo DOnofrio,
(1995, p. 53) : todo discurso que apresenta uma histria imaginria
como se fosse real, constituda por uma pluralidade de personagens,
cujos episdios de vida se entrelaam num tempo e num espao de-
terminado.
Essa histria, a que DOnofrio (1995) se refere no pertencimento
da narrativa ao mundo do imaginrio, tambm traz elementos do
mundo real, e somente existe por intermdio da linguagem, geralmen-
te escrita, quando narrada em forma de texto. Como na narrativa, a
linguagem est presente em muitos espaos da vida do humano, em
especial nas linguagens (verbal, gestual, escrita, entre outras). O autor
ainda ressalta a importncia dela para sustentar toda e qualquer for-
ma de narrativa, articulando as diferentes personagens, histrias loca-
lizadas em determinado tempo e espao. As narrativas podem perma-
necer em diferentes lugares, sociedades, momentos histricos e cultu-
rais, de acordo com a significao que o escritor e o leitor fazem desta.
A linguagem um elemento constitutivo do humano, pela qual
estabelece comunicao. Dessa forma,
O homem assim, essencialmente, um ser de linguagem, mas a lin-
guagem, que o define, lhe escapa de maneira igualmente essencial.
Este movimento de disponibilidade e de evaso explica tambm por
que a linguagem humana no pode ser reduzida sua funo ins-
trumental de transmisso de mensagens: os homens j nascem num
mundo de palavras das quais no so os senhores definitivos; s
quando desistem desta iluso de senhoria e de dominao para
responder a esta doao originria, s ento eles, verdadeiramente
falam. (GAGNEBIN, 1994, p. 25)
Conforme ressaltado por Gagnebin (1994), as palavras no tm
a funo de definir o homem, pois se modificam com o tempo, e com
relao e forma de apropriao que o humano faz da linguagem. Por-
Beatriz Rocha Araujo
358
tanto, tanto o humano quanto as linguagens se complexificam por
meio das interaes que fazem em suas relaes cotidianas.
Seguindo seu pensamento, Gagnebin (1994) ainda ressalta a im-
portncia da linguagem justamente pela comunicao que o humano
estabelece com o outro, no sendo somente com o objetivo de trans-
mitir uma mensagem, mas de interagir e relacionar-se com o mundo a
sua volta, possibilitando a complexificao e autoconstituindo-se en-
quanto pessoa e um ser em relao com o mundo em que vive.
A linguagem uma das formas que os humanos utilizam para se
comunicar. Portanto, a comunicao entre os humanos vai alm das
palavras ditas ou escritas, realizado mediante pequenos gestos, o
toque, um simples olhar que traz junto grandes sentimentos como os
de compreenso, amizade, carinho. Dessa maneira, pela linguagem
que o humano relaciona-se com os demais, estabelecendo relaes e
se constituindo constantemente enquanto humano.
No somente tericos que estudam as questes da literatura
contribuem com a discusso acerca da linguagem. O bilogo Humber-
to Maturana (1998) estudou as questes relacionadas com a organiza-
o do ser vivo, enquanto um constante produtor de si mesmo, contri-
buindo, dessa forma, com a discusso, pois considera que o humano se
constitui enquanto tal na interao/relao com os demais mediante o
linguajar/emocionar.
As ideias do linguajar/emocionar foram propostas por Maturana
(1998, p. 21), que compreende o termo linguajar como enfatizando
seu carter de atividade, de comportamento, e evitando assim a asso-
ciao com uma faculdade prpria da espcie, como tradicionalmente
se faz. Portanto, todos os humanos apropriam-se do linguajar para
estabelecer as suas relaes, com caracterstica prpria da espcie
mesclada com as suas emoes. O pesquisador ainda ressalta que o
peculiar do humano no est na manipulao, mas na linguagem e no
entrelaamento com o emocionar (MATURANA, 1998, p. 19).
O humano se constitui na relao do linguajar/emocionar, crian-
do uma construo que lhe prpria e que constantemente trans-
formada, de acordo com as interaes que estabelece com o mundo e
com os outros humanos, j que o humano se constitui no entrelaa-
mento do emocional com o racional (MATURANA, 1998, p. 18).
Segundo Maturana (1998, p. 65), a linguagem tem uma funo
especial na interao entre os humanos, uma vez que a linguagem
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
359
tambm surge na histria dos seres vivos no mbito de interaes re-
correntes. As interaes que o bilogo relata so todos os tipos de
relaes estabelecidas pelos humanos. Por meio dessas relaes
possvel interagir com os demais, que esto a sua volta, ou no espao
de interao desse humano. Dessa forma, essas interaes potenciali-
zam a constante reconfigurao do sujeito enquanto pessoa, pois a cada
momento que interage com o outro, transforma a sua prpria forma
de ser enquanto humano, reconfigurando-se enquanto ser vivo.
Dessa maneira, a linguagem compreendida como um fenmeno
prprio do ser vivo, ou associado ao ser vivo em termos de smbolos
(MATURANA, 1998, p. 58). A linguagem tem suas caractersticas e se
constitui e se incorpora ao viver e ao modo de viver do humano. As
mudanas da linguagem acontecem na interao do homem com o ou-
tro, ou com o mundo, j que vivo no presente interconectado que vai
gerando continuamente como uma transformao do espao de con-
gruncias a que pertencemos (MATURANA, 1998, p. 65).
O autor ainda evidencia a importncia da linguagem na consti-
tuio do humano, como elemento de transformao do homem e da
prpria linguagem. Assim, nada do que fazemos ou pensamos trivial
nem irrelevante, porque tudo o que fazemos tem consequncias no
domnio das mudanas estruturais a que pertencemos (MATURANA,
1998, p. 65). Quando interajo com e pela linguagem, provoco mudan-
as tanto no ser humano como na linguagem.
A linguagem e seu conceito vm sofrendo grandes influncias
dos aspectos da vida moderna e da histria da humanidade, como a
descoberta do fogo, criao da roda e diferentes dispositivos tecnol-
gicos, que envolvem processos de aprendizagens. Para isso, necess-
ria a transformao de nossa corporalidade, que segue um curso ou
outro dependendo do nosso modo de viver. (MATURANA, 1998, p.
60). Portanto, a linguagem j se transformou e transformou as rela-
es dos seres humanos, enquanto o prprio homem tambm se
transformou com suas interaes com o mundo em comunicao.
por meio da linguagem que o humano estabelece relaes com
os outros, o que possibilita uma multiplicidade de narrativas. Dessa
forma, preciso analisar alguns de seus elementos constitutivos, que so
as regras que se apresentam sempre da mesma forma, independente-
mente do tipo de narrativa. Quando penso nos aspectos literrios, as
narrativas so um tipo de texto com suas caractersticas especficas e
Beatriz Rocha Araujo
360
elementos que as constituem: como a estrutura e os elementos narrati-
vos, entre eles: o narrador, os personagens, o tempo, o lugar
So as misturas dos diversos elementos constitutivos da narrati-
va que compem a histria. Porm, Bruner (2002, p. 4) ressalta a im-
portncia do leitor, mediante os processos de identificao, porque,
em seu conjunto, eles representam o elenco de personagens que ns,
os leitores, inconscientemente carregamos dentro de ns.
Essa identificao que, segundo Bruner (2002, p. 4), torna a
histria muito maior, pois o texto afeta o leitor e, de fato, o que pro-
duz tais efeitos no leitor, como realmente ocorre, isso faz com que a
pessoa, que l o texto, o transforme em um acontecimento, produzin-
do um significado especial para seu o contexto pessoal.
Conforme ressaltado pelo autor citado, a questo da significao,
acontece em congruncia com os processos de identificao, que se
constituem como um mecanismo de defesa do ego
2
do humano. No
somente, a esse mecanismo de defesa, que pode estar presente na sig-
nificao do leitor, mas qualquer outro que potencialize esse processo.
Portanto, pelas significaes criadas pela prpria pessoa que possi-
bilitam que o leitor
3
, em alguns momentos, nutra algum tipo de senti-
mento por determinado personagem ou fato narrado, enquanto em
outros momentos da mesma narrativa esse sentimento mude de acordo
com os acontecimentos que decorreram nesse processo. Esses fatos
acontecem a partir da significao que o leitor tem da narrativa e a par-
tir de suas vivncias e experincias relacionadas ou no com o fato nar-
rado. Isso acontece quando o leitor construiu uma srie de elementos
internos, que possibilitam significar e ressignificar as experincias de
leitura ou a participao em uma narrativa, mediante suas caractersti-
cas, valores ticos, morais e atitudes, enfim, todos os aspectos indivi-
duais e subjetivos de cada humano com as cenas, personagens, fatos e
situaes narradas. a composio do conjunto de elementos que cons-
tituem as narrativas literrias enquanto uma obra de arte. Contudo, no
posso negar a importncia de cada um deles. Entre esses aspectos, dois
fatores determinam os caminhos que a narrativa percorre e proporcio-
nam ao leitor diferentes viagens pela histria narrada.
2
Conceito trabalhado por Anna Freud (2006) e utilizado pela psicanlise, para definir
as maneiras como o homem lida com as diferentes situaes em seu cotidiano, estabe-
lecendo relaes com o mundo.
3
O termo leitor utilizado como o sujeito que est em contato com a narrativa, seja ela
uma obra literria, uma telenovela ou qualquer outro tipo de mdia utilizada para a
sua divulgao.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
361
3 NARRADOR E AUTORIA: CONSTRUINDO A AUTONOMIA DO HUMANO
As narrativas so histrias reais ou imaginrias que nos so
contadas de forma verbal, escrita ou por meio de imagens. Todas
apresentam em comum os elementos que as constituem enquanto tal,
o que potencializa os caminhos a serem descritos, entre esses elemen-
tos posso citar a prpria estrutura da narrativa, formas verbais adota-
das na escrita no decorrer do texto como tempo e espao, e persona-
gens: como o autor e o narrador.
O primeiro elemento que apresento o narrador, que est pre-
sente em todos os momentos da narrativa. Portanto, o narrador um
personagem criado pelo autor com o objetivo de contar a histria, a
partir de seu ponto de vista, apresentando algumas caractersticas
prprias, adotando uma postura mais determinante ou mais secreta,
procurando palavras e expresses para definir os fatos que sero nar-
rados, adotando uma forma explcita ou implcita de sua fala ao narrar.
Ou seja, em algumas narrativas percebo a inteno desse personagem,
enquanto em outras, a mesma no revelada em nenhum momento.
Algumas vezes, so apresentadas peas de um grande quebra-cabea,
no qual o leitor ir significando e interpretando a sua leitura, confor-
me sua histria de vida e experincias anteriores.
DOnofrio (1995), de acordo com os critrios dos elementos de
uma narrativa literria
4
, enfatiza que o narrador no o autor, porm,
esse personagem que poder desvendar alguns fatos e episdios
narrados, segundo a sua viso, construdos de acordo com o perfil
desse personagem o narrador. O autor tem a possibilidade de meta-
morfosear-se por meio desse papel que criou na sua narrativa:
O narrador um ser ficcional autnomo, independente do ser real
do autor que o criou. As ideias, os sentimentos, a cosmoviso do
narrador de um texto literrio no coincidem necessariamente com
o ponto de vista do autor. (DONOFRIO, 1995, p. 54)
Pensando nessa perspectiva, o narrador no pertence ao mundo
da realidade, e vm com a possibilidade de apresentar um episdio
definido por uma srie de fatos, personagens e tempos. Nesse sentido,
o autor pertence ao mundo da realidade histrica; o narrador, a um
4
Consideradas aqui as das belas letras, segundo os critrios apresentados por Rosen-
feld (2002).
Beatriz Rocha Araujo
362
universo imaginrio: entre os dois mundos h alegorias e no identi-
dades (DONOFRIO, 1995, p. 55).
O no pertencimento ao mundo da realidade que possibilita
uma diferenciao do narrador. Quem nos dirige a palavra s pode
ser uma entidade ficcional (DONOFRIO, 1995, p. 55), juntamente
com o autor, que responsvel pela criao de um todo emaranhado
de fatos, tempos, personagens e episdios, que so contados para
pessoas do mundo real e escritos por uma pessoa real.
Portanto, para DOnofrio (1995), o narrador um personagem,
construdo e constitudo pelo autor em obras literrias, que vem
apresentar a realidade segundo a sua perspectiva, aquela que interes-
sa a esse personagem. O autor cria os personagens, as situaes, os
fatos que entrelaam e constituem a histria, a ser narrada, e por meio
desta vem para contar fatos imaginrios ou no.
As narrativas literrias podem apresentar um narrador ativo, ou
seja, presente durante a leitura e que fcil de identific-lo, ou como
um narrador, mais contido. Nesse caso, o leitor dever fazer uma lei-
tura muito atenta para descobrir quem realmente o narrador, bem
como compreender a interveno e as possibilidades que apresenta,
permitindo ao leitor a compreenso de um ngulo da histria narrada.
Dessa maneira, o narrador pode influenciar o leitor, quando resolve
supervalorizar um elemento do texto em detrimento de outro.
Com essa atitude do narrador, o leitor poder transitar por dife-
rentes sentimentos dentro de uma narrativa, pois todos os persona-
gens do texto so recheados de elementos, caractersticas, valores e
atitudes, que sero apresentados ao longo da narrativa literria. Nesse
sentido, a narrativa vista como uma obra, e pode ou no exprimir um
significado para o leitor, no momento em que o mesmo faz a sua leitura.
Dessa maneira, existe uma diferenciao clara entre autor e nar-
rador, principalmente quando penso em obras literrias e artsticas,
como: romances, contos, novelas, filmes, poemas, msicas, que tm
um compromisso de seguir determinadas regras literrias e artsticas
para ser definida como um gnero literrio, ou um estilo no caso das
produes artsticas.
Mas as narrativas so somente aquelas consideradas obras de
arte literrias, com elementos definidos e estruturados? Escrevo so-
mente com a finalidade das belas letras e para obter esse reconheci-
mento?
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
363
4 A ESCRITA: POTENCIALIZANDO A COMPLEXIFICAO
DO HUMANO
A escrita faz parte das narrativas, principalmente das que so
contadas pelas marcas impressas em papel, meios digitais, enfim, os
registros fazem parte da histria do ser humano, desde a pr-histria
o homem j encontrava maneiras de contar as suas vivncias.
A escrita, segundo Flusser (2010, p. 21), representa a possibili-
dade de reflexo e de organizao do pensamento, mas o que est por
trs do escrever no apenas orientar pensamentos, mas tambm di-
rigir-se a um outro. Portanto, o ato de escrever uma constituio de
si e de seus sentimentos, que so expressos pelas diferentes narrativas
que o homem faz de si mesmo, o que implica a construo autopoitica
do ser humano por ele mesmo.
Pensando nessa perspectiva, existem pessoas que escrevem para
serem reconhecidas por suas narrativas pelas belas letras, mas tam-
bm existem os que escrevem como um hobbie, ou mesmo para deixar
registrado algum fato marcante,
Escrever no apenas um gesto reflexivo, que se volta para o inte-
rior, tambm um gesto (poltico) expressivo, que se volta para o
exterior. Quem escreve no s imprime algo em seu interior, como
tambm o exprime ao encontro do outro. (FLUSSER, 2010, p. 21)
O ato de escrever no consiste em simplesmente imprimir uma
marca sobre uma superfcie, mas quem escreve organiza os seus pen-
samentos, pois um empreendimento arriscado como esse pode ser
comparado reflexo que se faz acerca do pensar sobre o pensar
(FLUSSER, 2010, p. 19), o que potencializa pensamentos e aes em
que o prprio escrever sobre a escrita pode ser considerado uma
forma de organizar, por meio de novos pensamentos a escrita relativa
aos pensamentos j elaborados e, ento, fazer anotaes (FLUSSER,
2010, p. 19).
Flusser (2010) ressalta a importncia da escrita enquanto ele-
mento que possibilita o ato de refletir, para alm da reflexo, a escrita
um processo de complexificao do humano de significar, ressignifi-
car e transformar constantemente a sua existncia, enquanto um hu-
mano em relao aos demais.
Beatriz Rocha Araujo
364
Dessa maneira, todas as narrativas literrias ou no poten-
cializam a constante autoconstituio do ser humano, pois contam
uma histria, que transforma a vida das pessoas. O escrever para as
obras de arte literrias, ou escrever por um simples registro de acon-
tecimentos cotidianos da vida da pessoa, possibilita a expresso de suas
experincias.
5 AUTONARRATIVAS: A AUTORIA DO HUMANO
As narrativas literrias, ou das belas letras, apresentam a hist-
ria imaginria, podendo ter aspectos da realidade, ou da vida real, mas
no so, na maioria das vezes, um relato de vida, vivncias e experin-
cias prprias, que so elementos que constituem as autonarrativas
pessoais. A partir deste momento, dedicar-me-ei a discutir as questes
referentes s escritas pessoais, e seu contexto de complexificao e
autoconstituio do humano, segundo os pressupostos do Paradigma
da Complexidade e na inseparabilidade entre conhecer/subjetivar-se.
As autonarrativas so escritas pessoais, de vivncias e experin-
cias construdas em sua relao com o mundo. por meio dessas es-
critas que posso construir um conhecimento de outra ordem, em que
estabeleo relaes e atribuo sentido a nossa existncia. Essa perspec-
tiva de escrita, enquanto constituio do humano, pode ser potenciali-
zada com o auxlio de diferentes ferramentas e, principalmente, com
as diferentes formas de narrar-se, mediante imagens, desenhos, fotos
e escritas.
O processo de constituio do humano por meio das narrativas
acontece quando o mesmo se permite apropriar-se de seus sentimen-
tos, emoes e vivncias, significando e tornando-se cada vez mais
consciente de suas transformaes. Esse processo de autoria ocorre
quando o ser humano, alm da necessidade de entender a si prprio,
tambm inicia um processo de observao de si mesmo.
Existe a necessidade de o humano observar e ser observado,
como uma forma de complexificao dos sujeitos, de seus caminhos
percorridos para construir a sua aprendizagem, Maturana (2001, p.
27) define que o observador encontra em si mesmo enquanto tal na
prxis do viver (no suceder do viver, na experincia do viver) na lin-
guagem, em uma experincia que simplesmente lhe acontece vinda de
lugar nenhum.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
365
As autonarrativas so uma forma de autoconstituio, na qual o
autor revela a sua experincia em determinada situao, ou a sua vi-
so de determinadas imagens, paisagem. No a simples descrio,
mas vm com as emoes, sentimentos e percepes do humano que
est empunhando a caneta, ou fazendo uso de outra ferramenta, como
o computador para escrever. Esses escritos apresentam diferentes
formas de constituio, devido ao aspecto autoconstitutivo do ser hu-
mano, que determina como a mesma ser escrita, bem como a sua
formatao e elementos dessa narrativa.
No momento que reconheo a narrativa como relato de uma ex-
perincia, reflito sobre minha vida como um processo metacogniti-
vo, e pelas observaes posso complexificar-me. Esse processo acon-
tece de forma individual, ou seja, cada um se complexifica ao observar
a si mesmo em relao aos outros e com o mundo.
A autonarrativa uma forma de constituir os nossos sentimen-
tos, emoes e vivncias conscientemente, constituindo-se enquanto
um processo metacognitivo de pensar sobre os prprios processos de
pensar. Dessa forma, o humano, ao pensar sobre suas atitudes e pen-
samentos, percorre caminhos at ento desconhecidos, talvez at ne-
bulosos, que aos poucos ir desvendar. Esse processo possibilita um
autoconhecimento prprio, o que tambm potencializa uma reconfi-
gurao e transformao do humano. um contnuo processo auto-
poitico, segundo a definio de Maturana e Varela (1997), que consi-
deram os seres vivos produtores de si mesmos, se reconfigurando com
as perturbaes e rudos exteriores.
As narrativas fazem parte do cotidiano do humano, pois em todo
o momento estou me narrando, estou contando a minha histria, fa-
tos que aconteceram e presenciei. Afinal, todos tm muitas histrias
para contar, escrever, refletir, compartilhar, independentemente dos
arqutipos da narrativa proposto por Benjamin (1994), em que ca-
paz de ser um narrador o marinheiro comerciante, que conta suas
viagens pelo mundo, ou pelo campons sedentrio, que em sua simpli-
cidade conhece muito bem a sua realidade e a relata em suas narrativas.
O pr do sol pode ser visto e narrado com a exuberncia de uma
linda paisagem no horizonte, onde no h limites entre o cu e o mar,
apenas uma grande extenso do alaranjado do sol refletido nas guas
do Oceano Pacfico, contada pelo viajante. J o campons tambm
presencia o pr do sol que aos poucos vai se escondendo por entre as
Beatriz Rocha Araujo
366
coxilhas de seu stio e revelando uma penumbra, que traz a sensao
do incio de uma noite, com seus mistrios, junto aos sons da natureza,
preparando-se para o anoitecer.
A narrativa do viajante, como a do campons, tem a possibilida-
de de relatar um ngulo do pr do sol, ou seja, cada um fala dos aspec-
tos que conhece, enquanto o viajante tem um discurso rico de possibi-
lidades e aventuras, o campons apresenta as questes de sua reali-
dade, com descrio de detalhes que somente ele capaz de definir.
As autonarrativas e escritas pessoais, apesar de no apresenta-
rem uma estrutura definida para ser seguida, tambm possuem alguns
elementos da narrativa, embora muitas das pessoas que as escrevem
no pensem sobre esses aspectos. Nesse sentido como posso pensar a
questo das escritas pessoais, as narrativas de vida, o autor e o narra-
dor constituem-se de forma diferenciada? Quem escreve e quem narra
so a mesma pessoa? Existe um narrador nessas escritas?
As autonarrativas so relatos de autoria, a pessoa autora ao
mesmo tempo que tambm a narradora, diferente das narrativas das
belas letras, em que o narrador um personagem criado pelo autor da
mesma. Dessa forma, nas escritas pessoais, a autoria passa pelo fato
de contar uma histria, a sua histria, as suas vivncias, portanto, autor
e narrador so a mesma figura nas escritas pessoais. A autoria nar-
rada, o narrador o autor dessa escrita?
No somente as escritas pessoais, mas o ato de escrever poten-
cializa a
[] rememorao do passado no implica simplesmente a restau-
rao do passado, mas tambm uma transformao do presente tal
que, se o passado perdido a for reencontrado, ele no fique o mes-
mo, mas seja ele tambm, retomado e transformado. (GAGNEBIN,
1994, p. 19)
Dessa forma, o autor passa por um complexo processo de orga-
nizar e reorganizar a sua vida, a sua histria pessoal, com isso tem a
possibilidade de refletir e transformar-se em um contnuo processo de
complexificao do humano.
O humano vive em muitos momentos narrativos, ou seja, conto e
reconto a todos a minha vida, a minha existncia, as minhas experin-
cias. Enfim, compartilho por meio de diferentes narrativas, seja pelas
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
367
imagens e linguagens, ou at em um momento de silncio quando es-
tou me narrando.
Benjamin (1994), quando faz consideraes sobre a obra de Ni-
kolai Leskov, apresenta um narrador, que tem a possibilidade de mos-
trar uma experincia, que se torna prxima para o leitor, pelas obser-
vaes do observador narrador. Dessa forma, o narrador transmite
uma experincia que pode diferenciar de narrador para narrador, que
pode ser mesclada com as experincias prprias do ouvinte ou do leitor.
6 CONSIDERAES PRELIMINARES
Em todos os momentos da minha vida sou narradora da minha
prpria vida e conto a minha histria, e nesse processo conto a partir
do meu prprio olhar, da minha maneira de ver e viver a minha pr-
pria histria de vida. Assim, em autonarrativas, sou autora, narradora,
ou seja, diferente das obras literrias, at poder adotar uma postura
de narradora de minha histria de vida, sem nunca perder de vista
que sou protagonista e que me invento em todos os momentos, quer
dizer, sou autora de minha vida. O que me permite um processo de
autoconstituio, quando vou me construindo enquanto ser humano
em relaes com o mundo.
A importncia da narrativa na constituio do humano est na
possibilidade de refletir sobre si, enquanto um ser em relaes com
outros humanos e objetos do cotidiano, cada um dos sujeitos ao ler, ou
escrever as narrativas, est significando a sua prpria vida. A narrati-
va por demais coerente deve ser interrompida, desmontada, recorta-
da e entrecortada (GAGNEBIN, 1994, p. 20), o que possibilita ressigni-
ficar, esse constante movimento de ir e vir, potencializa uma comple-
xificao do sujeito. Portanto, as emoes so muito importantes para
o humano narrar-se, autoconstituir-se e complexificar-se mediante
um processo de autoria de vida.
REFERNCIAS
ATLAN, Henri. Entre o cristal e a fumaa: ensaio sobre a organizao do ser vivo.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.
BENJAMIN, Walter. O narrador: consideraes sobre a obra de Nikolai Leskov. In:
Magia e tcnica, arte e poltica: ensaio sobre literatura e histria da cultura. So
Paulo: Brasiliense, 1994.
Beatriz Rocha Araujo
368
BRUNER, Jerome. Realidade mental, mundos possveis. Porto Alegre: Artmed,
2002.
DONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto: Prolegmenos e teoria da narrativa. So
Paulo: tica, 1995.
FLUSSER, Vilm. A Escrita H futuro para a escrita? So Paulo: Annablume,
2010.
FREUD, Anna. O ego e os mecanismos de defesa. Porto Alegre: Artmed, 2006.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Histria e narrao em Walter Benjamin. So Paulo:
Perspectiva: FAPESP: Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas,
1994.
MATURANA, Humberto. Cognio, cincia e vida cotidiana. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2001.
MATURANA, Humberto. Emoes e linguagem na educao e na poltica. Belo Ho-
rizonte: Ed. UFMG, 1998.
MATURANA, Humberto. De mquinas e seres vivos: autopoiese a organizao do
vivo. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A rvore do conhecimento: as bases
biolgicas da compreenso humana. So Paulo: Palas Athena, 2001.
MORIN, Edgar. Cincia com conscincia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
MORIN, Edgar. Introduo ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2007.
ROSENFELD, Anatol. Literatura e Personagem. In: CANDIDO, Antnio (Org.). A
Personagem de Fico. So Paulo: Perspectiva, 2002.
VARELA, Francisco. El fenmeno de la vida. Santiago do Chile: Dolmen Ediciones,
2000.
VON FOERSTER, Heinz. Las semillas de la ciberntica: obras escogidas. Barcelona:
Gedisa, 1996.
ALBERT CAMUS E A ESTTICA DO ABSURDO:
UMA EXPERINCIA INQUIETANTE
Catiussa Martin
1
Eunice Piazza Gai
2
1 O ESTRANGEIRO, DE ALBERT CAMUS
Na vida tudo uma questo de hbito, a nica certeza que se
tem de que todo mundo algum dia alcanar a morte. Tanto faz, como
tanto fez, assim Mersault, narrador personagem do romance O Es-
trangeiro, de Albert Camus.
Um homem comum, quase sem amigos e com uma namorada
que ele no ama. Este o protagonista que aparece na narrativa iden-
tificado somente pelo sobrenome, Mersault, jovem escriturrio que leva
uma vida de incertezas, sem planos e ambies. Camus coloca o leitor
diante de um personagem alheio ao mundo, com pensamentos e dese-
jos, quando existentes, voltados para aes prticas e rotineiras.
O autor comea sua obra destacando a notcia do falecimento da
me do protagonista que estava internada em um asilo e a qual ele no
visitava h muito tempo. L, tudo se passa com muita rapidez e natu-
ralidade. Indiferente situao, no velrio ele toma caf com leite, se
recusa a ver o corpo da me, tira alguns cochilos e se incomoda com o
calor e com a claridade no local. Logo tudo isto se d por acabado, ele
regressa feliz a sua casa, contente em poder enfrentar 12 horas de so-
no tranquilo e ainda aproveitar o dia de domingo. Destaca-se por ser
um jovem passivo a tudo que lhe imposto pelas situaes do destino,
sem esquecermos de mencionar a sua apatia que prosseguir no de-
correr do romance.
1
Mestranda em Letras Leitura e Cognio, da Universidade de Santa Cruz do Sul
UNISC e bolsista Fapergs.
2
Doutora em Letras. Docente do PPG em Letras Mestrado e do Departamento de Le-
tras, da Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC, pesquisadora com recurso do Edi-
tal PqG 2012 Fapergs.
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
370
Como mostra indiferena aos acontecimentos, Mersault aproveita
o final de semana livre aps o falecimento de sua me para ir praia,
pelas circunstncias impostas ele se envolve com Marie, uma antiga
colega de trabalho, assistem a um filme e terminam a noite juntos, no
domingo ele dorme at o meio-dia e passa o restante do tempo obser-
vando da sacada o comportamento dos outros.
Assim, Mersault segue sua rotina indiferente aos fatos e seres,
no se questiona e no se importa, vive com certo marasmo e aceita o
que lhe imposto. Para ele tanto faz se tem um vizinho chamado Sa-
lamano que passa o dia se desentendendo com o co sarnento Cocker
Spaniel. Muito menos lhe importa se o vizinho Raymond leva uma vida
fora dos padres da sociedade, ser amigo ou no deste indiferente.
No decorrer da obra, ele convidado por Raymond a ir praia no do-
mingo, fato que marca o incio da segunda parte do romance. A indife-
rena com a qual a personagem levava sua vida quebrada quando ele
simplesmente mata um rabe sem motivo ou explicao aparente,
passa a ser visto pelos padres da sociedade como um criminoso, frio
e cruel que julgado e condenado no somente pelo assassinato, mas
principalmente pelo comportamento e a frieza apresentada diante do
falecimento de sua me.
A gratuidade dos fatos e os argumentos relevantes no julgamento
so o marco da obra de Camus, que tem a temtica do absurdo como
pano de fundo, apresenta ao leitor uma interpretao de mundo vol-
tada para o questionamento da existncia humana.
2 ALBERT CAMUS
Para falarmos de Albert Camus, vamos primeiramente nos valer
das palavras de um membro da Academia Francesa, Andr Maurois,
mais especificamente da sua obra De Proust a Camus, datada do ano de
1965, na qual ele nos apresenta um pouco da origem humilde de um
jovem escritor que teve seu marco na literatura por volta de 1940,
lanando em 1942 a sua principal obra O Estrangeiro. Segundo Mau-
rois, Camus viveu no perodo de 1913 a 1960, e se intitulava filho do
sol, da misria e da morte, em um mundo que no lhe parecia nem ex-
plicado e nem explicvel, no era nem cristo nem marxista, nem na-
da (1965, p. 357). O mesmo autor nos apresenta duas temticas pre-
dominantes nas obras de Camus: o absurdo e a revolta. Dentre as pu-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
371
blicaes encontramos ensaio, romance e um texto teatral. As obras
que se destacaram e se encaixam na categoria do absurdo so: O mito
de Ssifo, O estrangeiro e Calgula (esta a obra teatral); j as obras
que apresentam o sentimento da revolta so: O homem revoltado, A
peste e Os justos.
Camus apresenta em suas obras uma reflexo da existncia hu-
mana, sendo esta o pano de fundo da esttica do absurdo, que vem a
nascer da opacidade do mundo e da falta de explicao vida. Todas
as suas obras esto interligadas, o autor menciona um personagem ou
enredo de uma obra em outra. Enquanto as publicaes que envolvem
a esttica do absurdo apresentam uma imagem individualista do ho-
mem, as obras que trazem o sentimento de revolta vo abordar o
comportamento coletivo do ser humano.
Maurois (1965) e Martin Esslin (1968), sendo este ltimo de
grande relevncia para as principais definies do termo cunhado por
ele como Teatro do Absurdo, entre outros pesquisadores, apresentam-
nos as obras do escritor precoce, Camus, que aos 23 anos j havia de-
finido os seus principais temas. Segundo eles, em 1938 Camus j pu-
blica Calgula e esboa O Estrangeiro, O Mito de Ssifo e mais tarde A
Peste. Quanto ao O Mito de Ssifo, este foi classificado como um ensaio
filosfico por ser um livro de ideias referente ao absurdo da vida; o
autor vai levantar e analisar a questo se a vida vale a pena ou no ser
vivida e qual o papel e a relevncia do suicdio na sociedade. Segundo
Germano (2007, p. 23) pesquisador da USP, a obra uma forma de
acentuar os limites do homem diante de uma realidade que o contra-
diz. Esta publicada como uma sequncia ou elucidao do romance
O Estrangeiro, mais tarde ele vem a publicar A Peste, ambos so consi-
derados os romances de destaque do escritor, o primeiro representa a
vida individual e o segundo a vida coletiva, em que se destaca o deses-
pero do homem perante a tudo o que ele considerava antes seguro,
um livro que se recusa a superar a injustia do universo.
As obras de Camus fogem da esttica existencialista que era o
auge no momento, esta tinha suas razes em Kierkegaard e adquiriu
grande relevncia com Sartre, mas como o autor de O estrangeiro no
se considerava um moralista e existia uma grande discusso sobre o
fato na poca, o destaque dele est em no se definir como existencia-
lista, mas em englobar e destacar a esttica do absurdo.
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
372
3 ESTTICA DO ABSURDO
Entre Existencialistas e Realistas surge por meados do sculo
XVIII a esttica do Absurdo em um perodo de transio, marcado por
guerra e perda de crenas consideradas certas, como a f religiosa. Um
movimento que no resultou de uma busca consciente por uma teoria,
mas que se consolidou a partir da constatao da necessidade de o
homem ser confrontado com a realidade de sua condio humana,
mais especificamente com a falta de explicao lgica para a sua exis-
tncia. Assim, o homem
[...] vive um mundo que se dividiu em uma srie de fragmentos des-
conexos e perdeu seu objetivo, mas que no tem mais conscincia
desse estado de coisas e do seu efeito desintegrador sobre suas
personalidades, so colocados frente a frente com uma representa-
o exagerada desse universo esquizofrnico. (ESSLIN, 1968, p.
358)
A partir desse sentimento do absurdo nasce um perodo que reu-
niu autores individuais no seu ato de escrever, mas que compartilha-
vam a mesma tendncia para a escrita, no existiu nenhuma escola
literria como o Romantismo e o Realismo, para deliberar normas, se-
quncias ou qualquer princpio que viesse a nortear ou caracterizar
esse estilo de escrita, o que os aproximavam eram as angstias, a de-
sarmonia da sociedade e uma total falta de finalidade quanto exis-
tncia humana.
Um dos primeiros autores a escrever sobre a noo de absurdo
foi Malraux, amigo pessoal de Camus, para quem, na obra de Maurois
(1965, p. 327), a ausncia de finalidade dada vida tornou-se uma
condio da ao. Essa ausncia libera a ao. Se nada existe, pode-se
ousar tudo, mas tambm tudo o que acontecer em vida vai ser finda-
do com a morte, ento o homem no necessita viver de grandes planos
futuros, mas a sua existncia ser definida pela consequncia de seus
atos. Para firmar essa filosofia de negao, digamos assim, segundo
Esslin (1968), Kafka aparece para deixar claro ento o irrealismo da
sociedade, publicando em 1915 A Metamorfose. Estes dois autores,
Kafka e Camus, so conhecidos como os grandes nomes da Esttica do
Absurdo, que propuseram uma filosofia nova, inquietante, para insti-
gar o leitor a se questionar perante a opacidade do mundo, j que, se-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
373
gundo Lameirinha (2007), o homem absurdo percebe-se como tal pela
conscincia que tem de seu universo. Uma esttica que antes de tudo
considerada como um meio e nunca um fim ou um modelo a ser se-
guido. um meio para se pensar sobre a falta de sentido quanto
existncia humana que no pode mais ser explicada pela crena em
Deus. Vigora nesta esttica como uma das caractersticas o atesmo.
Como sempre as pessoas necessitam se apegar em alguma expli-
cao ou crena para que a vida possa fazer sentido. Sob essa lgica,
muitos homens maliciosos comearam a se aproveitar da ingenuidade
de outros, criando novas entidades religiosas que viriam a alavancar
um sucedneo de ms intenes com o intuito de se beneficiar da
crena em Deus como nova forma de obter lucros financeiros, contri-
buindo para que muitas pessoas perdessem a sua f. Conforme Esslin
(1968), h muito tempo j se tem indcios da falta de f e de questio-
namentos quanto finalidade da existncia humana.
Com a perda da f, surge uma falta de explicao que no existe
mais na religio. Para aumentar esse sentimento ainda eclodem duas
guerras no perodo das publicaes de Camus, entre elas a Segunda
Guerra Mundial, ento vidas se perdem sem explicao, o ser humano
passa a ter que enfrentar a sua rotina sem um sentido, um princpio
para nortear a existncia, certezas inabalveis com essa nova realida-
de so perdidas, o homem que agora precisa controlar o seu destino.
Nasce no ser humano o sentimento do absurdo, o incio da esttica, o
momento em que aparece o desconforto quanto ao sentido da existn-
cia que j no parece mais ser passvel de uma explicao lgica e
imediata. esse sentimento que desperta a conscincia para uma in-
vestigao existencial que vai gerar a noo do Absurdo. No entanto,
importante esclarecermos que esta uma constatao que parte do
pressuposto de que se confronta um fato com uma dada realidade im-
possvel ou contraditria para se ter uma explicao plausvel.
Essa esttica ento surge com a conscincia de que no temos
uma soluo aparente, mas uma condio que afasta qualquer explica-
o e reflexo filosfica e cientfica, j que ela no est mais em Deus.
No h mais o conhecimento absoluto, porque este nada pode signifi-
car, j que toda explicao cientfica dificilmente ser conclusiva, pois
sempre estar aberta a uma nova teoria, com isto as certezas so per-
didas. Por essa lgica, o conhecimento nada diz, uma vez que ele mu-
tvel, a existncia humana continua sendo opaca. Assim, todo verda-
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
374
deiro conhecimento impossvel, bem como qualquer tentativa de
compreenso. Como no existe uma verdade absoluta, conforme Ca-
mus (2004b), esta esttica ressalta que devemos observar com cautela
quando algum afirma saber exatamente o que est falando, porque
provavelmente estaremos diante de algum falacioso. Bem como, ela
tambm
[] uma tentativa de dar ao homem conscincia da realidade ltima
de sua condio, de incutir-lhe novamente o sentido de deslum-
bramento csmico e de angstia primordial que perdeu, de sacudi-
lo de uma existncia que se tornou mesquinha, mecnica, compla-
cente e privada da dignidade nascida da conscincia. Pois Deus est
morto, mais do que para ningum, para as massas que vivem de dia
a dia e que perderam todo o contato com os fatos e mistrios
bsicos da condio humana com os quais, anteriormente, se man-
tinham em contato por meio do ritual vivo de sua religio, que os
tornava parte de uma verdadeira comunidade e no apenas tomos
numa sociedade automatizada. (ESSLIN, 1968, p. 346)
A maioria das obras que pertencem a esta esttica vo fornecer
uma oportunidade de questionamento e reflexo sobre a realidade do
automatismo em que a sociedade se encontra. Os autores desta estti-
ca trazem uma impossibilidade de penetrarmos na identidade e rele-
vncia dos fatos conforme eles ocorrem na vida de um ser. Ningum
vai chegar a conhecer ou saber as verdadeiras intenes com as quais
elas foram realizadas, j que estas acontecem sem uma finalidade
qualquer. O mistrio da vida o que gera uma falta de sentido, uma
angstia quanto existncia que por sua vez baseada na falta de
harmonia, o homem vive um mundo sem certeza no qual o fato de ter
conscincia da morte o que gera no pensamento absurdo uma injus-
tia perante a existncia humana. J que a nica certeza na vida a
morte.
Para exemplificar a falta de lgica da existncia humana e ampliar
a noo da absurdidade, Camus (2004b) apresenta o Mito de Ssifo, em
que a personagem condenada pelos deuses a passar o resto de seus
dias empurrando uma rocha montanha acima, um trabalho intil e
sem esperana e que no lhe permite fugir de seu destino. Isso no
significa dizer que v se desesperar perante a vida, mas que todo o
trabalho rduo de elevar a rocha na montanha ser beneficiado com o
bem estar quando chegar ao topo e tiver a oportunidade de contem-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
375
plar a paisagem do vale, mesmo que esta sensao dure somente al-
guns instantes j que a rocha voltar a rolar montanha abaixo. O mito
de Ssifo pode ser compreendido como uma simples comparao da
absurdidade da vida humana, j que passa o tempo todo tentando
chegar ao topo da montanha para ter a concluso de um problema,
mas que logo aparecer novo desafio e novamente o homem dever
buscar chegar ao topo da montanha, e assim a vida vai seguindo a sua
rotina, deixando as coisas flurem naturalmente, conforme as circuns-
tncias impostas.
Nessa literatura o sentimento presente do absurdo no vai liber-
tar o indivduo, mas aprision-lo na sequncia da sua rotina, na qual
qualquer tipo de experincia torna-se desnecessria e intil. O homem
absurdo sabe que os atos podem ter consequncias, mas est disposto
a pagar por eles, sem arrependimento ou remorso, no h o sentimento
de culpa, muito menos o que justificar, j que todos os atos acontecem
de forma imprevisvel. O presente vivido com intensidade. Ainda
conforme Martinelli (2011, p. 38),
[] o homem absurdo aquele que no contesta, simplesmente
porque sabe que nada do que far ter sentido a ponto de imprimir
lgica num mundo no qual o absurdo est indesejavelmente pre-
sente. O desejo de lgica vo. O absurdo reina e cabe a ns nos
conformarmos a ele como melhor pudermos.
O homem absurdo sincero e portador de um sentimento de fi-
delidade regra, consegue pensar com clareza um ser consciente,
mas que no costuma esperar nada da vida. Est diante de um mundo
no qual os pensamentos e a vida so privados de um futuro. Assim,
qualquer tipo de esperana, crena ou explicao j exclui a obra lite-
rria de se enquadrar nessa esttica. A obra do Absurdo no busca en-
sinar nada aos outros muito menos passar uma moral, simplesmente
apresentam um estilo de vida.
4 A ESTTICA DO ABSURDO EM O ESTRANGEIRO
Para elucidar um pouco a Esttica do Absurdo teorizada anterior-
mente, vamos verific-la na obra O estrangeiro, de Albert Camus, pu-
blicada em 1942. Uma histria na qual todas as personagens so nar-
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
376
radas de forma breve e pouco descritas, tambm no apresenta grandes
conflitos e planos futuros, o protagonista vive o instante.
A personagem central de Camus literalmente o homem absurdo.
Mersault j indiferente aos fatos ao ser apresentado sem intimidade
com os leitores que o conhecem somente pelo sobrenome, em nenhum
momento da histria aparece o seu primeiro nome, normalmente tra-
tar algum pelo primeiro nome vai significar que existe uma proximi-
dade, uma intimidade e at mesmo um conhecimento maior dessa
pessoa, mas como Mersault no permite esse vnculo h para com ele
somente o tratamento formal. Outro ponto inquietante est na descri-
o que ele faz de si mesmo ao se definir ser como todo mundo , eu
era como todo mundo, exatamente como todo mundo (CAMUS,
2004a, p. 70), no se preocupa com o passado e nem com o futuro,
costuma dar tudo no instante, caractersticas ntidas da absurdidade.
O romance j inicia com um detalhe que passar a ter a maior re-
levncia no desfecho da obra que a morte da senhora Mersault, me
do protagonista, o comportamento apresentado pelo filho diante do
corpo e da perda de sua me servir para julgar a sua personalidade
no tribunal ao ser condenado pelo assassinato de um rabe na praia.
Isto ficar em segundo plano para o jri, e acaba por ocorrer de forma
oposta ao que o protagonista imaginava ao dar a morte da me como
um caso encerrado. Mais uma prova da indiferena de Mersault pode
ser percebido nos vrios cochilos tirados antes, durante e aps o en-
terro, uma vez que o filho foi dormindo, dormiu no velrio e no retor-
no s pensava nas horas de sono que teria pela frente, conforme po-
demos observar no trecho a seguir: e a minha alegria quando o ni-
bus entrou no ninho de luzes de Argel, e eu pensei que me ia deitar e
dormir durante doze horas (CAMUS, 2004a, p. 21). Estes momentos
remetem ao leitor a impresso de que o protagonista est tranquilo e
em paz com seus pensamentos, o que normalmente no comum para
algum que acaba de perder uma pessoa to prxima como foi o caso
de sua me, talvez justificado pelos momentos de distanciamento en-
tre eles observados no romance, tinha at impresso de que est
morta, deitada no meio deles, nada significava a seus olhos. [] Pensei
que se passara mais um domingo, que mame agora estava enterrada,
que ia retomar o trabalho, e que, afinal, nada mudara. (CAMUS,
2004a, p. 15 e 27).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
377
Como forma de distrao o homem absurdo costuma observar o
comportamento alheio, assim Mersault ocupava horas do seu tempo
de lazer observando da sacada de seu prdio o comportamento das
pessoas que transitavam pela rua. Ele tambm costumava olhar fixa-
mente para o proprietrio do bar em que almoava para analisar a rea-
o que este teria ao perceber que estava sendo observado. Tambm
analisava a relao do vizinho com o cachorro, da moa do bar que
senta a sua mesa e assim vai, tudo com o intuito de simplesmente veri-
ficar as reaes e o comportamento humano. Elucida Maeterlinck, ci-
tado por Fraga (1988, p. 31), que o ato de vigiar as aes com o olhar,
no homem
[] se manifestam enormes potncias invisveis e fatais, cujas in-
tenes ningum conhece mas que o esprito do drama supe mal-
ficas, vigiando todas as nossas aes, hostis ao sorriso, vida, paz,
felicidade. [] Este desconhecido toma, as mais das vezes, os tra-
os da morte. sua volta h apenas seres frgeis e trmulos []
apenas gotas de luz, precrias e fortuitas, abandonadas sem finali-
dade aparente.
Bem caracterstico do absurdo tambm a falta de envolvimen-
to pessoal com as demais personagens, Mersault se envolve com Marie
um dia aps o falecimento de sua me, para ele tanto faz se casar ou
no com ela, assim como Dom Juan, o nosso protagonista atrado pe-
la beleza, pelas caractersticas femininas de sua amante, mas senti-
mentalmente no est ligado a ela, porque o homem absurdo no se
envolve, ele pode substituir a mulher por outra to bonita quanto, pois
isto que importa, no h uma caracterstica particular que o ligue a
Marie, o instinto irracional que o atrai. Falando ainda em relaes, a
amizade forada com Raymond tambm simplesmente questo de
hbito, tanto faz ser amigo ou no. A vida questo de costume, de
circunstncias.
Presena marcante na obra tambm tem o sol, desde o velrio ao
clmax, momento do assassinato do rabe na praia:
[] eram o mesmo sol e a mesma luz, sobre a mesma areia. [] Era
o mesmo sol do dia em que enterrara mame e, como ento, doa-
me sobretudo a testa e todas as suas veias batiam juntas debaixo da
pele. Por causa deste queimar, que j no conseguia suportar, fiz
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
378
um movimento para a frente. Sabia que era estupidez, que no me
livraria do sol se desse um passo. E desta vez, sem se levantar, o
rabe tirou a faca, que ele me exibiu ao sol. [] Sentia apenas os
cmbalos do sol na testa. [] Pareceu-me que o sol se abria em toda
a sua extenso deixando chover fogo. [] Sacudi o suor e o sol.
Compreendi que destrura o equilbrio do dia. (CAMUS, 2004a, p.
63)
Essa importncia atribuda ao sol no desenrolar dos atos princi-
pais est relacionada no somente ao fato de Camus se descrever co-
mo filho do sol, pela importncia que este teve em sua infncia humil-
de marcada pela misria que o impedia de acreditar na vida, mas tam-
bm e principalmente ao relacionar a memria, que na esttica do ab-
surdo uma das nicas coisas controlveis pelo homem, aos momen-
tos importantes da cena, a morte da me e o assassinato do rabe li-
gados pela fora e influncia do sol no pensamento. Este funciona co-
mo um gatilho para as lembranas.
Como na Esttica do Absurdo as coisas acontecem sem uma ex-
plicao aparente, o assassinato do rabe cometido por Mersault o
melhor exemplo desta caracterstica. Influenciado pelo sol ou no,
simplesmente dispara cinco tiros, preso e aceita as consequncias
sem se questionar, um homem inteligente e consciente dos seus atos,
conforme podemos observar no trecho da obra: que perdera um pou-
co o hbito de interrogar a mim mesmo e que era difcil dar-lhe uma
informao (CAMUS, 2004a, p. 69). H muito o homem absurdo parou
de se questionar, pois veio do pensamento, o tormento que resultou
no sentimento absurdo.
Como a personagem de Camus quebra as regras que servem pa-
ra nortear o funcionamento adequado da sociedade, ele precisa pagar
por ter apresentado um comportamento inaceitvel perante as regras
impostas por ela para no gerar um caos em comunidade. Ento ele
julgado por dois crimes, o primeiro por ter se apresentado indiferente
morte de sua me e o outro que ocupa o segundo plano no julgamen-
to que o assassinato de um homem, conforme Vargas Llosa (2004, p.
185) o que se condena no o assassinato do rabe, mas a conduta
antissocial do acusado, sua psicologia e sua moral excntricas ao mo-
delo estabelecido pela comunidade.
O homem absurdo no precisa explicar por que as coisas aconte-
cem, pois ele segue a sequncia da vida, ele sabe o que fez e est dis-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
379
posto a pagar e no v necessidade em atribuir tanta importncia a
outros fatos que no eram relevantes no julgamento, como o da morte
da me, por exemplo: comentei que essa histria no tinha nenhuma
relao com o meu caso, mas ele me respondeu que era bvio que eu
nunca me envolvera com a justia. (CAMUS, 2004a, p. 70). Tambm
no v necessidade de fingir ou enfeitar os sentimentos para se livrar
da condenao, ele mantm a verdade dos fatos, conforme apresenta
Camus (2004b, p. 99), o homem mais homem pelas coisas que si-
lencia do que pelas que diz. Vou silenciar muitas. Mas acredito firme-
mente que todos aqueles que julgaram o indivduo o fizeram com bem
menos experincia do que ns para fundamentar seu juzo..
Alm da fidelidade verdade dos atos, o atesmo tambm ou-
tra caracterstica que est presente em Mersault, quando este ques-
tionado pelo juiz do porqu de suas aes. Ele tambm apresentado
a um crucifixo de prata e convidado a pedir perdo a Deus, Mersault
comenta que se sente at um pouco assustado com a atitude do juiz,
mas logo lembra que o criminoso era ele, ento no fazia sentido a rea-
o. Fica clara nessa passagem mais uma forte caracterstica da estti-
ca, o instante em que a vida deixa de fazer sentido:
[] exortou-me uma ltima vez, do alto de sua posio, perguntan-
do-me se acreditava em Deus. Respondi que no. Sentou-se indig-
nado. Disse-me que era impossvel, que todos os homens acredita-
vam em Deus, mesmo os que lhe viravam o rosto. Essa era a sua
convico, e se algum dia viesse a duvidar dela, a sua vida deixaria
de ter sentido. (CAMUS, 2004a, p. 73)
Sem encontrar respostas em Deus e condenado por uma lgica
gratuita de um julgamento um tanto paradoxal, o absurdo da vida de
Mersault no tem uma soluo. uma condio. Assim, a memria o
refgio, e esta volta a ter destaque na priso. Para a personagem,
qualquer pessoa que teria vivido um nico dia, poderia passar o resto
do tempo recordando o automatismo do cotidiano. Na priso, ele foi
sentenciado a privar sua vida de um futuro, suas lembranas acaba-
vam por se esgotar, e assim seguia vivendo sem a possibilidade de
planejar o futuro, pois s lhe restava aguardar o seu dia final.
Com o desfecho do julgamento, aparece a sensao de estrangei-
rismo no homem absurdo. Mersault est alheio ao seu prprio destino,
imposto por estranhos e ciente de que vai terminar seus dias na priso
Catiussa Martin & Eunice Piazza Gai
380
assim, conforme Camus (2004b, p. 20), num universo repentinamen-
te privado de iluses e de luzes, pelo contrrio, o homem se sente um
estrangeiro. [] Esse divrcio entre o homem e sua vida, o ator e seu
cenrio propriamente o sentimento do absurdo. A vida assim.
Como Mersault aborda, [] acertavam o meu destino, sem me pedir
uma opinio. [] Mas, pensando bem, nada tinha a dizer (CAMUS,
2004a, p. 102).
O homem absurdo s tem uma certeza, de que o ser humano
nasce predestinado a morrer. Este o destino de todos, por isso que
ele vive na insignificncia do instante, mas que deseja Mersault de que,
quando chegar o seu dia final, que ao menos tenha muitas pessoas para
contemplar o seu destino.
Imagine-se um grande nmero de homens nas prises, todos con-
denados morte, dos quais uns sejam degolados cada dia vista
dos outros, os restantes vendo sua prpria condio na de seus se-
melhantes a imagem da condio dos homens. A morte a pro-
va irrefutvel do absurdo da vida. (PASCAL, apud MAUROIS, 1965,
p. 327)
O Estrangeiro , assim, uma obra trgica que busca enfatizar que
a dignidade do homem reside em sua capacidade de enfrentar a reali-
dade, aceit-la sem medo, sem iluses. Tambm apresenta o outro la-
do, de que o desejo individual muitas vezes deve ser reprimido para
no irmos contra as regras de ordem e justia impostas por uma de-
terminada sociedade, porque quando isto ocorre haver, em alguns
casos, punio para no chegarmos ao caos. A histria quer, alm de
tudo, comunicar tambm uma experincia de vida, um sentimento,
uma constatao da condio humana, j que no existe uma verdade,
mas sim vrias, logo a essncia da obra de Camus est na inquietao
que ela provoca no leitor.
REFERNCIAS
CAMUS, Albert. O estrangeiro. Traduo de Valerie Rumjanek. 24. ed. Rio de Ja-
neiro: Record, 2004a.
CAMUS, Albert. O Mito de Ssifo. Traduo de Ari Roitman e Paulinha Watch. Rio
de Janeiro: Record, 2004b.
ESSLIN, Martin. O teatro do absurdo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
381
FRAGA, Eudinyr. Qorpo-Santo: Surrealismo ou Absurdo? So Paulo: Perspectiva,
1988.
GERMANO, Ricardo Emanuel. O pensamento dos limites: contingncia e engaja-
mento em Albert Camus. 2007. Tese (Doutorado em Filosofia) Faculdade de
Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, 2007. Dispon-
vel em: <http://filosofia.fflch.usp.br/sites/filosofia.fflch.usp.br/files/posgradu
acao/defesas/2008_docs/2008.Emanuel%20Germano.Dout.pdf>. Acesso em: 1
jul. 2013.
LAMEIRINHA, Cristianne Aparecida de Brito. O sentido do exlio em 'La Peste' de
Albert Camus. 2007. Dissertao (Mestrado em Lngua e Literatura Francesa) -
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2007. Disponvel em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/
8/8146/tde-08112007-144148/>. Acesso em: 1 jul. 2013.
MARTINELLI, Bruno Oliveira. A filosofia camuflada de Jean-Paul Sartre e Albert
Camus. 2011. Dissertao (Mestrado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Le-
tras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2011. Disponvel
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8133/tde-15122011-1625
09/>. Acesso em: 1 jul. 2013.
MAUROIS, Andr. De Proust a Camus. Traduo de Fernando Py. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1965.
PINTO, Manuel da Costa. Albert Camus: um elogio do ensaio. So Paulo: Ateli
Editorial, 1998.
VARGAS LLOSA, Mario. A verdade das mentiras. Traduo de Cordelia Magalhes.
3. ed. So Paulo: ARX, 2004.
SOLIDO, VAZIO EXISTENCIAL E A
(IN)SUFICINCIA DAS TEORIAS DO CONTO:
UMA LEITURA DE NARRATIVAS CURTAS DE
JOO GILBERTO NOLL
Roselei Battisti
1
A sociedade atual vive um momento singular de sua histria, em
que as distncias praticamente deixaram de existir. Diante da agilida-
de com que as informaes percorrem o mundo e da facilidade de se
estabelecer comunicao entre quaisquer pessoas do planeta, as per-
cepes de tempo e espao por vezes confundem-se na mente dos in-
divduos. Paradoxalmente, o individualismo exacerbado e a rarefao
das relaes interpessoais tornaram-se quase inevitveis. Apesar des-
se individualismo crescente, a individualidade de cada um tem si-
do esquecida pela cultura contempornea massificante, que pretende
colocar todos a marchar, como autmatos, servindo aos propsitos do
mercado global.
Ecos dessa realidade so percebidos nas manifestaes artsticas
em geral. Porm, a literatura, historicamente, tem demonstrado ser
um espao privilegiado para retratar os anseios e necessidades da
humanidade. Muito antes da escrita, o costume de contar histrias foi
o grande responsvel por manter viva a cultura e as tradies dos po-
vos. No entanto, o conto como manifestao artstica literria teve seu
marco inicial atribudo aos Irmos Grimm quando, no sculo XIX, de-
nominaram Contos para Crianas e Famlias uma coletnea de narrati-
vas por eles compiladas. Quando isso ocorreu, em 1812, o termo con-
to j vinha sendo usado com algumas variaes de significado, porm,
segundo Jolles (1976, p. 181-182),
1
Mestranda em Letras Literatura Comparada pela URI de Frederico Westphalen RS.
Bolsista PROSUP-CAPES. E-mail: roseleibattisti@hotmail.com
Roselei Battisti
384
[] foi a coletnea dos irmos Grimm que reuniu toda essa diversi-
dade num conceito unificado e passou a ser, como tal, a base de to-
das as coletneas ulteriores do sculo XIX; finalmente, sublinhe-se
ser sempre maneira dos irmos Grimm que as verdadeiras pes-
quisas sobre o Conto continuam sendo realizadas, apesar da diver-
sidade de concepes cientficas.
Apesar dessa diversidade de concepes cientficas a que se
refere Jolles (1976), as teorias existentes sobre esse gnero literrio
ainda suscitam vrias discusses, especialmente, por seu suposto
carter de incompletude quando pensadas em relao produo
contstica atual. No entanto, pelo conto contemporneo, produzido
por autores que costumam adentrar-se nos mais longnquos recndi-
tos da alma humana, que a expresso da realidade social acima refe-
rida assume um papel extremamente significativo para os leitores.
Assim, esse estudo lana um olhar sobre a narrativa curta do autor
gacho Joo Gilberto Noll, analisando dois contos seus, publicados na
obra A mquina de ser, de 2006, buscando entender a forma como o
autor percebe e retrata essa realidade e de que maneira ela se articu-
la com as teorias do conto. Por meio da anlise de elementos estrutu-
rais e formais dos contos A mquina de ser (NOLL, 2006, p. 119-
122) e O Convvio (NOLL, 2006, p. 37-42), ser discutida a perti-
nncia e/ou suficincia das teorias do conto no processo de leitura e
interpretao dessas histrias, que compreendem manifestaes cul-
turais contemporneas.
Este trabalho est estruturado em trs momentos distintos,
que convergem para a realizao dos objetivos propostos. Assim, na
primeira seo ser feita uma reviso bibliogrfica das teorias do
conto, mais especificamente, sobre os pressupostos tericos de Edgar
Alan Poe, Julio Cortzar, Ricardo Piglia e Luis Barrera Linares, para
fundamentar as reflexes sobre os contos de Noll. A segunda seo
contemplar a anlise propriamente dita dos dois contos referidos,
buscando compreend-los luz das teorias do conto, pela identifica-
o ou no dos elementos considerados como constitutivos do gne-
ro. E, na terceira e ltima seo, ser discutida a pertinncia e/ou
(in)suficincia dos pressupostos tericos revisados no processo de
interpretao dos contos, bem como as possibilidades de novos en-
foques tericos que enriqueam as reflexes crticas iniciadas no s-
culo XIX.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
385
1 O CONTO LUZ DAS TEORIAS
As primeiras reflexes crticas a respeito do conto foram feitas
por Edgar Allan Poe (1976), ao publicar uma resenha sobre os contos
de Nathanael Hawthorne, em 1842. Nesse texto, o autor estabelece os
primeiros critrios de valor para o gnero, que considera um campo
mais favorvel para demonstrar os melhores talentos da prosa. Isso
porque, para Poe (1985), o objetivo do conto seria provocar certa
elevao da alma do leitor, efeito que considera prprio da poesia e
impossvel ser conseguido pelas narrativas longas, pois esse estado
no pode ser mantido por muito tempo. , ento, por essa possibilida-
de de exaltao da alma que o conto aproxima-se da poesia. No en-
tanto, o autor adverte que, nesta, o estado elevado da alma se d mais
facilmente pelo Belo, enquanto naquele acontece pela Verdade e
pela Paixo.
Para Poe (1976), tal intento somente ser possvel se o contista
desenvolver sua narrativa totalmente voltada para uma unidade de
efeito ou impresso, que deve ser pr-estabelecida e em torno da
qual todo o mais dever ser concebido, sem desperdcio de palavras
ou aes. De tal modo deve estruturar-se, que o resultado seja um con-
to para ser lido de uma s vez, pois a unidade de efeito ou impresso
um ponto da mais alta importncia [] esta unidade no pode ser
completamente preservada em produes cuja leitura no possa ser
completada de uma s vez (POE, 1976).
Desse modo, o autor sugere a necessidade de uma narrativa com
densidade e tenso suficientes para produzir um efeito nico de ele-
vao da alma, devendo, portanto, ser breve. Ainda sobre a questo
da extenso, o autor especifica que o ideal para a narrativa curta que
a leitura leve de meia a uma ou duas horas, pois isso torna possvel
que o leitor fique sob o controle do escritor, sem interrupes ou
influncias externas ou intrnsecas resultantes do tdio ou da inter-
rupo (POE, 1976). No entanto, ele tambm lembra que o excesso de
brevidade pode ser prejudicial na medida em que o efeito causado no
alcanaria a profundidade desejada pelo escritor.
Em A filosofia da composio, de 1846, Poe (1985) explicita
ainda mais essas ideias, comentando o processo de criao do seu po-
ema O corvo. como se ele desse a receita de um bom conto: par-
te-se da seleo do efeito desejado, que nortear a escolha de todas as
aes e palavras a serem empregadas de modo econmico na narrativa,
Roselei Battisti
386
tendo em vista a densidade e a tenso necessrias para prender o lei-
tor desde as primeiras palavras at o clmax final, que alcanar o efeito
previsto. Infere-se, portanto, que, para Poe (1985), um bom conto
resultado de um planejamento cuidadoso do escritor, que muito de-
pende da sua tcnica e habilidade literria e no puramente de mo-
mentos inspiradores. Ao leitor basta entregar-se, de modo passivo, ao
que lhe foi preparado.
Apesar de os pressupostos de Poe no contemplarem diversos
aspectos importantes para uma teoria do conto, somente no sculo XX
surgem reflexes capazes de agregar novas possibilidades de enten-
dimento da produo contstica. Essas ideias, no entanto, no despre-
zam o que Poe havia construdo por meio de suas reflexes associadas
produo literria. Ao contrrio, partem da teoria precursora e
avanam um pouco mais, impulsionadas pelo aumento da produo
desse gnero na Amrica Latina.
assim que o argentino Julio Cortzar (1993) busca teorizar as
prprias experincias como escritor de contos. No entanto, percebe-se
que sua abordagem tem um carter menos dogmtico do que a do nor-
te-americano, pois, j no incio de Alguns aspectos do conto, refere-se
espontaneidade da criao entre os pases americanos de lngua
espanhola:
Entre ns, como natural nas literaturas jovens, a criao espont-
nea precede quase sempre o exame crtico, e bom que seja assim.
Ningum pode pretender que s se devam escrever contos aps se-
rem conhecidas suas leis. Em primeiro lugar, no h tais leis [].
(CORTZAR, 1993, p. 149-150)
Para entender melhor esse gnero, Cortzar (1993) prope uma
analogia entre romance, cinema, conto e fotografia. O autor explica
que o cinema e o romance apresentam uma ordem aberta, enquanto
o conto e a fotografia possuem limitao prvia. A fotografia en-
tendida aqui como um recorte significativo da realidade, capaz de
transcender os limites da imagem projetada. Sua relao com o conto
explicada pela necessidade que tanto o fotgrafo, quanto o contista
sentem de escolher ou limitar uma imagem ou um acontecimento que
sejam significativos, que no s valham por si mesmos, mas tambm se-
jam capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma espcie de
abertura (CORTZAR, 1993, p. 151-152, grifos do autor), capaz de
remeter o leitor a realidades mais amplas.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
387
Para alcanar essa abertura, Cortzar entende que o tempo e o
espao do conto precisam estar condensados, submetidos a uma alta
presso espiritual e formal (1993, p. 152). Assim, para o autor, no
pode haver elementos gratuitos na narrativa, mas, sim, conciso com
profundidade, para se chegar tenso desejada, que deve aparecer
desde o incio e estar relacionada ao acontecimento significativo es-
colhido. preciso entender tal acontecimento significativo como a
conjuno de tema e respectivo tratamento literrio, pois para Cort-
zar o tema, por si s, no fator determinante para prender a ateno
do leitor. Ele precisa carregar os valores humanos e literrios
(CORTZAR, 1993, p. 156) do escritor.
Desse modo, muitos elementos constitutivos do conto que so
sugeridos pelo autor, como tenso, intensidade, significao e conci-
so, remetem sua questo formal e subentendem a necessidade de
que a narrativa seja curta, como Poe tambm propunha em seus pres-
supostos. Relevante aporte do autor para as teorias do conto o fato
de, mediante suas consideraes, deixar mais claro que o sentido da
obra se completa no momento da sua leitura. Isso atribui ao leitor um
papel relevante na construo do significado do conto, bem como o
torna responsvel pelo julgamento de valor que determinar a rique-
za ou o fracasso da literatura em questo.
J o argentino Ricardo Piglia (1994), em suas Teses sobre o con-
to, faz outras duas importantes contribuies para as reflexes sobre
esse gnero literrio. A primeira delas a tese de que um conto sempre
conta duas histrias. [] Uma histria visvel esconde uma histria se-
creta, narrada de modo elptico e fragmentrio (PIGLIA, 1994, p. 37). O
engenho e a capacidade do escritor esto em saber cifrar uma histria
dentro da outra de tal modo que, ao final, a histria secreta aparea
causando um efeito de surpresa no leitor. A segunda tese diz que a
histria secreta a chave da forma do conto e suas variantes (PIGLIA,
1994, p. 39), ou seja, ela a responsvel pela estrutura do conto. Por
isso, toda a construo da narrativa feita com o propsito de trazer
tona o que estava submerso, independendo de interpretaes do leitor.
Assim, Piglia (1994) tambm enfatiza os aspectos formais do conto e
sugere tcnicas para a construo dessa narrativa.
Todas essas concepes tericas sobre o conto, at o momento
abordadas, foram revisitadas por Linares (1997) em seu ensaio
Apuntes para una teora del cuento. O autor tambm props uma
apreenso da natureza da narrativa curta considerando os elementos
Roselei Battisti
388
de comunicao (emissor, receptor, mensagem, cdigo, referente e
canal), em que o conto figura como uma mensagem narrativa breve
(LINARES, 1997, p. 34), com autonomia semntica e lingustica e que
dever provocar um efeito impactante no receptor. Reafirma, portan-
to, o aspecto da brevidade do conto, articulando-a com uma unidade
central, um nico tema, em torno do qual deve desenvolver-se a narra-
tiva. O autor critica a limitao ao uso de critrios estruturais para se
pensar o conto, o foco das reflexes somente no receptor e nos ele-
mentos internos e a inadequao do uso de metforas para sua com-
preenso que as teorias at ento concebidas apresentavam. Alm de
dar mais ateno para a relao entre autor e leitor, sua maior contri-
buio aos pressupostos j existentes foi a importncia atribuda ao
contexto sociocultural e psicolgico de produo e tambm de recep-
o da obra. Para Linares (1997), esses contextos determinam as con-
cepes que o autor e o receptor tm do que seja verdadeiramente um
conto. Isto implicar a forma como a narrativa ser concebida pelo
autor e tambm em como ela ser recebida pelo leitor, ou seja, o valor
que ele atribuir obra. Assim, uma boa teoria do conto, precisa levar
em conta esse mecanismo, pois ele tem influncia direta sobre o efei-
to que causar no leitor.
Por meio desta breve reviso das teorias do conto, pode-se per-
ceber que a preocupao com a estrutura da narrativa a responsvel
pela maioria das reflexes terico-crticas at ento desenvolvidas.
Nessa situao, observa-se que h certo engessamento da forma
conto, dentro de moldes que quase desconsideram sua flexibilidade e
a existncia de elementos externos obra capazes de interagir em seu
processo de composio e de recepo. Assim, importante que se
reflita sobre a suficincia e/ou pertinncia desses elementos, aponta-
dos como constitutivos da natureza do conto, para a melhor compre-
enso do gnero literrio e, ao mesmo tempo, se podem ser conside-
rados como critrios de valor da produo contstica contempornea.
2 O CONTO DE JOO GILBERTO NOLL
Um dos escritores contemporneos que se destacam em sua
produo de narrativas curtas o gacho Joo Gilberto Noll. Em seu
livro de contos A mquina de ser (2006), o autor demonstra toda sua
capacidade de provocar o estranhamento no leitor, por suas narrati-
vas desconcertantes, fragmentrias e subjetivas. Devido brevidade
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
389
do estudo aqui proposto, apenas duas (das 24 que compem a obra)
dessas narrativas sero analisadas luz das teorias do conto: A m-
quina de ser, que d nome ao livro e O convvio.
No conto A mquina de ser (NOLL, 2006, p.119), o narrador-
protagonista de Noll no tem um nome, apenas se sabe que trabalha
em uma Embaixada e , portanto, um estrangeiro em um pas que
tambm no chega a ser nominado. Ao leitor nada mais informado.
Ele to somente acompanha esse narrador durante o horrio de almo-
o, em seu primeiro dia de trabalho. o fluxo de pensamentos desse
ser annimo, em busca de sentido para sua existncia, caminhando a
esmo pelas ruas da cidade, que reger toda a narrativa.
O narrador entra em um restaurante qualquer, onde almoar
sozinho, e pede algum prato tpico (NOLL, 2006, p. 119), advertindo
ao garom que pretende comer na santa ignorncia (NOLL, 2006, p.
120), sem conhecer os ingredientes, pois deseja ser surpreendido, no
interessando se o gosto agradar ou no ao seu paladar. O automatis-
mo das aes, de algum a quem qualquer coisa serve, em sua tentati-
va, inusitada, de sentir alguma emoo pelo paladar, evidenciam o de-
sencanto em relao prpria vida. O olhar do narrador observa as
outras pessoas presentes no local, buscando em suas expresses algo
alm dos padres de conduta ditados pela sociedade massificadora de
seres. Numa tentativa de identificar nelas suas prprias angstias,
conforma-se, concluindo que Atrs das fisionomias dormitava um ul-
timato beira de se revelar. Dormitava, certamente se notava: o pulso
ainda fraco. (NOLL, 2006, p. 120).Ao receber o telefonema de um
amigo de seu pas, seu interesse despertado no pelos assuntos rela-
cionados ao trabalho ou sociedade, mas, pelo desejo de notcias de
sua filha e pelo fato de perceber-se incapaz de adentrar na subjetivi-
dade de um poema de Rafael de Quental citado pela voz ao telefone,
fato que reafirma o automatismo em que vive:
Lembrei que eu agora s sabia beber um clice de vinho s portas
da madrugada, e isso j me bastava para aventurar um pouco mi-
nhas idias que logo retornavam porm ao seu leito natural , por
onde as guas desciam em sua mansa sina, dando a funcionar mais
uma vez minha mquina de ser , ali, quietinho, fumando meu ca-
chimbo, meio encolhido sob o abajur para permanecer nos bastido-
res, sem nem eu mesmo perceber. (NOLL, 2006, p. 120-121)
Roselei Battisti
390
No excerto acima, percebe-se uma vida condicionada s exign-
cias da sociedade capitalista contempornea, em que tudo regido
pela lgica do consumo e da transitoriedade das coisas. A urgncia
desse modelo social consome fugazmente o tempo dos indivduos que
vivem como autmatos, incapazes de pensar e agir por si prprios.
Essa apatia existencial reforada pelo andar montono do narrador
ao voltar para a Embaixada. Olhando as vitrines, parece procurar al-
guma coisa que justifique suas angstias, numa tentativa de sentir-se
menos estrangeiro no mundo globalizado. Porm, percebe que no
adianta, pois Tudo parecia concorrer para uma lgica que no adian-
tava revidar. [] Eu que precisava aprender a ver ali a sorte humana
e nela me incluir. (NOLL, 2006, p. 121). O fato de o narrador aprovei-
tar o rpido intervalo do almoo para refletir sobre questes existen-
ciais, num momento de deslocamento constante, refora a ideia de que
os indivduos agem automaticamente, como verdadeiras mquinas de
ser, engrenagens que precisam ajustar-se ao movimento da mquina
global.
Por todos agirem como autmatos, no existem individualidades
no mundo globalizado. Segundo o socilogo polons Zygmunt Bauman
(2008), criador do conceito de modernidade lquida, Nesse cenrio,
a individualidade ficara a merc de uma propenso coletiva das neces-
sidades humanas. As privaes se somaram, [] e foram vistas como
tratveis apenas por um remdio coletivo: o coletivismo []
(BAUMAN, 2008, p. 64). Assim, o ser humano massificado est cada
vez mais condicionado, preso ao corpo/mquina que habita. Por isso,
o narrador ironiza a existncia de culturas locais, num mundo regido
pela lgica capitalista da matria, que pretende alcanar o transcen-
dente por meio da satisfao fsica.
Trouxera mapas [] Seus usos e costumes, como se isso ainda pu-
desse vigorar [] No pice, quando as crenas num mundo post-
mortem se desvaneciam ao som das vibraes e dos gemidos, nesse
momento j estaramos imantados da suma teolgica extrada da
nossa ignorncia. Essa a nova teologia []. (NOLL, 2006, p. 121-
122)
Assim, enquanto caminha, busca um sentido maior para existir.
No entanto, v no seu trabalho a nica causa til que justifica conti-
nuar vivo:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
391
Sim, eu queria morrer, mas ainda era cedo. Ainda tinha essa misso
na Embaixada e eu me sairia bem. Era s acionar a mquina de ser,
que tinha no meu corpo um intrprete. [] No havia razo de pane
aguda agora, me levando de roldo. [] Era preciso, era preciso, a
vida se fazia de minuto a minuto. (NOLL, 2006, p. 122)
Embora confesse querer mais da vida, Um pouco mais que fos-
se (NOLL, 2006, p. 122), para evitar uma crise maior, o narrador aci-
ona novamente sua mquina de ser que tangia-me a subir os de-
graus da portaria da Embaixada (NOLL, 2006, p. 122) e volta ao tra-
balho, finalizando o conto.
Percebe-se, portanto, que A mquina de ser de Noll no satis-
faz alguns critrios apontados pelas teorias do conto como caracters-
ticos do gnero. A narrativa no se apresenta estruturada da forma
tradicional. Ela deixa o leitor a esmo, pois no o situa no tempo e no
espao, nada lhe informado sobre o protagonista, nem mesmo pos-
svel supor um tema para o que est sendo contado. Somente no de-
correr da leitura algumas (poucas) informaes podem ser inferidas.
No h na narrativa um acontecimento significativo em torno do qual
o conto seja construdo, conforme queria Cortzar (1993), nem mes-
mo existem as pequenas aes referidas por Poe (1985) para movi-
mentar o enredo e prender o leitor. O que h uma monotonia, regida
pelo fluxo de pensamentos do narrador-protagonista, cuja voz man-
tida sempre no mesmo tom, no dando indcios do rumo da narrativa
ao leitor. Alm disso, segue at o final sem apresentar um clmax.
Tambm no informado o que levou o protagonista crise
existencial que est vivendo. Quando se refere filha, possvel supor
a existncia de uma segunda histria sendo construda, conforme su-
gere a tese de Piglia (1994). Porm, isso no se confirma e o leitor se-
gue solto, sem estar sob o controle do autor, como previa Poe (1985)
em sua teoria. Por isso mesmo (por essa diversidade de possibilidades
em uma leitura mais livre), talvez a elevao da alma, ao final da
narrativa, no seja provocada no leitor.
No entanto, alguns aspectos tericos so contemplados na narrati-
va. Por sua extenso, o conto possibilita a leitura em uma nica assen-
tada, satisfazendo o critrio de brevidade defendido pelos tericos re-
visados anteriormente. Alm disso, se os contextos socioculturais e
psicolgicos de produo e de recepo forem considerados, conforme
sugere Linares (1997), possvel que o leitor compreenda a proposta
Roselei Battisti
392
de Noll e perceba a unidade de efeito defendida por esse mesmo au-
tor. Afinal, provvel que a concepo de conto do leitor dialogue com
sua contemporaneidade, aceitando uma narrativa fragmentada, com-
pletamente fora dos padres estruturais das histrias convencionais.
Se, por um lado, a ausncia de informaes fere o princpio do contro-
le absoluto do autor sobre o leitor e sua total responsabilidade pelo
efeito final que Poe (1985) preconiza; por outro, privilegia a abertura
da obra referida por Cortzar (1993), pois amplia de forma conside-
rvel as possibilidades de significao da narrativa para o receptor.
Essa mesma soltura sentida tambm em O convvio, um
conto no qual, mais uma vez, Noll (2006, p. 37) expe a fragilidade das
relaes humanas em um mundo precrio, onde at mesmo o grotesco
pode ser justificado e admirado. Dessa vez uma narradora-
protagonista que brinca com a linearidade narrativa, confundindo o
leitor, muitas vezes fazendo-o reler trechos, duvidando da prpria lei-
tura que fez.
O conto inicia subitamente, com essa narradora-protagonista
annima tentando um dilogo com um ser que custa ao leitor identifi-
car. Algumas vezes parece ser um animal, outras uma criana, um be-
b e at mesmo algum com problemas mentais. No decorrer da nar-
rativa, que exige muita ateno, depreende-se que narradora uma
mulher solitria, trabalhando em um Dispensrio, de onde leva para
casa, em algumas ocasies, esse pupilo com o objetivo de ensinar-lhe
a conviver. O prprio termo Dispensrio utilizado causa certo es-
tranhamento, pois, somado a tantas outras lacunas narrativas, dificul-
ta o entendimento do texto. Assim, o leitor acompanha no escuro
uma narrativa em que a arte de conviver, inicialmente, ensinada de
maneira brutal pela protagonista:
Gosta do cheiro? Ele abanava a cabea, mas eu no me dava por sa-
tisfeita. A eu botava o papel sujo no cesto, pegando-o sempre pela
nuca, como se faz com o cachorro que, desavisado, comete suas ne-
cessidades, sei l, em cima do sof. Pega-se o sujeito pelo cangote e
se faz com que ele cheire a porcaria que gerou []. (NOLL, 2006, p.
37-38)
No entanto, aos poucos, percebe-se que a narradora-
protagonista afeioa-se cada vez mais ao seu pupilo, declarando sua
prpria necessidade de aprender a conviver. Embora pensasse no
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
393
estar no mesmo nvel da bestialidade do aprendiz (NOLL, 2006, p.
38), reconhece que tambm tem dificuldade de relacionar-se com ou-
tras pessoas: eu talvez precisasse tanto quanto ele da vocao para os
encontros [] a cada dia mais recuava diante das relaes que no
fossem as do Dispensrio, onde eu entrava a cada manh e de onde eu
saa no fim da tarde. (NOLL, 2006, p. 38). Observa-se aqui mais uma
vez o automatismo da mquina de ser de Noll, impelindo os indiv-
duos a seguirem sempre em frente, pois no possvel parar as en-
grenagens da sociedade. A massificao do ser humano evidenciada
quando a mulher leva seu pupilo ao McDonalds, onde lhe paga uma
Coca, um hambrguer e batatinhas fritas (NOLL, 2006, p. 38) e o ins-
lito acontece: A ele latiu em pleno McDonalds. Sim, latiu, foi isso exa-
tamente o que eu disse! (NOLL, 2006, p. 38). Mesmo assim, Ningum
reparou no latido. Em volta eram quase todos gordos. E ele ali na mi-
nha frente no fugia regra. (NOLL, 2006, p. 38). Ou seja, a fora uni-
ficadora do smbolo mximo do capitalismo global, McDonalds e Coca-
Cola, capaz de abarcar a todos, at mesmo os que foram dispensados
do convvio social.
A narrativa sugere haver j certo grau de desequilbrio na prota-
gonista que, no desespero por preencher seu vazio existencial, por
acabar com a solido, admite sua paixo por isso que ainda no
humano (NOLL, 2006, p. 39) e que Para viabilizar essa paixo seria
capaz de desfigur-lo at. Extra-lo de sua imagem e cunhar fora
uma segunda figura [] (NOLL, 2006, p. 39). O sentimento de vazio
existencial e de desequilbrio tambm flagrado por essa doentia de-
pendncia do outro: [] que nada sou alm dessa identidade a servi-
o dos demais [] se deixe friccionar pela minha que j se encontra
inteira na dormncia dele, na dormncia dessa mquina de ser ainda
incipiente [] (NOLL, 2006, p. 40).
Em razo desse evidente desequilbrio da protagonista e da for-
ma como o enredo vai sendo construdo, fica difcil diferenciar o que
realidade do que sonho ou loucura. Tanto que, ao encaminhar-se pa-
ra o final, a narrativa d a impresso de que algo ser revelado, possi-
bilitando sua melhor compreenso, porm, isso no acontece. Ao con-
trrio, h muita confuso com a fuga da protagonista, que pega uma
barca, levando junto seu pupilo enrolado em um lenol, Naquelas cir-
cunstncias, um oportuno beb (NOLL, 2006, p. 42). Depois da tra-
vessia, do outro lado da baa, O embrulho estava assustadoramente
Roselei Battisti
394
menor (NOLL, 2006, p. 42). A mulher procura algum que pudesse
reconhecer aquela criana envolta em seus braos. Porm, acha que o
atendente da farmcia Seria desastrado quando visse o que eu tinha
para mostrar. Por enquanto eu no queria escndalo. [] Eu s preci-
sava adiar at que a fora avulsa que eu ninava estivesse preparada
(NOLL, 2006, p. 42). Ento, a protagonista corre com seu embrulho
nos braos e, de repente, depois da chuva, vm: a beleza do instante, a
calmaria, o banco da praa, um intenso momento de convvio selado
por lbios que sugavam um peito em trevas. E a narradora encerra o
conto questionando diretamente o leitor que, certamente, est confu-
so com suas atitudes: Pois de quem mais ele teria um peito e esse fo-
go brando a cada nova mamada? De quem mais? Hein? Por acaso de
ti? (NOLL, 2006, p. 42).
Ao final da narrativa, o leitor, que at ento observava apenas,
surpreendido pela cobrana da narradora-protagonista. E ele
quem deve finalizar o conto respondendo a essas e a todas as outras
perguntas que certamente borbulham em seus pensamentos. Nesse
sentido, percebe-se a abertura da obra, assinalada por Cortzar
(1993), pois a narradora deixa muitos espaos em branco cujas pos-
sibilidades de preenchimento pelo leitor so inmeras. A referida
abertura tambm est no fato de a narrativa representar um fragmen-
to da realidade, que possibilita uma viso para alm de seus limites
fsicos. E aqui, cabe tambm a analogia de Cortzar (1993) que com-
para o conto a uma fotografia, sendo essa referncia muito adequada
narrativa curta de Noll, pois ele costuma retratar, mostrar frag-
mentos da realidade. O efeito fotografia tambm colabora para se
alcanar a intensidade e a conciso de Cortzar (1993) ou a brevidade
de Poe (1985), pois consegue dizer muito, em poucas palavras.
No entanto, assim como em A mquina de ser, a estrutura da
narrativa no apresenta um nico acontecimento significativo que
norteie as demais aes. Seu carter fragmentrio dificulta at mesmo
o estabelecimento de um enredo para essa histria que no tem um
final, no se conclui nunca. Ento, aspectos como a unidade de efeito
ou impresso que leva exaltao da alma, que alcanada no final
do conto e que depende unicamente das habilidades do autor, propos-
tos por Poe (1985) no encontram lugar em O convvio. Tambm
no possvel detectar a existncia de uma histria secreta, nos mol-
des sugeridos por Piglia (1994), como uma estratgia estrutural, uma
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
395
tcnica de construo que faz emergir, de modo surpreendente, no
final da narrativa (sem necessidade de interpretao), essa segunda
histria.
As propostas de Linares (1993) referentes ao tema nico e
construo do conto seguindo estritamente uma ordem lingustica e
textual, sem considerar a esttica literria, tambm no foram con-
templadas na narrativa. No entanto, a considerao dos contextos de
criao e de recepo a que se refere o autor fundamental no mo-
mento da compreenso e da valorao do conto.
Portanto, percebe-se que as duas narrativas curtas de Noll,
quando analisadas luz das teorias do conto, apresentam alguns dos
aspectos referendados pelos pressupostos. Contudo, outros tantos,
no so observados pelo autor, que chega a contrari-los totalmente
em certos casos. Tais constataes levam seguinte pergunta: em que
medida isso interfere na significao, na compreenso e na valorao
dessas histrias?
3 SOLIDO, VAZIO EXISTENCIAL E A (IN)SUFICINCIA DAS TEORIAS DO CONTO:
UMA LEITURA DE NARRATIVAS CURTAS DE JOO GILBERTO NOLL
Os contos de Noll retratam a solido e o vazio do ser que, ironi-
camente, vive sem liberdade em um mundo globalizado, quase sem
fronteiras fsicas, cujas distncias parecem no existir mais. A insatis-
fao por estar em um mundo que no deixa espao para a construo
da individualidade de cada um produz esses seres annimos, verda-
deiras mquinas de ser. justamente esse conflito entre a realidade
exterior e o mundo interior dos narradores-protagonistas que interes-
sa a Noll.
Por isso, suas histrias so perpassadas por uma subjetividade
instvel e o que move as narrativas so os conflitos internos de prota-
gonistas que no conseguem adequar-se ao mundo exterior e no uma
sequncia de acontecimentos. Talvez esse seja um dos principais mo-
tivos que levam inadequao das teorias do conto para explicar a
narrativa do autor, afinal, o acontecimento/ao, tem papel funda-
mental no estabelecimento de critrios que indicam a natureza do
conto. Nesse aspecto, Gotlib (1987) cita Tchekhov como um contista
inovador que comea a transpor algumas barreiras tericas em sua
produo literria: Tchekhov-contista avana no sentido de libertar o
Roselei Battisti
396
conto de um de seus fundamentos mais slidos: o do acontecimento.
[] E abre as brechas para toda uma linha de conto moderno, em que
s vezes nada parece acontecer (GOTLIB, 1987, p. 46-47). A autora
tambm faz referncia a no obedincia do escritor estrutura tradi-
cional de comeo, meio e fim: Alguns contos seus no crescem em di-
reo a um clmax. Ao contrrio, mantm um tom menor, s vezes por
igual no decorrer de toda a narrativa (GOTLIB, 1987, p. 47). Assim
como Tchekhov, outros contistas subvertem os fundamentos das teo-
rias do conto e nem por isso suas narrativas deixam de pertencer ao
gnero.
No conto A mquina de ser, Noll faz uma demonstrao clara
do trabalho que realiza com a forma, subvertendo as teorias, porm
valorizando imensamente sua narrativa. A monotonia, a falta de ao e
de clmax no enredo, o abandono a que o leitor relegado pelo narra-
dor-protagonista e a expectativa (frustrada) de que, em algum mo-
mento algo de importante ir acontecer, tudo isso, causa no leitor o
mesmo efeito de vazio existencial sentido pelo narrador, traduzido
em solido, angstia, falta de emoo e frustrao. Mas isso somente
percebido depois de acabada a leitura que levada at o final justa-
mente pela expectativa de que algo que justifique/explique/mude a
situao ter que acontecer. No entanto, para que haja esse entendi-
mento, preciso saber a que o autor est referindo-se e levar em con-
ta a precariedade da sociedade contempornea, capaz de produzir tais
efeitos nos indivduos. Isso talvez aponte para a necessidade de teori-
as do conto que contemplem com maior nfase a dialogicidade da obra
com seu contexto de produo e de recepo, mediada pelo autor e
pelo leitor.
Tambm em O convvio pode-se perceber uma construo que
refora o sentimento de solido da narradora-protagonista. Durante
toda a histria, a narradora deixa claro que no tem ningum alm de
seu pupilo. A angstia dos momentos finais est refletida na falta de
linearidade da narrativa e na confuso que isso causa no leitor, fazen-
do com que ele muitas vezes tenha que voltar na leitura. A narradora
movimenta-se incessantemente, no pode contar com a ajuda de nin-
gum em sua nsia de estabelecer uma relao, um convvio de fato
com algum. Quando ela finalmente estabelece esse dilogo com seu
pupilo, tambm o faz com o leitor, olhando diretamente para ele e
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
397
questionando-o sobre sua capacidade de conviver. Assim, a histria
no se completa pelo escritor, mas pelo leitor.
Esses aspectos formais so capazes diminuir o valor da narrati-
va? Obviamente que no, pois reforam seu entendimento e seu signi-
ficado. Talvez Noll conseguisse produzir um efeito parecido com o
provocado por esses contos em seus leitores, construindo uma narra-
tiva que contemplasse os aspectos formais destacados pelas teorias
aqui arroladas. Talvez no. O fato que a literatura representa um es-
pao de diversidade de expresses e formatos engessados no combi-
nam com o movimento constante dessa arte.
Desse modo, as reflexes aqui realizadas, parecem apontar para
certa fragilidade de teorias que se fundamentam basicamente em cri-
trios formais para identificar a natureza do conto, defini-lo enquanto
gnero ou julgar seu valor literrio. Tambm importante notar que
muitos aspectos tericos servem para explicar determinados tipos de
contos e no toda a produo contstica existente. Isso remete flexi-
bilidade formal desse tipo de narrativa. possvel, ento, que futuros
estudos sobre o conto precisem, tambm, flexibilizar seu olhar, direci-
onando-o para horizontes pouco vislumbrados at agora, como o di-
logo que estabelece com o contexto e suas possveis implicaes.
REFERNCIAS
BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histrias vivi-
das. Traduo de Jos Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
CORTZAR, Julio. Valise de cronpio. So Paulo: Perspectiva, 1993.
GOTLIB, Ndia Battela. Teoria do conto. So Paulo: tica, 1987.
JOLLES, Andr. Formas Simples. So Paulo: Cultrix, 1976, p.181-204.
LINARES, Luis Barrera. Apuntes para una teora del cuento. In: PACHECO, Carlos;
LINARES, Luis Barrera (Orgs). Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una
teora del cuento. 2. ed. Caracas: Monte Avila Editores, 1997. p. 29-42.
NOLL, Joo Gilberto. A mquina de ser. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
PIGLIA, Ricardo. O Laboratrio do escritor. So Paulo: Iluminuras, 1994.
POE, Edgar Allan. Review of Twice told tales. In: MAY, Charles. Short story theo-
ries. 2. ed. Ohio: Ohio University Press, 1976.
POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
RELAES ENTRE LITERATURA E VIOLNCIA:
ANOTAES SOBRE FORMAS E TEMAS DE CONTOS
BRASILEIROS CONTEMPORNEOS
Luana Teixeira Porto
1
1 INTRODUO
Na cultura brasileira, diferentes formas de expresso artstica
tm se mostrado sensveis a um dado da nossa histria social: a pre-
sena da violncia nos espaos urbanos e rurais. Prticas de tortura,
discriminao social, represso, imposio da cultura alheia e inob-
servncia cultura nativa, escravido, genocdios, entre outros, so
temas frequentes em obras literrias, musicais, cinematogrficas e te-
levisivas, algumas preocupadas em oferecer ao leitor/ouvinte/espec-
tador situaes conflitivas e impactantes para despertar ateno sobre
problemas sociais, mobilizando ainda uma tomada de conscincia so-
bre eles. Outras se restringem a situar o receptor num contexto em
que a violncia ganha notoriedade e torna-se assunto com alto poder
de consumo sem, no entanto, configurar-se como objeto de discusso
crtica.
No conjunto de obras artsticas que exemplificam a primeira
tendncia, podemos inserir romances como Vidas secas, de Graciliano
Ramos, e Cidade de Deus, de Paulo Lins, nos quais a dificuldade de so-
brevivncia em contextos hostis, como o da seca na narrativa de Ra-
mos e a favela na de Lins, ampliada pela violncia simblica e social
que atinge os sujeitos dessas histrias. Para ilustrar essa afirmao,
basta considerar a situao de agresso fsica, excesso de autoritaris-
mo e violncia simblica do Estado contra o civil na cena em que Fabi-
1
Doutora em Letras e professora do Programa de Ps-Graduao em Letras Mestrado
em Letras da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses, campus
de Frederico Westphalen. E-mail: luanatporto@bol.com.br
Luana Teixeira Porto
400
ano, o vaqueiro de Vidas secas, preso e surrado pelo Soldado Ama-
relo dentro da cela por um motivo torpe: Fabiano, em um gesto impul-
sivo, xinga a me do policial quando este o repreende por ter sado de
uma bodega sem se despedir dos demais. Tal atitude, condenvel na
viso do soldado, motiva a agresso dentro da sala prisional e sinaliza
o uso da fora policial que representa o Estado como forma de inibir
os sujeitos que ousam questionar determinadas aes: Fabiano caiu
de joelhos, repetidamente uma lmina de faco bateu-lhe no peito, ou-
tra nas costas. Em seguida abriram uma porta, deram-lhe um safano
que o arremessou para as trevas do crcere (RAMOS, 2007, p. 16). No
caso da histria de Lins, merece destaque o fato de a violncia exerci-
da pelos principais personagens do romance (por meio de assaltos,
homicdios, roubos, estupros etc.) no ser objeto de contestao, mas,
ao contrrio, ser razo para enaltecer as figuras da Cidade de Deus
como sujeitos distintos em relao a criminosos de outras favelas.
Nesse sentido, a violncia apresentada, na viso dos personagens,
como algo natural e no comprometedor do ponto de vista tico e mo-
ral; no entanto, no contexto da obra, justamente pelo fato de os perso-
nagens vivenciarem violncias e dissemin-las, a representao desse
tema busca provocar o choque no leitor pela crueza das aes e pela
falta de culpa diante dos crimes, incitando o interlocutor a pensar so-
bre a (in)adequao dessas posturas no espao urbano desfavorecido
socialmente. Isso fica evidente na passagem em que o narrador relata
a publicao nos jornais de crimes cometidos por habitantes de Cida-
de de Deus:
Na verdade, todos se orgulhavam de ver o motel estampado na
primeira pgina. Sentiam-se importantes, respeitados pelos outros
bandidos do conjunto, das outras favelas, pois no era para qual-
quer bandidinho ter seus feitos estampados na primeira pgina
dum jornal, e, tambm, se dessem o azar de ir presos, seriam consi-
derados na cadeia por terem realizados um assalto de grande porte.
Pena no sarem os nomes na matria, mas, pelo menos, disseram
que s podia ter sido obra dos bandidos de Cidade de Deus. Todos
os conhecidos saberiam que havia sido eles. (LINS, 1997, p. 90)
Em relao segunda tendncia, podemos verificar obras em
que a representao da violncia configura-se como o propsito em si,
acrescido da busca por um pblico que se satisfaz ao viver, atravs das
telas e das histrias escritas, situaes de crueldade, dor e agresso
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
401
moral e fsica. O filme Tropa de Elite, de Jos Padilha, pode ser aponta-
do como um exemplo de narrativa que promove a violncia policial, na
medida em que cria um personagem principal, o Capito Nascimento,
que se sustenta no comando do BOPE mediante a prtica de tortura e
violncia, contrariando a defesa dos direitos humanos relacionados
manuteno da integridade fsica e moral. Capito Nascimento apre-
sentado ao espectador como um sujeito digno de admirao. Contudo,
sua postura, marcada pelo uso exacerbado da fora policial e dos m-
todos repressivos, indicativa de uma cultura da violncia como for-
ma de soluo de conflitos, e a representao cinematogrfica da atua-
o do grupo do BOPE liderado pelo Capito no filme, com imagens
detalhadas das cenas de tortura e opresso, provoca o que podemos
chamar de espetacularizao da violncia, afastando-se de um com-
promisso com a deslegitimao da violncia naturalizada. Nessa li-
nha de raciocnio, cabe mencionar o estudo de Bentes (2003), que
acentua haver no cinema internacional uma tendncia a uma glamou-
rizao da violncia quando deveria haver o oposto, ou seja, deveria
ser construda uma arte cinematogrfica voltada para o esvaziamento
da violncia naturalizada.
Se, ento, podemos observar pelo menos duas tendncias de
abordagem da violncia nas manifestaes artsticas, nas quais se in-
cluem filmes, romances, programas televisivos como novelas e seria-
dos, e se podemos pensar no propsito dessas obras funo crtica
ou formao da sociedade do espetculo da violncia , pertinente
fazer outros questionamentos cujas respostas podem ser elucidativas
do que chamamos de narrativas da violncia. Este termo entendido
neste texto como o conjunto de histrias estruturadas com base nos
elementos narrativos (narrador, personagens, tempo, enredo, espao)
e providas de elementos estticos que acentuam o trao artstico das
obras. Considerando isso, as perguntas que norteiam essa reflexo
centralizam-se na discusso sobre as narrativas literrias brasileiras
da violncia: Qual o posicionamento dominante desses textos quando
se considera a representao da violncia social? Que traos formais e
temticos singularizam essas narrativas? Que relaes esses textos
estabelecem com o contexto social e histrico brasileiro?
Na busca por respostas a essas questes e tendo em vista a im-
possibilidade de discusso de todos os gneros literrios narrativos e
produes brasileiras em todos os perodos histricos em um s tra-
Luana Teixeira Porto
402
balho, neste texto propomos uma reflexo sobre o conto contempor-
neo e, para isso, partimos de uma breve contextualizao desse gnero.
Na contstica contempornea brasileira, h uma diversidade de
formas, linguagens e temas, havendo uma escritura que se aproxima
ora da fragmentao formal, ora da linearidade narrativa, linguagem
contstica que se volta para uma introspeco em alguns textos, para
uma objetividade em outros ou ainda para um subjetivismo. Tal diver-
sidade de formas sinaliza ainda uma dificuldade de a teoria do conto
dar conta das especificidades do gnero quando se consideram a for-
ma e a estruturao do conto brasileiro contemporneo. Quanto s
temticas dos contos, solido, vida urbana, desestruturao do sujeito,
relacionamentos interpessoais, violncia, excluso social, opresso,
represso, metanarrativa, entre outros, tm recebido ateno de dife-
rentes escritores, o que sinaliza uma potencialidade da narrativa curta
em abordar temas to dspares.
Em relao a traos temticos, notamos que um dos tpicos re-
correntes nos contos o da violncia. Por isso, este trabalho prope-se
a diagnosticar as escolhas esttico-formais adotadas pelos contistas
contemporneos ao abordar a violncia e diagnosticar se as escolhas
esttico-formais adotadas pelos autores sinaliza uma tendncia do
conto brasileiro contemporneo em propor uma formao de pensa-
mento crtico ou em represent-la de modo passivo sem provocar uma
incomodao no interlocutor. Por isso, objetiva-se ainda refletir sobre
a funo social dos textos literrios que problematizam a violncia no
contexto histrico-social-poltico-cultural do Brasil. Para isso, anali-
sam-se narrativas curtas dos seguintes autores: Rubem Fonseca, Caio
Fernando Abreu, Joo Gilberto Noll e Beatriz Bracher. Em termos ge-
rais, nota-se que os contos de tais escritores apresentam traos for-
mais diferentes, h predomnio do uso da primeira pessoa na voz do
narrador, mas nem sempre h um discurso subjetivo. A narrao das
diversas prticas de violncias social normalmente realizada pelo
sujeito que pratica a violncia, e seu relato desprovido de sentimen-
to de culpa, o que incita a ideia de naturalizao da violncia.
2 AS FORMAS DA NARRATIVA DA VIOLNCIA NO CONTO CONTEMPORNEO
No conto brasileiro contemporneo, autores parecem assinalar
que a sociedade brasileira caracteriza-se por sucessivas prticas de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
403
violncia, muitas delas nem percebidas como algo a ser combatido,
visto a naturalidade com que acontecem, reproduzem-se e inserem-se
no cotidiano. Nesse sentido, muitos textos literrios permitem verifi-
car a pertinncia da afirmao de Tnia Pelegrini quanto a autora en-
fatiza que as obras artsticas de um modo geral tratam a violncia
como um elemento fundador a partir do qual se organiza a prpria
ordem social e, como consequncia, a experincia criativa e a expres-
so simblica (2005, p. 134). Em outras palavras, no possvel des-
vincular a violncia da formao social do pas, posio compartilhada
por outros estudiosos como Scholhammer (2000) e Ginzburg (2012).
No caso especfico do conto brasileiro contemporneo, conside-
rando os escritores que so objeto de anlise neste trabalho, a repre-
sentao da violncia d-se pela recorrncia a mltiplos enfoques,
dentre os quais: a represso sexual e sua consequente aniquilao e
discriminao dos sujeitos, como se verifica em narrativas de Caio
Fernando Abreu; a tortura fsica e psicolgica que aparece em algumas
narrativas de Joo Gilberto Noll; a violncia do Estado contra os civis,
tematizada tanto por Abreu quanto por Noll; a criminalidade exacer-
bada e a crueldade da violncia, que singularizam muitos contos de
Rubem Fonseca; a violncia social legitimada em espaos marginais
apontada por Beatriz Bracher. Tais temticas, guardadas as diferenas
estticas e de potencialidade crtica nas narrativas, apresentam uma
coordenada em comum: registram a presena de diversas formas de
violncia impregnadas na cultura e na sociedade brasileiras, mostran-
do o quanto a literatura est atenta a problemas de ordem social e
destacando que traos do contexto brasileiro interferem nas condi-
es de produo e recepo das obras literrias.
Para compreender a narrativa de Rubem Fonseca e como a vio-
lncia problematizada em seus contos, preciso observar estrat-
gias formais so recorrentes na sua narrativa da violncia e a qual vi-
so sobre esse tema pode ser construda a partir da leitura de seus
contos. Se tomarmos como referncia textos curtos de O cobrador, ve-
remos que a prtica da violncia justificada como resposta violn-
cia social que permeia o cenrio urbano brasileiro. No conto O cobra-
dor, por exemplo, isso fica evidente quando o personagem principal,
responsvel por matar, estuprar, roubar pessoas que esto a sua volta,
declara que suas aes so motivadas por um desejo de cobrana, de
fazer a sociedade pagar pela vida dura lhe ofereceu. Os fragmentos a
Luana Teixeira Porto
404
seguir exemplificam tal afirmao: Eu no pago mais nada, cansei de
pagar!, gritei para ele, agora eu s cobro! (FONSECA, 1989, p. 14) e
Esto me devendo xarope, meia, cinema, fil mignon e buceta, anda
logo (FONSECA, 1989, p. 21).
Neste conto e em outros da obra, como Livro de ocorrncias e
Pierr das cavernas, percebemos que a violncia social nos centros
urbanos uma consequncia da vida em contexto hostil. Como trao
formal, as narrativas fonsequianas exploram um discurso narrativo
em primeira pessoa e objetivo, o que, por um lado, poderia impor um
tom mais subjetivo, emotivo e comprometido social e eticamente com
a reflexo ou extino dos atos violentos; contudo, no existe por parte
dos narradores autores das aes de violncia uma postura de enfren-
tamento desse exerccio da crueldade. Ao contrrio, esses narradores
em primeira pessoa, ao no expressarem envolvimento com os atos de
morte, agresso e crimes de que so responsveis, apontam para uma
ideia de violncia como prtica naturalizada na sociedade brasileira.
Em Caio Fernando Abreu, podemos discutir a violncia tanto em
termos de sua presena em contextos histricos especficos, como o da
Ditadura Militar, quanto em relao a situaes de represso sexual e
homofobia. O conto Tera-feira gorda, publicado no livro Morangos
Mofados, de 1982, prope associar violncia represso homossexual
num contexto supostamente livre de preconceitos e conservadorismo:
o carnaval. O enredo da narrativa aborda o encontro afetivo de dois
homens numa festa de carnaval, tida, no contexto brasileiro, como
uma comemorao do povo, da liberdade, da troca de papis sociais. A
passagem a seguir registra o discurso de um dos personagens prota-
gonistas, que tambm o narrador da histria, em relao identifi-
cao mtua entre eles:
Tnhamos pelos, os dois. Os pelos molhados se misturavam. Ele es-
tendeu a mo aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O
qu, perguntei. Voc gostoso, ele disse. E no parecia bicha nem
nada: apenas um corpo que por acaso era de homem gostando de
outro corpo, o meu, que por acaso era de homem tambm. Eu es-
tendi a mo aberta, passei no rosto dele, falei qualquer coisa. O qu,
perguntou. Voc gostoso, eu disse. Eu era apenas um corpo que
por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por
acaso era de homem tambm. (ABREU, 1995, p. 51, grifos da autora)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
405
No conto, a identificao entre os dois no evento gera olhares
mais atentos dos outros, que passam a repudiar o envolvimento mais
prximo (mas ainda no sexual) deles e depois os seguem at a praia,
onde os dois transam. A partir de ento, esses outros promovem su-
cessivas agresses fsicas que culminam na morte de um dos rapazes
(o outro consegue fugir e v, entristecido, a morte de seu companheiro
metaforizada com a imagem de um figo maduro se decompondo em
mil pedaos sangrentos). Dessa forma, o conto de Abreu prope que
ler o Brasil do carnaval como um pas em que as liberdades indivi-
duais em espaos caracterizados como libertrios errneo. Ou seja, o
conto alerta para o mito do Brasil como um lugar livre e preparado
para o respeito s diferenas, nas quais se incluem as de ordem sexual.
Alm disso, a narrativa de Abreu destaca a profuso de aes re-
pressivas aliceradas no exerccio da violncia fsica e moral. Na me-
dida em que os dois personagens do conto so repudiados socialmen-
te, vtimas de piadas com conotao discriminatrias
2
e sofrem agres-
ses fsicas na praia, a histria passa a problematizar a excluso social
daqueles que apresentam uma sexualidade dissidente, no heteros-
sexual e a acentuar a hipocrisia brasileira manifestada na dualidade
do culto liberdade no carnaval, por um lado, e por outro, da conde-
nao da homossexualidade nesse contexto. O mesmo pas que glorifi-
ca o momo permite a punio do homossexual. Nessa perspectiva, a
proposio de Arnaldo Franco Jr. (2000, p. 92) esclarecedora para
compreender as relaes entre sociedade brasileira e violncia, uma
vez que, segundo ele, O carnaval, em Tera-feira Gorda, alegoriza a
prpria tessitura de violncia sombria mesclada a exploses circuns-
tanciais de euforia e aparente desregramento que caracterizam um
modo de ser alegre, irresponsvel e brutal.
Quanto s estratgias formais em Tera-feira Gorda, o texto de
Caio apresenta um narrador em primeira pessoa e discurso subjetivo.
Este enfatiza o olhar do sujeito vitimado pela violncia e o dos outros,
acenando para uma construo literria que promove a reflexo sobre
a violncia em contextos supostamente libertrios. A escolha por um
narrador em primeira pessoa, nessa perspectiva, ainda contribui para
2
As piadas alusivas homossexualidade dos personagens so proferidas por partici-
pantes da festa de carnaval: Passou a mo pela minha barriga. Passei a mo pela bar-
riga dele. Apertou, apertamos. As nossas carnes duras tinham pelos na superfcie e
msculos sob as peles morenas de sol. Ai-ai, algum falou em falsete, olha as loucas, e
foi embora. Em volta, olhavam. (ABREU, 1995, p. 51, grifos da autora).
Luana Teixeira Porto
406
marcar para o leitor um posicionamento voltado para a formao do
pensamento crtico acerca da agresso e excluso cometida contra
homossexuais. Em outras palavras, o conto, ao problematizar a violn-
cia relacionada sexualidade no carnaval, situa-se no conjunto de
obras que se propem a enfrentar os cenrios da violncia, mobilizan-
do-se para a construo de uma cultura pacfica, caracterizada tam-
bm pela defesa das liberdades individuais.
O contexto da Ditadura Militar no Brasil problematizado no
conto Alguma coisa urgentemente, de Joo Gilberto Noll. A narrativa
incita a viso crtica sobre esse processo histrico, acentuando o im-
pacto das prticas de tortura contra os perseguidos pelo regime dita-
torial. O enredo do conto versa sobre a histria de um pai que cria so-
zinho seu filho e que procurado pela polcia por estar envolvido em
crimes contra o sistema de governo opressor. Ao longo da narrativa,
o filho destaca a forma de envolvimento com o pai e o processo de de-
sestruturao fsica e emocional que este passa em virtude das cons-
tantes fugas e perseguies da polcia. O filho fica sozinho quando o
pai desaparece e, acostumado com as ausncias paternas, torna-se
mais frio e consciente da situao que os envolve:
E desliguei a televiso como se pronto para ouvir. Ele disse no.
Ainda cedo. E eu j tinha perdido a capacidade de chorar.
Eu procurei esquecer. [] No gostava de constatar o quanto me
atormentavam algumas coisas. At meu pai desaparecer novamen-
te. Fiquei sozinho no apartamento da Avenida Atlntica sem que
ningum tomasse conhecimento. E eu j tinha me acostumado com
o mistrio daquele apartamento. J no queria saber a quem per-
tencia, porque vivia vazio. O segredo alimentava o meu silncio. E
eu precisava desse silncio para continuar ali. (NOLL, 1980, p.14)
A perda da capacidade de chorar indicativa de uma perda da
humanidade e da possibilidade de se tornar sensvel ao drama alheio.
Agir de forma natural diante de um caso de conflito do pai com o Esta-
do um meio de o filho tentar se proteger, de lutar para a sua prpria
sobrevivncia, levando uma vida silenciosa e solitria. O drama vivido
pelo pai acompanhado pelo filho, que sente que precisa ser enrgico
para tentar ajud-lo, mas no consegue desempenhar nenhuma ao a
no ser vigiar o pai que est quase morrendo no quarto do apartamento:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
407
Eu vim para morrer. A minha morte vai ser um pouco badalada
pelos jornais, a polcia me odeia, h anos me procura. Vo te desco-
brir mas no d uma nica declarao, diga que no sabe de nada. O
que verdade.
E se me torturarem? perguntei.
Voc menor e eles esto precisando evitar escndalos.
Eu fui para a janela pensando que ia chorar, mas s consegui ficar
olhando o mar e sentir que precisava fazer alguma coisa urgente-
mente. Virei a cabea e vi que meu pai dormia. (NOLL, 1980, p. 15-
16)
O discurso do filho e sua angstia mostram uma face mais impie-
dosa da violncia social e simblica, pois destacam duas subjetivida-
des em crise (a do pai e a do filho) que tm suas vidas devastadas pela
opresso militar, que impede o exerccio da convivncia familiar e o
desenvolvimento fsico e emocional dos sujeitos, que se tornam isola-
dos de si e do mundo. Alm disso, possvel identificar na narrativa de
Noll uma construo artstica contra poltica do esquecimento sobre
um perodo histrico brasileiro marcado pela violncia e opresso. O
silncio do filho e de seu pai, que no podem falar abertamente sobre
os dramas da ditadura, funciona como um contraponto para o no
apagamento da memria social acerca do regime autoritrio iniciado
no Brasil em 1964. Em termos estticos, os silncios e os no ditos dos
personagens dizem muito: alertam para o perigo da disseminao de
prticas de violncia em regimes ditatoriais e para as consequncias
psicolgicas que as torturas e perseguies podem acarretar.
Em perspectiva diferente de Noll, Beatriz Bracher, em Meu
amor, livro de 2009, apresenta o conto Joo, que se constri com um
narrador-protagonista caracterizado como um garoto que vive na
FEBEM em virtudes dos delitos cometidos na adolescncia no Ensino
Mdio. Joo se define como um jovem consciente da precariedade da
vida e das circunstncias que o aproximaram do mundo do crime em-
bora esse no fosse um projeto de vida. Na sua perspectiva, a crimina-
lidade que exerce uma consequncia das amizades com vizinhos do
lado esquerdo e das vivncias nos tempos de escola num educandrio
onde a professora assegurava que quem pobre deve aproveitar
mais a escola do que os outros, que para gente pobre a nica chance
est nos estudos (BRACHER, 2009, p. 47). Essa imagem da fala da
professora interioriza na personagem um senso de inferioridade e a
Luana Teixeira Porto
408
certeza da limitao das possibilidades de ascenso social, pois, sem
estudo, todos estariam condenados pobreza e, consequentemente,
marginalidade social, da qual a violncia e a criminalidade so exem-
plos de como o sujeito fora do centro fica vulnervel a prticas conde-
nveis do ponto de vista moral.
O conto sinaliza que o saldo para aqueles que so pobres e vi-
vem em contextos perifricos a criminalidade e que a violncia em
cenrios urbanos banalizada por ser uma forma de enfrentar o mun-
do que violenta os prprios sujeitos marginais. Joo gostaria de nascer
nos Estados Unidos e se chamar Ulinton, o que manifesta a sua per-
cepo sobre as dificuldades de vida na terra brasileira. Assim, ao re-
presentar a leitura de um jovem criminoso que apresenta o mundo em
que vive e os descompassos existentes num Brasil que separa pobres e
ricos, ignorantes e sbios, a narrativa de Bracher acentua o papel da
literatura na leitura da sociedade. O texto da autora acena para o pa-
pel da literatura na interpretao ou no questionamento de problemas
sociais, cujas causas podem at ser melhor explicadas em tratados so-
ciolgicos ou antropolgicos, mas so enfrentadas no plano da arte. Na
medida em que a autora cria um narrador-protagonista que autor de
sua prpria histria e que a examina com base nas circunstncias que
a criaram prope uma perspectiva crtica de enfrentamento da prtica
violenta e de reflexo sobre as relaes de causa e efeito de tais prti-
cas em contextos hostis, como o brasileiro.
3 CONSIDERAES FINAIS
Tendo em vista as leituras construdas dos contos examinados,
possvel considerar que: a) os textos literrios examinados propem
de formas distintas uma crtica violncia, indicando a necessidade de
reflexo do leitor sobre prticas de violncia social e sua relao com
dados do contexto histrico brasileiro; b) os contistas, atravs dos tex-
tos, sinalizam conscincia de uma histria social brasileira marcada
por prticas de violncia e assumem uma postura tica ao tratar este-
ticamente essa temtica; c) a representao da violncia na contstica
brasileira contempornea acarreta alteraes em formas e linguagens
dos textos no sentido de que os espaos da fragmentao e da lineari-
dade ocorrem concomitantemente nessas coletneas; d) a literatura
como arte social capaz de incitar um questionamento sobre o cotidi-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
409
ano trivializado da violncia, promovendo uma contestao da espeta-
cularizao da violncia; e) os contos que problematizam a violncia
social configuram-se como vozes de resistncia para construo de
uma sociedade pautada na no violncia.
REFERNCIAS
ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. 9. ed. So Paulo: Companhia das Le-
tras, 1995.
BENTES, Ivana. Estticas da violncia no cinema. Intersees, Rio de Janeiro, n. 1,
p. 217-237, 2003.
BRACHER, Beatriz. Meu amor. So Paulo: Ed. 34, 2009.
FRANCO JR, Arnaldo. Intolerncia tropical: homossexualidade e violncia em
Tera-feira gorda, de Caio Fernando Abreu. Expresso, Santa Maria, n. 1, p. 91-96,
2000.
FONSECA, Rubem. O cobrador. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
GINZBURG, Jaime. Crtica em tempos de violncia. So Paulo: Edusp e Fapesp,
2012.
LINS, Paulo. Cidade de Deus. So Paulo: Companhia das Letras, 1997.
NOLL, Joo Gilberto. O cego e a danarina. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1980.
PADILHA, Jos. Tropa de Elite. Roteiro: Rodrigo Pimentel, Brulio Montovani e
Jos Padilha. Produo: Jos Padilha e Marcos Prado. Distribuidora: Universal
Pictures do Brasil, 2007.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 102. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
SCHOLHAMMER, Karl Erik. Os cenrios urbanos da violncia na literatura brasi-
leira. In: PEREIRA, Carlos Alberto M. (Org.). Linguagens da violncia. Rio de Janei-
ro: Rocco, 2000. p. 236-259.
VIOLNCIA, REPRESSO SEXUAL E SOCIEDADE
PATRIARCAL: UMA LEITURA DE NARRATIVAS DE
CAIO FERNANDO ABREU
Larissa Bortoluzzi Rigo
1
As minorias sociais so coletividades que sofrem processos de
discriminao e at mesmo estigmatizao, resultando em diversas
formas de desigualdade ou excluso sociais, mesmo quando constituem
a maioria numrica de determinada populao. Exemplos dessas situa-
es incluem negros, indgenas, mulheres, imigrantes, idosos, traba-
lhadores de ruas, portadores de deficincias, homossexuais, dentre
outros. Nessa esteira, a construo do discurso sobre as minorias so-
ciais tem como pano de fundo, dentre as temticas, a condio dos
homossexuais.
Em sociedades patriarcais, como a brasileira, o tema da sexuali-
dade associado a prticas de represso e violncia, j que, nesses
contextos, predomina a ideia da heterossexualidade como a nica
forma legtima de prazer. Tais condicionamentos sociais no so igno-
rados pelas obras literrias, que, de diferentes formas e em diferentes
pocas, tm problematizado a sexualidade em narrativas e textos po-
ticos. Considerando isso, este trabalho analisa narrativas de Caio Fer-
nando Abreu publicados no livro Morangos mofados, coletnea de con-
tos, e em A vida gritando nos cantos, coletnea de crnicas, com objetivo
de discutir a representao da violncia no contexto da homocultura e
da sociedade patriarcal brasileira. Como objeto de estudo, selecionam-
-se as narrativas Tera-feira gorda, Aqueles Dois, e Tese de mes-
trado holandesa, as quais so cotejadas para identificar elementos
textuais que se constituem como traos caractersticos do universo da
1
Mestre do Curso de Mestrado em Letras rea de Concentrao Literatura Compara-
da. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses, campus de Frede-
rico Westphalen. E-mail: lary_rigo@yahoo.com.br
Larissa Bortoluzzi Rigo
412
homocultura na produo do escritor gacho bem como para apontar
similaridades na abordagem da violncia e da represso sexual nos
textos do autor.
Caio Fernando Abreu um autor que transitou entre a poesia e a
prosa, escrevendo em diversos gneros, como poemas, contos, roman-
ces e crnicas. O livro de contos Morangos mofados marcou a sua gera-
o e foi um dos maiores sucessos editoriais da dcada de 1980. Esse
livro marca a trajetria de personagens que se relacionam a perspec-
tivas distintas propostas pelo ttulo da obra. Morangos mofados
composto por uma organicidade interna que abrange trs fases: o
mofo, os morangos e, por fim, os morangos mofados. Os contos
desta coletnea tambm possuem um diferencial, eles no apresentam
uma narrativa cronolgica, mas sim, esto preocupados com o estado
emocional dos personagens. Nas palavras de Leal (2005, p. 53):
Os contos, ao invs de centrarem sua ateno na apresentao de
uma sequncia de fatos, no enredo, eles se atem a descries de es-
tados emocionais ou existenciais das personagens. So como que
mapas, quadros, retratos que expem paisagens ntimas.
Nessa perspectiva, de acordo com as descries dos estados emo-
cionais dos personagens, est Tera-feira gorda, que faz parte da pri-
meira parte do livro Morangos mofados, intitulada O mofo. No enten-
dimento de Porto (2002, p. 7), o mofo est relacionado crtica social:
Que sugere, atravs da temtica dos textos e da crtica social que
apresentam, uma metfora para a putrefao e o mascaramento
de parte da sociedade, em que muitos indivduos usam mscaras
para disfarar seu carter preconceituoso, violento e opressor, en-
quanto outros, que tm coragem de no vestir mscaras, so vti-
mas de aes violentas e repugnantes. Nesta perspectiva, Tera-
feira Gorda est denunciando um lado conservador e repressor da
sociedade, em que o mofo o elemento que demonstra o carter
opressor e violento do contexto social.
O carter opressor e violento est presente como pano de fundo
em Aqueles dois e Tera-feira gorda, que apresentam um enredo
que discorre acerca da homossexualidade. As narrativas esto relacio-
nadas ainda crtica feita por Caio Fernando Abreu a uma sociedade
preconceituosa, que se utiliza de julgamentos para representar valo-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
413
res sociais, mediante a temtica da sexualidade, criando tabus, mitos e
preconceitos. Narrado em primeira pessoa, Tera-feira gorda apre-
senta uma histria de amor e sexo entre dois homens. Os personagens
seduzem-se em uma festa de carnaval, aps, dirigem-se a uma praia,
quando so surpreendidos por um grupo de desconhecidos que os
agridem em virtude da intolerncia e preconceito. Essa histria est
inscrita em um intervalo de tempo delimitado entre o momento re-
pentino de insinuaes recprocas, com intuito amoroso, entre os dois
personagens, que por acaso, eram do mesmo sexo, e o desfecho tr-
gico de suas histrias na praia.
Com esteio em ideias sobre a forma e a representao de minorias
de ordem sexual, que so ressaltados nas narrativas de Caio Fernando
Abreu, o conto que objeto deste estudo, inicia-se com a comunicao
entre os dois personagens (sem a marca do dilogo), mas bastante su-
gestiva, ressaltando o envolvimento desde o incio entre os dois per-
sonagens. De repente ele comeou a sambar bonito e veio vindo para
mim (ABREU, 2005, p. 56). De acordo com o excerto, compreendemos
que o narrador se utiliza da primeira pessoa e um dos protagonistas
da histria. Ele refere-se ao outro homem com quem o narrador-
-protagonista ir se relacionar numa experincia homossexual.
Com arrimo nessas ideias, que Caio Fernando Abreu marca em
seu texto que os personagens se encontraram por acaso, e ressalta o
sentimento de duas pessoas, que, independe de sua opo sexual, sem
a categoria identitria, encontram-se e se realizam em um sentimento
que mtuo. Als (2010, p. 850) corrobora com este contexto, haja
vista seu posicionamento acerca da sexualidade: o olhar singular [de
Caio] sobre a existncia sexual est presente no sentido de desestabi-
lizar as categorias identitrias polarizadas em torno dos termos ho-
mossexualidade e heterossexualidade negando uma gnese ou uma
origem para o comportamento homossexual.
A representao acerca da relao homossexual entre os dois
personagens exaltada pelo narrador em primeira pessoa, com deta-
lhes sobre como foi que ocorreu o encontro e a proximidade dos dois
personagens: Voc gostoso, eu disse. Eu era apenas um corpo que
por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por aca-
so era de homem tambm (ABREU, 2005, p. 57). A presena de ele-
mentos sexuais, tais como pelos, demonstra a liberdade de opo
sexual que o narrador e seu parceiro possuem, a virilidade e a sensua-
Larissa Bortoluzzi Rigo
414
lidade fazem parte de sua escolha sexual tambm, como pode ser ob-
servado no fragmento. Ou seja, ocorre um encontro de almas, que por
acaso so de homens, fato que poderia acontecer entre duas mulheres
ou entre homem e mulher, isso no importa para o narrador, o que de
fato precisa ser ressaltado o desejo que sentem um pelo outro, inde-
pendente de opo sexual. importante notar ainda a expresso por
acaso, que j foi grifada neste estudo, sobretudo por sua valia no en-
tendimento de como ocorre a representao e a perspectiva crtico-so-
cial do autor acerca de duas pessoas do mesmo sexo que se aproximam.
Antes de as duas almas que se encontraram e que sentiram dese-
jo e atraes mtuas irem at a praia, comeam a surtir comentrios
preconceituosos, tais como: olha as loucas (ABREU, 2005, p. 57).
Com essa expresso, fica clara a posio de Caio Fernando Abreu no
contexto de literaturas preocupadas com o social. O narrador-perso-
nagem continua descrevendo o encontro, que teve a presena de um
elemento metafrico: o figo: Entreaberta, a boca dele veio se aproxi-
mando da minha. Parecia um figo maduro quando a gente faz com a
ponta da faca uma cruz na extremidade mais redonda e rasga devagar
a polpa, revelando o interior rosado cheio de gros (ABREU, 2005, p.
57). Neste contexto, a fruta figo tem algumas conotaes durante o
conto, sinnimo de objeto de desejo, encontro de almas, e, por fim,
um fruto que metaforiza a morte. Para Jesus (2008), a fruta tem cono-
tao sexual, a imagem do figo que surge, no incio do conto, como
promessa de afeto, reaparece como indcio do encontro sexual dos
dois homens (s/n).
A narrativa continua j no lado externo, quando os personagens
se encontram na praia. O texto adquire assim, uma linguagem homoe-
rtica referente unio e fuso dos dois corpos em um, contemplan-
do-se em um verdadeiro encontro de almas, como pode ser demonstra-
do no fragmento abaixo:
To simples, to clssico. A gente se afastou um pouco, s para ver
melhor como eram bonitos nossos corpos nus de homens estendi-
dos um ao lado do outro, iluminados pela fosforescncia das ondas
do mar. Plncton, ele disse, um bicho que brilha quando faz amor.
(ABREU, 2005, p. 58)
Os detalhes que constituem o relato viabilizam um primeiro con-
junto de observaes. Um primeiro ponto diz respeito a no importar
o nome, idade, telefone, signo ou endereo de seu parceiro, ou seja,
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
415
para duas almas que se encontraram e se reconheceram, detalhes co-
mo estes no fariam a menor importncia, frente algo superior que
seria o sentimento verdadeiro que estavam passando. Tais considera-
es se reforam pelo fragmento: a gente queria ficar perto assim
porque nos completvamos desse jeito, o corpo de um sendo a metade
perdida do corpo do outro. To simples, to clssico (ABREU, 2005, p.
58). Caio faz referncia que simples e clssico, haja vista a expresso
popular que cada pessoa tem a sua alma gmea, nesse caso, os dois
haviam se encontrado. Alm de fazer referncia a essa expresso po-
pular, Porto (2002, p. 7) chama ateno, sobre a presena do Mito dos
Andrgenos:
Esta passagem faz uma aluso ao Mito dos Andrgenos, de Plato,
em que se tem a idia de completude entre dois corpos, quando ca-
da corpo contribui para a plenitude do conjunto formado entre dois
corpos, ou seja, cada metade completando uma outra metade, cons-
tituindo a unidade do par. Este detalhe refora o aspecto harmnico
e natural da unio homossexual, destacando, mais uma vez, o car-
ter normal da relao.
Contudo, o carter normal da relao no acontece com os
personagens; eles so alvo de excluso e preconceito de ordem social.
O restante das pessoas que tambm est participando da festa
agressivo e repreensivo. Cenas com a presena desses elementos so
descritas pelo narrador-protagonista:
Mas vieram vindo, ento, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o
brao. Minha mo agarrou um espao vazio. O pontap nas costas
fez com que me levantasse. Ele ficou no cho. Estavam todos em
volta. Ai-ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos
dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos
homens. A boca molhada afundando no meio duma massa escura, o
brilho de um dente cado na areia. Quis tom-lo pela mo, proteg-
lo com meu corpo, mas sem querer estava sozinho e nu correndo
pela areia molhada, os outros todos em volta, muito prximos. Fe-
chando os olhos ento, como um filme contra as plpebras, eu con-
seguia ver trs imagens se sobrepondo. Primeiro o corpo suado de-
le, sambando, vindo em minha direo. Depois as Pliades, feito
uma raquete de tnis suspensa no cu l em cima. E finalmente a
queda lenta de um figo muito maduro, at esborrachar-se contra o
cho em mil pedaos sangrentos. (ABREU, 2005, p. 59)
Larissa Bortoluzzi Rigo
416
Podemos identificar, por meio deste excerto, a crueldade e a vio-
lncia que os dois jovens sofreram. Pelo relato, a narrativa pode co-
mover o leitor ao ver a violncia de ordem fsica e psicolgica que o
narrador-protagonista e seu companheiro passaram; o primeiro ao
ver a sua alma gmea sendo espancada at a morte. A mesma socieda-
de que deixa no Carnaval que ocorram trocas de papis pune aqueles
que assumem a sua identidade, tal como ocorre com os personagens
que no esto utilizando mscaras. Sobre as mscaras, que so comu-
mente utilizadas nesse perodo do ano, Camargo (2010, p. 5-6) aponta
que elas servem como um disfarce:
Os dois personagens no usavam mscaras, apesar de ser uma festa
de Carnaval. A mscara, do italiano maschera, trata-se de um objeto
utilizado com certa frequncia em festas e em bailes de mscaras. A
mscara serve para cobrir o rosto e propiciar um disfarce, uma dis-
simulao. Em nossa sociedade, frequente o uso de mscaras, de
disfarces e dissimulaes para se esconder e dissimular o precon-
ceito e a discriminao em relao a determinados sujeitos sociais,
assim como serve ainda para mascarar identidades de gnero e se-
xuais daqueles que mantm, ou pelo menos tentam sustentar, rela-
es aparentes dentro dos padres heteronormativos.
Por heteronormatividade, entende-se a reproduo de prticas e
cdigos heterossexuais. O estudioso David William Foster afirma que
este termo melhor compreendido quando visto como imperativo in-
questionado e inquestionvel por parte dos membros da sociedade,
com vistas a legitimar s prticas heterossexuais. Na esteira das impli-
caes da aludida palavra, Camargo (2010, p. 1) argumenta que a vio-
lncia a que os personagens foram submetidos em Tera-feira gorda
foi gerada a partir deste conceito que est impregnado no contexto
de uma sociedade patriarcal: A linguagem utilizada pelo narrador
extremamente potica e revela-nos, em um tom ao mesmo tempo con-
fessional e memorialstico, a dor da perda do outro, resultado da violn-
cia que ambos sofreram ao romper as fronteiras heteronormativas.
Por outro lado, alm das reflexes acerca de uma sociedade que
pautada pelo individualismo, outras proposies devem ser ressal-
tas, tais como a de David Foster (2010), estudioso da cultura e da lite-
ratura latino-americana e da sexualidade. O autor acredita que ne-
cessria ainda uma reconsiderao sobre o corpo humano, para que
ocorra o reconhecimento de outras formas legtimas de prazer que
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
417
no sejam as da heterossexualidade. A proposio do autor est em
consonncia com os contos de Caio Fernando Abreu, em especial,
Tera-feira gorda, e Aqueles dois, estes que apontam similaridades
na abordagem da violncia e da represso sexual. No entanto, a distin-
o entre os dois contos, incorre na forma em que ocorre a relao
homoafetiva, em Aqueles dois o narrador d pistas sobre o carter,
histria de vida de personagens e principalmente sobre o envolvimento
entre dois homens numa possvel relao amorosa, pelo recurso das
citaes e aluses a msicas, no entanto, so somente pistas, o leitor
no sabe ao certo se a relao se concretiza, ao contrrio do que ocor-
re em Tera-feira gorda.
O narrador de Aqueles dois, em terceira pessoa, conta a hist-
ria de dois personagens que trabalhavam em uma mesma empresa,
Raul e Saul eram sutis e discretos, chamavam ateno das mulheres da
empresa, porm, desde o incio se identificaram e se aproximaram. Em
relao ao envolvimento dos personagens, o narrador aponta que eles
passaram a ter uma rotina juntos e a compartilhar gostos que j pos-
suam, especialmente em relao ao cinema e msica. Juntos, passa-
ram a compreender seus mundos e por isso necessitavam um do outro
para continuar vivendo, porque aprenderam a elaborar um sentido
para a vida.
Nesse conto, o encontro entre sujeitos do mesmo sexo sugeri-
do pelo narrador e, nesse processo sugestivo, o que torna o texto sen-
svel temtica homoertica e a explicitao de uma prtica agressiva
por parte da sociedade que condena a no heteronormatividade, ma-
nifestando violncia. Esta, ao contrrio do que acontece em Tera-
feira gorda que explicita os momentos de agresses fsicas, chegando
morte de um dos personagens , d-se somente com a violncia mo-
ral e o preconceito em Aqueles dois. Mesmo sem o narrador deixar
claro qual o envolvimento dos personagens se realmente eles man-
tm uma relao afetiva ou somente amizade ele enfatiza o precon-
ceito, isto , a violncia no psquico, que atinge de forma nata os dois
homens. um artifcio de mostrar a homossexualidade por meio da
percepo dos outros e no do sujeito homossexual, que, no conto, no
recebe voz prpria, tem suas manifestaes expressas pelo discurso
do narrador.
No que tange relao homoafetiva e sua representao na li-
teratura e de modo especial na abordagem de sujeitos minoritrios,
Larissa Bortoluzzi Rigo
418
como os homossexuais, vale a pena recorrer a reflexes de Dalcastagn
(2002, p. 45). Para a autora, as vozes dos grupos subalternos so igno-
radas por vozes de grupos dominantes que tentam reproduzir os dis-
cursos dos excludos, pois:
O silncio dos marginalizados coberto por vozes que se sobre-
pem a ele, vozes que buscam falar em nome deles, mas tambm,
por vezes, quebrado pela produo literria de seus prprios in-
tegrantes. [] O termo-chave, neste conjunto de discusses, re-
presentao, que sempre foi um conceito crucial dos estudos lite-
rrios, mas que agora lido com maior conscincia de suas resso-
nncias polticas e sociais. [] O que se coloca no mais simples-
mente o fato de que a literatura fornece determinadas representa-
es da realidade, mas sim que essas representaes no so repre-
sentativas do conjunto das perspectivas sociais. O problema da re-
presentatividade, portanto, no se resume honestidade na busca
pelo olhar do outro ou ao respeito por suas peculiaridades. Est em
questo a diversidade de percepes do mundo, que depende do
acesso voz e no suprida pela boa vontade daqueles que mono-
polizam os lugares de fala.
Ao refletirmos sobre a proposio da autora, podemos ampliar
as reflexes e entendermos que Caio Fernando Abreu, em seus contos,
ao no dar a voz para o grupo minoritrio, procura acentuar o processo
discriminatrio e de violncia de seus personagens, isto porque o autor
no elimina da literatura tudo que traz as marcas da diferena social,
pelo contrrio, so esses os processos demonstrados pelo escritor ga-
cho: a discriminao, a violncia e at a homofobia.
Alm da forma com que a violncia representada nos contos,
os narradores tambm mudam entre os textos. Em Tera-feira gor-
da, o narrador pode ser caracterizado como protagonista, o que ga-
rante maior envolvimento com o texto. J em Aqueles dois, o narra-
dor mantm-se na terceira pessoa, indicando certo distanciamento
entre os personagens, o que equivale tambm a no ficar claro, o que
de fato os personagens desejam. Nesse sentido, importante reiterar
que, mesmo com as distines apontadas entre as duas narrativas, os
contos representam a violncia, tanto de origem psicolgica, quanto
fsica, como fica explcito em Aqueles dois, em que os dois persona-
gens, que supostamente esto envolvidos sexualmente, so demitidos
de seus trabalhos, devido ao preconceito e escolha sexual, ou, algo
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
419
mais profundo, como o que ocorreu em Tera-feira gorda, em que o
preconceito resultou na morte de um dos personagens. Ainda nessa
esteira, podemos entender que a perspectiva crtico-social de Caio
Fernando Abreu, no que concerne s reflexes sobre prticas de dis-
criminao e violncia, essas ficam acentuadas quando o autor, por
meio desses contos, transpassa-nos o caso de dois homens, que no
so simplesmente dois sujeitos do mesmo sexo e sim de Almas, que
independem do gnero sexual. No entanto, como os personagens vi-
vem no contexto do patriarcado, essa correspondncia de almas no
atende aos princpios da heteronormatividade.
A representao de Caio Fernando Abreu no conto pauta-se no
princpio que a heteronormatividade prope a sociedade, ao narrar
que um dos personagens morto por preconceito, o autor propicia
uma reflexo acerca do contexto crtico-social, mediante a intolerncia
queles que transgredem as leis do patriarcado no que tange a rela-
es sexuais e afetivas. Alm de ressaltar a presena de minorias, tais
como os homossexuais e preocupao com o social em seus contos,
outro gnero esteve presente na carreira do autor, as suas crnicas.
Nesse gnero literrio, pela sensibilidade e a organizao em torno de
temas que refletem a sociedade, o escritor gacho registrou suas vi-
vncias em outros pases e a contaminao pelo vrus da Imunodefici-
ncia Humana - HIV, entre outros temas, compartilhando com o leitor
de jornais suas experincias em um dilogo aberto formado pela tra-
de autor, texto e leitor.
Considerando isso, iremos discutir a abordagem da homosse-
xualidade na crnica Tese de mestrado holandesa, publicada em
31 de outubro de 1993, no jornal Folha de So Paulo. O narrador des-
creve os tipos de gays que existem no Brasil. Desde o ttulo, possvel
perceber a presena do humor e da ironia. Em linhas gerais, o narra-
dor relata a sua experincia ao ajudar um amigo holands a preparar
sua tese de mestrado. Sappe Grootendorst viveu algum tempo no Bra-
sil, por isso o tema de seu trabalho era intitulado como Homossexua-
lismo na Literatura Brasileira:
Nas noites de inverno de Amsterd, com os canais cobertos de gelo,
eu tentava ajud-lo a compreender o que, para uma cabea holan-
desa, to complexo que mais parece ttulo de outra tese: ambigui-
dade do comportamento sexual brasileiro. (ABREU, 2012, p. 165)
Larissa Bortoluzzi Rigo
420
A partir do excerto em que o narrador traduz a temtica do tra-
balho do amigo holands, possvel considerar a perspectiva crtico-
social que abordada pelo autor sobre como ocorre o comportamento
sexual brasileiro. Para explicar essa ambiguidade, Caio aponta a litera-
tura: [a ambiguidade] ultrapassa a literatura, mas, naturalmente, tem
reflexos nela. Tanto que uma das maiores personagens da nossa litera-
tura (a/o Diadorim de Guimares Rosa, em Grande serto) um tra-
vesti (ABREU, 2012, p. 165). A ambiguidade citada pelo autor aparece
em o/a, seria o Diadorim ou a Diadorim? Sob essa perspectiva, o es-
critor, para ajudar seu amigo, subdivide os gays brasileiros em quatro
tipos bsicos. O contexto em que os homossexuais so representados
nesse primeiro momento da crnica assemelha-se no a um grupo de
pessoas, mas sim a objetos, que so relacionados ironicamente a
(sub)divises. Nessa esteira, Alvarece (2009) explicita a sua constru-
o de raciocnio acerca da ironia. Para a autora, o conceito pode ser
melhor entendido com um exemplo:
A frase Sorria voc est sendo filmado, encontrada h alguns anos
em inmeros centros comerciais espalhados por todo Brasil. Na
verdade, deparando com esse enunciado, somos convidados no a
esboar um sorriso, como se sugere literalmente, mas, sim, somos
avisados de que estamos submetidos a uma cmera e, sendo assim,
caso ajamos ilicitamente, seremos identificados. Esse , pois, um ca-
so em que a ironia se faz presente no cotidiano, sem oferecer difi-
culdades maiores de interpretao. (ALVARECE, 2009, p. 24)
O exemplo de Alvarece (2009) acerca de como a ironia pode ser
compreendida em uma situao simples do cotidiano, que est dei-
xando uma distncia entre aquilo que realmente existe e o que se pensa
em ser verdade, tambm pode ser inserida na crnica de Caio Fernando
Abreu. Ao mencionar que os gays foram postos em classes diferentes,
o narrador est indicando, de forma irnica, que eles so vistos em sua
forma geral e no por meio de peculiaridades que lhes so nicas.
Pelo conceito de heteronormatividade, em que a sociedade se
determina a moldar os sujeitos para escolherem pessoas de sexo
oposto para se relacionar, imperioso considerar que essa a repre-
sentao que o narrador est determinando ao subdividir os gays em
grupos. O narrador ento explica quais as caractersticas que fazem
um gay ser uma Jacira. Essas, de acordo com a sua diviso, so aquelas
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
421
que todo mundo sabe que ela , e ela mesma no se d o trabalho de
esconder que mesmo. J a Irma mais complexa: A Irma aquela
que todos acham que ela (d a maior pinta), menos ela mesma. Fre-
quentemente, Irmas so casadas, ou tm noivas e namoradas, s vezes
at filhos (ABREU, 2012, p. 165). A terceira, intitulada como Telma
parecida com Irma, nega de ps juntos a sua opo sexual. Mas, ao
contrrio da primeira, Telma no d pinta (ABREU, 2012, p. 165). O
problema, segundo o narrador, que, depois do terceiro usque, Tel-
mas fazem coisas que deixariam at uma Jacira ruborizada. E na ma-
nh seguinte, lgico, no lembram de nada (ABREU, 2012, p. 165).
De acordo com a construo de raciocnio proposta pelo narra-
dor acerca dos quatro tipos de gays que a sociedade brasileira pos-
sui, possvel afirmar que, de forma totalmente irnica, isto , deixan-
do uma distncia entre aquilo que realmente existe e o que se pensa
ser verdade, a reflexo do autor pauta-se em uma excluso social des-
te grupo. Todas elas se relacionam a dar pinta, a observar o que os
outros pensam, tentar fingir em ser o que no so. Mesmo a Irene, que
a mais equilibrada, est preocupada com a posio social que a sua
opo sexual ir lhe trazer e milita pela causa. E, se isso ocorre, por-
que ela est ciente dos tipos de excluses que a sua opo lhe traz. Ca-
margo (2010) explicita uma reflexo sobre o preconceito, de acordo
com o autor, este geralmente expresso por meio de ofensas que fe-
rem os outros, como, por exemplo, classificar, nomear um homosse-
xual de bicha, de viado, de gay ou de mulherzinha, entre outros
adjetivos pejorativos, que denigrem a imagem e a identidade sociocul-
tural de um determinado grupo ou indivduo (CAMARGO, 2010, p. 4).
Se fossem aceitas as premissas de que o narrador no estaria
sendo irnico, a narrativa pautar-se-ia numa imagem de que ser gay
estar afrontando uma sociedade que sedimentada em valores arcai-
cos, uma cultura conservadora e calcada na heteronormatividade. No
entanto, Dip (2009, p. 70) explica qual foi a inteno do narrador ao
criar estes gneros:
No contente com essa quantidade de grias, Caio ainda inventava
outras, hilrias, no seu tpico humor gay, ou queer, que vinha com a
liberao sexual em todos os cantos do mundo. [] assim ele cria
uma lenda de que quatro irms seriam os prottipos definitivos do
gay masculino.
Larissa Bortoluzzi Rigo
422
A autora da biografia de Caio continua relatando que ele gostava
de criar expresses: ele vivia criando ou adotando expresses que se
encaixavam em seu lxico desbocado. (DIP, 2009, p. 70) No tocante a
outra reflexo acerca da crnica so os nomes que o autor escolheu
para intitular os quatros tipos de gays. Jacira, Irma, Telma e Irene se
relacionam ao gnero feminino, mas por que, se o substantivo gay
est relacionado ao masculino? No que tange ao assunto em questo,
Als (2010, p. 857) acentua o fato de poder haver a separao entre
gnero e sexualidade:
O gnero e a sexualidade, embora categorias distintas, no devem
ser completamente desarticuladas, visto que se corre o risco do
completo apagamento das relaes de poder estabelecidas sob o
signo da diferena de gnero. Se por um lado gays e lsbicas sofrem
os efeitos do discurso heteronormativo, por outro a pertena ao g-
nero feminino transforma radicalmente a experincia das lsbicas,
diferenciando assim a socializao e, consequentemente, a textuali-
zao dos significantes gay e lsbica na literatura.
Alm da presena de nomes femininos para denotar os gays, o
narrador argumenta em sua crnica que nem mesmo elas se aceitam:
Os quatro tipos tm relaes conflituosas. S as Irmas, muito tole-
rantes, parecem aceitar as outras trs. As Jaciras, por exemplo, su-
per-radicais, acham que Irmas e principalmente Telmas no pas-
sam de umas enrustidas, enquanto as Irenes para elas so umas
falsas. J as Telmas, quando sbrias, detestam Jaciras, demasiado
explcitas, mas admiram a discrio das Irmas e desconfiam das
Irenes. (ABREU, 2012, p. 166)
Na medida em que o narrador demonstra a relao conflituosa
que existe entre esse grupo, est afirmando o seu engajamento contra
o preconceito existente na sociedade. A forma irnica de tratar o as-
sunto torna-se premeditada para demonstrar que indivduos so ex-
cludos por uma opo que lhes pessoal. A excluso, nesse caso, pode
ser entendida de acordo com a reflexo proposta por Porto (2000),
como uma categoria na qual os atores sociais vivenciam essa prtica
decorrente de processos sociais fragmentados, diferenciados e plurais.
A excluso dessa minoria acentuada pelos relatos do narrador
no restante da crnica:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
423
Quando passei a relao para Karvin Von Schweder-Schreiner, a
tradutora alem de Rubem Fonseca, ela no s me garantiu que as
quatro categorias eram internacionais, como imediatamente locali-
zou uma quinta a Renata. Que aquela que, como a Irma, tambm
tem um libi, mas em lugares pblicos sempre d um jeitinho de ir
a banheiros dos homens, onde presta muita, muita ateno. Pedro
Paulo de Sena Madureira tambm localizou outra a Ondina. Aque-
la que, ao entrar num ambiente mais descontrado (sauna, bar, dis-
coteca, por exemplo), instintivamente comea a ondular feito uma
Jacira. (ABREU, 2012, p. 166)
Fica evidente o olhar do narrador sobre as divises e o seu posici-
onamento quanto a esse grupo de minorias. O narrador termina a cr-
nica contando que seu amigo Sappe, por meio dessa diviso, no so-
mente entendeu como so os gays brasileiros, que at mesmo os identi-
fica: Irmas e Telmas no metr. Jacira era mais difcil: ela mais comum
nos trpicos, mas no se d bem com a severidade europeia e precisa de
calor para soltar toda sua jacirice (ABREU, 2012, p. 165). O contexto a
que a ironia est relacionada na crnica fica ainda mais claro quando o
autor menciona a tese de seu amigo, quanto tese bem, por carta
Sappe me informa que est pronta. Chama-se, juro, Literatura Bambi no
Brasil (ABREU, 2012, p. 165). Bambi, de acordo com a afirmao de
Dip (2009), foi outra expresso criada por Caio, cunhada no humor, o
que acentua uma perspectiva da crnica de, ao mesmo tempo, usar a
comicidade para fazer aluso comunidade homossexual por meio da
expresso Bambi e tambm de sinalizar uma crtica social ao apontar
que os gays so sujeitos guetificados, excludos socialmente e cujos
rtulos so percebidos pelas Jacyras, Telmas, Irmas e Irenes.
A crnica e os contos possuem coordenadas em comum: retratam
a representao dos homossexuais, como uma minoria social, proble-
matizam o preconceito homossexual e a violncia social no Brasil. A
anlise das narrativas mostram ainda que a reflexo propiciada a partir
de textos literrios que esto inseridos no rol dos estudos gay-
lsbicos no Brasil devem ser construdas luz de seu valor social e no
sob rtulos preconceituosos que minimizam o potencial esttico das
narrativas. A academia, por meio de suas reflexes, a responsvel por
desmitificar esses rtulos e demonstrar a importncia para a sociedade
de literaturas como essas. Uma literatura que representa de forma no-
tria os atores sociais, tais como a de Caio Fernando Abreu no pode ser
vista somente como representao da temtica, pelo contrrio, preci-
so identific-lo como autor que pretende humanizar os leitores.
Larissa Bortoluzzi Rigo
424
REFERNCIAS
ABREU, Caio Fernando. Morangos Mofados. Rio de Janeiro: Agir, 2005.
ABREU, Caio Fernando. Pequenas epifanias. Porto Alegre: Sulina, 1996.
ALAVARCE, Camila da Silva. A ironia e suas refraes: um estudo sobre a disso-
nncia na pardia e no riso. So Paulo: Cultura Acadmica, 2009.
ALS, Anselmo Peres. Narrativizao e subverso sexual: consideraes em tor-
no de Puig, Abreu e Bayly. Gragoat, UFF, v. 28, p. 11-128, 2010.
ALS, Anselmo Peres. Narrativas da sexualidade: pressupostos para uma potica
queer. Rev. Estud. Fem., Florianpolis, v. 18, n. 3, dez. 2010. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
26X20100003000 11&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 nov. 2012.
CAMARGO, Flvio Pereira. Homoerotismo e violncia em tera-feira gorda, con-
to de Caio Fernando Abreu. In: Fazendo Gnero 9 Disporas, Diversidades, Deslo-
camentos, 2010.
CAMARGO, Flvio Pereira. Homoerotismo e violncia em tera-feira gorda, con-
to de Caio Fernando Abreu. In: Fazendo Gnero 9 Disporas, Diversidades, Deslo-
camentos, 2010.
DALCASTAGN, Regina. Uma voz ao sol: representao e legitimidade na narrati-
va brasileira contempornea. Estudos de Literatura Brasileira Contempornea,
Braslia, n. 20, p. 33-87, jul./ago. 2002.
DIP, Paula. Para Sempre teu Caio F: cartas, conversas, memrias de Caio Fernan-
do Abreu. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009.
FOSTER, David William. Propuestas. In: ______. Producin cultural e identidades
homoerticas teora y aplicaciones. San Jose: Universidad Costa Rica, 2000.
JESUS, Andr Luiz Gomes de. Assassinato, preconceito social e rememorao em
Tera-feira gorda", de Caio Fernando Abreu. In: XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA ABRALIC, Tessituras, Interaes, Convergncias. Anais...
So Paulo: USP, 2008.
LEAL, Bruno Souza. Caio Fernando Abreu, a metrpole e a paixo do estrangeiro:
contos, identidade e sexualidade em trnsito. So Paulo: Annablume, 2002.
MISKOLCI, R. A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analtica da norma-
tizao. Sociologias, 11(21), 2009. Disponvel em: <http://www.scielo.br/pdf/
soc/n21/ 08.pdf> Acesso em: 05 nov. 2012.
PELLEGRINI, Tnia. As vozes da violncia na cultura brasileira contempornea.
Revista Crtica Marxista, Campinas, n. 21, p. 132-153, [s/d]. Disponvel em:
<http://www. unicam p.br/cemarx/criticamarxista/critica21-A-pelegrini.pdf>.
Acesso em: 10 abr. 2012.
PORTO, Ana Paula Teixeira. Preconceito, represso sexual e violncia em Caio
Fernando Abreu. Ao p da Letra, Recife, UFPE, n. 4.1, 2002.
PORTO, Maria Stela Grossi. A violncia entre a incluso e a excluso social. Tempo
soc., So Paulo, v. 12, n. 1, maio 2000. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20702000000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 07 nov. 2012.
REZENDE, Ceclia Luza de Melo; TARTGLIA, Cladia Campolina. O homoero-
tismo em Caio Fernando Abreu: um cenrio de preconceito e violncia em Tera-
Feira Gorda. Revista FACEVV, Vila Velha, n. 5, p. 31-39, jul./dez. 2010.
QUANDO A FONTE VIRA PERSONAGEM
Fabiana Piccinin
1
Kassia Nobre
2
1 O JORNALISTA NARRADOR LITERRIO
A personagem, que sempre baseada na realidade, uma opor-
tunidade para o desmembramento de caractersticas que formam a
natureza humana. Ou seja, na literatura, a personagem pode ser ob-
servada pelo leitor como um ente vivo na narrativa. O tensionamento
apresentado neste artigo
3
mostra-se no sentido de pensar que a ao
semelhante acontece quando so observados os indivduos descritos
nas narrativas jornalsticas do livro-reportagem A vida que ningum v
(2006) da jornalista Eliane Brum.
As histrias aqui analisadas foram construdas a partir do uso de
recursos literrios em suas narrativas, razo pela qual, como afirma
Sodr (2009, p. 144), a jornalista comporta-se como um narrador lite-
rrio. Sodr explica que o narrador literrio pretende captar ainda
mais a ateno do leitor quando, por exemplo, utiliza uma linguagem
pessoal, tornando-se personagem da prpria histria e dando cores de
aventura romanesca a seu relato.
Para entender como o jornalista se comporta enquanto narrador
literrio, necessrio observar as caractersticas do narrador aponta-
das por Benjamin (1987) e do narrador miditico evidenciadas por
1
Professora Doutora do Programa de Mestrado em Letras da Universidade de Santa
Cruz do Sul (Unisc). E-mail: fabi@unisc.br
2
Mestra em Letras, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).
E-mail: kassinhanobre@hotmail.com
3
Este artigo um excerto da dissertao Quando a fonte vira personagem: anlise do
livro-reportagem A vida que ningum v (2006), da jornalista Eliane Brum. Esta foi
realizada a partir de uma pesquisa bibliogrfica que contemplou a investigao da
narrativa literria com foco na personagem e o estudo da narrativa jornalstica priori-
zando a fonte, para posterior identificao e anlise de marcas textuais que evidencias-
sem a transformao das fontes em personagem na produo da jornalista.
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
426
Sodr (2009) e por Santiago (2012). Para Benjamin (1987, p. 198-
199), a principal caracterstica do narrador clssico a capacidade de
sua narrativa intercambiar experincias com o leitor, de maneira que
o ato de narrar advenha da experincia do narrador. Para o autor, no
h narrativa sem a experincia, ento, o narrador necessariamente
precisa experimentar algo para contar uma histria.
J o narrador miditico se distancia da ideia benjaminiana porque
no narra sobre suas experincias, mas colhe informaes de terceiros
para construir sua narrativa. A principal diferena defendida por Ben-
jamin entre narrar (narrador benjaminiano) e informar (narrador mi-
ditico) que os fatos em uma informao j chegam acompanhados de
uma explicao. J na narrativa o leitor livre para interpretar a hist-
ria como quiser e, com isso, o episdio narrado ganha uma amplitude
que no existe na informao (BENJAMIN, 1987, p. 203).
Assim, o narrador miditico , na verdade, um grande observador
da vivncia dos outros. A partir dela, constri a sua narrativa. A figura
do narrador [miditico] passa a ser basicamente a de quem se interessa
pelo outro (e no por si) e se afirma pelo olhar que lana ao seu redor,
acompanhando seres, fatos e incidentes (e no por um olhar introspec-
tivo que cata experincias vividas no passado) (SANTIAGO, 2012, p.
42-44). Ao passo que o narrador clssico introduz suas experincias
na narrativa, o miditico se afasta (muitas vezes se esconde) da narra-
o para enaltecer a voz da pessoa observada. A sabedoria da narra-
tiva miditica no advm do narrador, e sim da ao daquele que
observado. A sua essncia no deixa de ser a experincia, mas ela no
vivida, apenas observada.
Entre os narradores contemporneos, estaria, segundo Santiago
(2012, p. 39-42), o narrador do romance (literrio) que quer ser impes-
soal e objetivo diante da coisa narrada (utilizando-se da voz da perso-
nagem para contar sua histria), mas que, no fundo, se confessa em sua
narrativa. Ou seja, suas experincias esto em seus relatos, apesar da
evidente e necessria preocupao da literatura em diferenciar narra-
dor e autor.
J o jornalista que se comporta como narrador literrio ou de
romance, no deixa de ser um narrador miditico porque se utiliza da
experincia do outro para construir sua narrativa, mas se torna menos
impessoal e distante da coisa narrada e passa a narrar sobre os fatos, e
no apenas inform-los. Para isso, busca novos formatos que ultrapas-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
427
sem o jornalismo informativo
4
, como, por exemplo, investindo o foco
da narrativa nas pessoas por meio de marcas textuais literrias, como
a caracterizao fsica, moral e psicolgica descritas e a preferncia
por fontes annimas, subvertendo da lgica do jornalismo praticado
convencionalmente que se baseia no distanciamento alicerado nos
pressupostos da objetividade e imparcialidade e no privilgio s fon-
tes tradicionais.
Dessa forma, o jornalista, ao se apropriar desses recursos da ret-
rica literria, aproxima-se do trabalho realizado pelo autor de fico pa-
ra construir suas personagens, ainda que tenha sempre claro que as nar-
rativas literria e jornalstica so construes baseadas na realidade,
mas que possuem finalidades e, principalmente, intenes diferenciadas.
No caso do jornalismo, essa diferenciao diz respeito ao seu compro-
misso com a referencialidade e com os discursos sobre o real. Foi o que
fez Eliane Brum quando transformou suas fontes em personagens.
2 BRUM E O OLHAR HUMANIZADO
As reportagens do livro A vida que ningum v foram, inicialmen-
te, publicadas por Eliane aos sbados, durante o ano de 1999, na colu-
na A vida que ningum v, do jornal Zero Hora, de Porto Alegre. O
objetivo do espao era apresentar textos de pessoas comuns e situa-
es ordinrias. Aps a coluna, as reportagens foram publicadas no
formato livro em 2006. A obra venceu o Prmio Jabuti de 2007 como
melhor livro-repor-tagem.
O olhar da autora foi direcionado para figuras annimas, algo
que observado na literatura e, com menos frequncia, no jornalismo.
A reportagem, segundo Sodr e Ferrari (1986), assumiria esta pers-
pectiva de representao da figura humana, pois possui o foco no
quem, entre as perguntas clssicas do jornalismo: quem, o qu, co-
mo, quando, onde e por qu. Significa dizer que o essencial da repor-
tagem est no interesse humano. Como representou Brum, ao relatar
mais do que acontecimentos, e sim singularidades de histrias de vida
de pessoas desconhecidas em suas reportagens:
4
Para Marques de Melo (2003, p. 66), o gnero informativo aparece nos formatos de
nota, notcia, reportagem e entrevista. Todos eles, conforme o autor, pretendem apre-
sentar os fatos para o leitor de maneira imparcial. Para isso, produz relatos informati-
vos que reproduzem o real a partir da observao de um acontecimento com base no
desejo da coletividade de saber o que se passa (MARQUES DE MELO, 2003, p. 64).
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
428
Eliane procurava fugir da vala comum da pauta, cavando suas pr-
prias histrias em quebradas escondidas da mdia onde descobriria
personagens e assuntos que no esto nas agendas das redaes
do solitrio enterro de pobre toca do colecionador das sobras da
cidade, do carregador de malas no aeroporto que nunca voou ao
cantor cego que inferniza a vizinhana anunciando a mega-sena
acumulada. (KOTSCHO, 2006, p. 180)
Assim, A vida que ningum v demonstra, primeiramente, um
olhar insubordinado da autora que rompe com o vcio e o automatis-
mo do jornalismo ao buscar um heri do cotidiano. Ao fugir das fon-
tes convencionais, Brum concretizou a fala de Medina (2003, p. 79)
sobre a necessidade de oxigenar a pauta viciada para uma renovao
na atmosfera claustrofbica de uma redao. Assim, o olhar de Brum
procurou por pessoas annimas para traduzir dilemas humanos em
reportagens. As narrativas contam histrias de anti-heris do cotidia-
no que ganham destaque de Ulisses, heri mtico da obra de James
Joyce: O ser humano, qualquer um, infinitivamente mais complexo e
fascinante do que o mais celebrado heri. [] Esse [] o encanto de
A vida que ningum v. Inverter essa lgica que nos afasta para mos-
trar que o Z Ulisses e o Ulisses Z. [] E cada pequena vida uma
Odissia (BRUM, 2006, p. 195).
A obra exemplo de um jornalismo focado em pessoas, por isso,
humanizado. Ou seja, os textos de Eliane Brum revelam um fazer que
prioriza a humanizao, que significa trazer o ser humano para o foco
dos acontecimentos, dando voz aos personagens, mostrando sua ndo-
le, suas angstias, os sentimentos (FONSECA; SIMES, 2011, p. 11).
Para as autoras, A vida que ningum v fruto de um momento de in-
terao, de imerso, de uma realidade que se construiu a partir da
participao de Brum. o real enquadrado por meio dos olhos e da
escrita de Eliane Brum (FONSECA; SIMES, 2011, p. 10).
3 ISRAEL, O ANDARILHO DE NOVO HAMBURGO; TIERRI, O CHORADOR DE
QUARA, E VANDERLEI, O AUTNTICO GACHO
A primeira reportagem analisada Histria de um olhar, que
narra a vida de Israel Pires, um andarilho da Vila Kephas da cidade de
Novo Hamburgo. A reportagem narra o momento em que Israel, um
rapaz de 29 anos, que desregulado das ideias, segundo o senso co-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
429
mum [e] vivia atirado num canto ou noutro da vila (BRUM, 2006, p.
22) passa a frequentar a escola e a turma da 2 srie do Ensino Fun-
damental da professora Eliane Vanti.
Aps o acolhimento do jovem pela professora e por seus colegas
de turma, Israel, que era excludo, ganha o respeito de todos da Vila
Kephas. Antes da escola e do olhar da professora, Israel era escorra-
ado como um co, torturado pelos garotos maus (BRUM, 2006, p.
22). Depois, Israel torna-se um estudante, e o desfecho da histria a
sua participao no desfile de 7 de Setembro, junto de seus colegas,
quando foi aplaudido em p por todos que o rejeitavam. Israel apre-
sentado na narrativa por um narrador observador em terceira pessoa,
que o descreve, inicialmente, como um jovem desfavorecido e rejeita-
do pelos moradores da Vila Kephas.
O narrador observador em terceira pessoa um recurso antigo e
eficaz da literatura (BRAIT, 1985, p. 55), que se afasta do narrador de
Benjamin (1987) que narra as experincias vividas e se assemelha
ao narrador miditico descrito por Santiago (2012) como aquele que,
sem o respaldo da experincia, narra por meio da observao. Ele
olha para que seu olhar se recubra de palavra, constituindo uma nar-
rativa (SANTIAGO, 2012, p. 53). Assim, estes narradores o jornalista
e o da literatura so observadores que esto fora da histria, o que
em certo sentido, torna-se artifcio para a criao de uma narrativa
que deve ganhar a credibilidade do leitor e tornar suas criaturas ve-
rossmeis (BRAIT, 1985, p. 55-56). J o narrador de Brum tem essa
caracterstica de observador, mas ultrapassa a barreira de apenas
apresentar a fonte/personagem ao leitor. Assemelha-se a outro tipo
de narrador da literatura que constri a personagem por meio de pis-
tas fornecidas pela narrao, pelas descries de traos da figura fsi-
ca, gestos e linguagens (BRAIT, 1985, p. 57).
o que pode ser visto na histria de Israel, quando ele apre-
sentado por meio de um narrador que o caracteriza fisicamente e mo-
ralmente. No primeiro momento, o narrador constri o perfil moral de
Israel mediante depoimentos dos moradores da regio. Ou seja, o tex-
to mostra o que os outros achavam de Israel. Assim, a reportagem
descreve: Israel era a escria da escria. [] A imagem indesejada no
espelho [] imagem acossada, ferida, flagelada (BRUM, 2006, p. 22-
24). O narrador tambm utiliza adjetivos como imundo e mal cheiroso,
caracterizando fisicamente a fonte.
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
430
As caractersticas do andarilho foram fundamentais na narrativa
para, assim, o leitor entender a figura de rejeio que Israel represen-
tava para os moradores da vila. Se o narrador no apresentasse Israel
dessa forma, Brum no poderia contar a histria de superao do pro-
tagonista. Ento, o leitor apresentado pessoa na narrativa por meio
de suas caractersticas: desajeitado, envergonhado, quase desapare-
cido dentro dele mesmo (BRUM, 2006, p. 23). Logo depois, Israel
visto segundo o depoimento da professora Eliane Vanti, que o fez fre-
quentar a escola e ganhar a amizade dos outros alunos. Israel, como
estudante, passa a ser respeitado por aqueles que o renegaram. O nar-
rador assim o caracteriza:
Terno, especial, at meio garboso. Israel descobriu nos olhos da
professora que era um homem, no um escombro. [] Trazia at
umas pupilas novas, enormes em forma de facho. E um sorriso
tambm recm-inventado [] Israel, o pria, tinha se transformado
em Israel, o amigo. (BRUM, 2006, p. 23-24)
Por meio da figura fsica e moral de Israel, o narrador constri a
narrativa. No caso da reportagem Histria de um olhar, as descries
so essenciais para o desenrolar da trama. Brait (1985, p. 27) utiliza a
expresso dar forma ao real para explicar o uso das descries na
narrativa literria. Algo que o autor de fico explora para apresentar
suas personagens na histria e, ao mesmo tempo, aproxim-las do leitor.
No jornalismo informativo, as descries fsicas e morais so
restritas ou inexistentes porque o texto no permite o aprofundamen-
to na figura humana, e sim no acontecimento, alm do fato de a descri-
o, principalmente a moral, configurar uma escolha subjetiva do au-
tor. Ou seja, o lado emotivo, representado pela sensibilidade e delica-
deza do reprter, deve ser acionado na narrativa para que ele enxer-
gue estas caractersticas humanas. S assim ser possvel a construo
de indicativos morais da fonte, j que eles no so to fceis de captar
se o profissional apenas seguir o questionrio com as perguntas bsi-
cas do jornalismo.
Alm de a descrio ser um artifcio, conforme Tom Wolfe
(2005, p. 47), que ajuda o leitor a criar dentro de sua mente um mun-
do completo da narrativa, que ressoa com as prprias emoes reais
deste: Os eventos esto meramente acontecendo na pgina impressa,
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
431
mas as emoes so reais. Da a sensao nica de quando se est ab-
sorvido num certo livro, perdido nele.
Voltando para a reportagem Histria de um olhar, o espao da
narrativa tambm apresentado por Israel. No caso, o leitor conhece a
Vila Kephas por meio da caracterizao do jovem:
Porque em todo lugar, por mais cinzento, trgico e desesperanado
que seja, h sempre algum ainda mais cinzento, trgico e desespe-
ranado. H sempre algum para ser chutado por expressar a ima-
gem-sntese, renegada e assustadora, do grupo. Israel, para a Vila
Kephas, era esse cone. O enjeitado da vila enjeitada. A imagem in-
desejada no espelho. (BRUM, 2006, p. 22)
Brait (1985) afirma que premissa da narrativa literria relatar
a atuao e participao da personagem em determinado espao. As-
sim, o romance apresenta personagens situadas num determinado
contexto, em certo lugar e em certa poca, mantendo entre si mtuas
relaes de harmonia, de conflito etc. (AGUIAR E SILVA, 1974, p. 240).
Algo que observado no trecho acima, quando, por meio da figura
humana, apresentado o meio social e os hbitos da Vila Kephas e dos
seus moradores.
O narrador tambm se posiciona criticamente diante do com-
portamento dos moradores da vila que menosprezavam Israel. Para
isso, como observado na citao acima, a vila ganha adjetivaes de
cinzenta, trgica e desesperanada.
No final, com a transformao do protagonista pelos estudos, ou
seja, um sinal de superao diante das dificuldades, a narrativa dialoga
com o leitor mostrando que at o mais desajeitado de todos ser
aplaudido em p. A superao , ento, o tema de identificao da re-
portagem com o leitor. Possivelmente, Israel no seria um protagonis-
ta em uma narrativa do jornalismo informativo. Caso fosse, seria re-
presentado e enquadrado como vtima social restrito a apenas uma
fala entre aspas. Porm, na narrativa de Brum, a jornalista recupera
valores, por meio da caracterizao moral de Israel, que tornam a fi-
gura annima um protagonista.
A cidade de Quara tambm apresentada por meio de uma figu-
ra humana na reportagem O chorador. Nela, o leitor conhece Tierri, o
chorador da cidade: Por isso uma cidade abenoada. Por causa, no
de suas glrias passadas, nem de suas lendas contadas nem de seu
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
432
alardeado sossego. Mas porque a nica onde um cidado pode viver
com a certeza de que ser chorado na morte. [] essa a misso de
Tierri (BRUM, 2006, p. 81).
O excepcional na vida de Tierri e o motivo de seu protagonismo
nesta histria o fato de ele aparecer em velrios da cidade para cho-
rar por todos os mortos de Quara. Tierri chora os mortos no porque
algum tenha pedido nem porque algum parente tenha pago. No por
contrato, mas por gosto. Tierri o faz porque no chorar os mortos
ofender os vivos. Porque chorar a morte sua misso de vida (BRUM,
2006, p. 78).
Ao longo da narrativa, a participao do protagonista vai sendo
construda mediante sua caracterizao fsica e moral por um narra-
dor observador em terceira pessoa. Em um trecho, o narrador afirma:
Fronteirio feito touro chucro, ele tem a cara talhada em madeira,
larga e grossa como um tronco de umbu. Gacho como os primei-
ros, os autnticos, com uns olhos de noite, os cabelos como pelo de
bicho e o corpo macio, feito para a lida de quem no conhece col-
cho. (BRUM, 2006, p. 78)
Em outro trecho, Tierri caracterizado moralmente: Tierri, um
mestio que s o pampa capaz de parir, simples como eram as coisas
e as gentes feitas entre o cu e a terra, como no princpio (BRUM,
2006, p. 78).
O narrador tambm tem um posicionamento crtico na narrativa
para mostrar que Tierri, ao chorar por todos e no distinguir ningum,
pobre, rico, branco ou negro, diminua a desigualdade social que at
ele sofria. O seguinte trecho mostra esta crtica:
Esse Tierri humilde, que muita gente arrelia, entendeu que no ha-
via nada mais nobre do que dar importncia na morte mesmo a
quem no a teve na vida. Ele, que conhece na pele e na herana a
desigualdade da sina, inventou um jeito de igualar a todos pelo me-
nos no ltimo dia. (BRUM, 2006, p. 81)
O Tierri que tem uma cabea boa para as coisas do corao, de-
sapegada das praticidades da vida (BRUM, 2006, p. 79) o que evoca
no leitor um carinho em uma narrativa do homem que chorava por
todos, dando o tom da condio humana e o medo do desamparo total
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
433
na hora da morte. esta caracterstica do protagonista que o aproxi-
ma de quem conhece sua histria por meio do texto da jornalista. Para
isso, mais uma vez, necessria a sensibilidade da jornalista para en-
xergar alm do bvio. E, assim, observar a verdadeira inteno do
choro de Tierri, que enaltecer a morte mesmo para aqueles que no
tiveram valor em vida.
Situao semelhante acontece com a reportagem O Gacho do
cavalo-de-pau, que tem como protagonista Vanderlei Ferreira, o ga-
cho que tinha um cabo de vassoura como cavalo. O protagonista
apresentado na reportagem por meio do narrador observador em ter-
ceira pessoa. A irreverncia de Vanderlei aparecer montado em um
cabo de vassoura na Expointer
5
, feira agropecuria gacha, alm de
frequentar as aulas do curso de Zootecnia, mesmo sendo analfabeto.
No texto, h descries fsicas que ajudam ao leitor conhecer a
figura: Chapu, bombacha e churrasco vai ganhando de outros padri-
nhos espraiados pela exposio. Veste um jaleco branco de veterinrio
e sai com uma planilha debaixo do brao (BRUM, 2006, p. 107).
H tambm uma caracterizao moral: Dizem que ele louco.
possvel. Da ltima primeira cocheira da Expointer, dizem que ele
louco. Os patres e tambm os pees dizem que ele louco (BRUM,
2006, p. 106). No final, o prprio Vanderlei responde sobre a sua lou-
cura: A verdade que quem acha que eu sou louco no raciocina
(BRUM, 2006, p. 110). Assim, as caracterizaes falam sobre a fonte
para o leitor, nos moldes do que faz a literatura.
Mais uma vez, o narrador utiliza a histria de um excludo social
para compor um texto crtico sobre uma sociedade que julga pelas
aparncias. Assim como na reportagem Histria de um olhar, temos
uma figura renegada por ser diferente dos demais. Este o ponto cr-
tico apresentado pelo narrador que tambm constri a figura de Van-
derlei como um sonhador livre dos julgamentos dos outros. Se fosse
levar a vida a srio, descobriria que analfabeto. Como decidiu que a
distncia entre a realidade e a liberdade um cabo de vassoura, vai se
formar doutor (BRUM, 2006, p. 106). Viver na fantasia uma vlvula
de escape para o protagonista, que afirma: Sem inveno a vida fica
sem graa. Fica tudo muito difcil (BRUM, 2006, p. 110).
5
Exposio internacional de animais, mquinas, implementos e produtos agropecurios
que acontece, todos os anos, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Disponvel em:
<http://www.expointer.rs.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2012.
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
434
A imaginao e a fantasia fazem parte da vida racional do ser
humano. Algo como ler um livro ou assistir a um filme para fugir da
realidade. Todos tm momentos de fico, e o de Vanderlei montar
em um cabo de vassoura. Este o ponto de partida para o leitor se
identificar com o protagonista.
Vanderlei poderia repercutir no jornalismo informativo devido
sua peculiaridade e sua excentricidade, porm como uma figura atpi-
ca e diferente das demais. J a proposta de Brum aproximar Vander-
lei de todos por conta do trao excntrico que, de alguma maneira, ca-
da indivduo tem e, principalmente, do gacho, o primeiro pblico da
reportagem. Para isso, o narrador compara Vanderlei com a represen-
tao do gacho:
Dizem que ele louco. O etimlogo Joan Corominas definiu o ga-
cho como de origem incerta, guacho rfo, pobre, indigente Vaga-
bundo, segundo o estudioso Jos de Saldanha. Homem que no sabe
andar a p, conforme Dom Flix de Azara, fundador de So Gabriel.
Vaqueano dos caminhos de horizontes largos, companheiro da li-
berdade, na prosa de Simes Lopes Neto. Se tudo isso gacho, no
h ningum naquela Expointer mais autntico do que o chamado
louco de Uruguaiana. (BRUM, 2006, p. 107)
As narrativas de Histria de um olhar, O chorador e O Ga-
cho do cavalo-de-pau so exemplos de como Brum humaniza suas
fontes, mediante a caracterizao fsica e moral para aproxim-las dos
leitores, algo que se encontra na literatura. Outra caracterstica da li-
teratura observada nestas reportagens, como tambm ser analisada
nas outras, a valorizao da figura humana na narrativa da jornalista,
j que por meio dela que a narrativa se revela.
Assim como na literatura, que advoga a ideia de que no h ao
independente de personagem, nem personagem fora da ao
(TODOROV, 1970, p. 119-130), o que determina a ao do enredo, nos
textos de Brum, a qualidade conhecida das fontes/personagens. As-
sim, elas no se tornam apenas um objeto do enredo/reportagem, elas
tm consequncias, influenciam acontecimentos e criam dificuldades
(MUIR, 1975, p. 21).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
435
4 ANTONIO, OSCAR E OUTROS TANTOS
A personagem, afirma Brait (1985), tambm tem a funo de
significar para a narrativa uma crtica ao momento/acontecimento de
uma poca. Para isso, o romancista analisa a psicologia individual e
social da personagem e insere comentrios e reflexes maneira de
quem fosse tirando a moral da histria (MOISS, 1983, p. 93).
Essa caracterstica predominante nas reportagens de Eliane
Brum. Em Enterro de pobre, a jornalista conta a histria de Antonio
Antunes, homem que enterrou a mulher e a filha aps a inadequada
assistncia mdica em um hospital de Porto Alegre. A histria relata o
momento em que Antnio, descascador de eucalipto no municpio de
Buti, enterra a filha natimorta, enquanto sua esposa continuava in-
ternada no hospital. Posteriormente, a mulher veio a falecer, vtima de
um acidente vascular cerebral (AVC), resultado do grande volume de
sangue perdido no parto. A reportagem denuncia que a mulher de An-
tonio no teve a assistncia mdica necessria para o parto, o que re-
sultou na sua morte e na da criana.
Por meio da histria de Antonio, o narrador observador em ter-
ceira pessoa realiza uma crtica ao destino de todos brasileiros desfa-
vorecidos economicamente:
Nada se encerrou para Antonio porque ele sabe que em breve esta-
r de volta. [] Porque a cova de pobre tem menos de sete palmos,
que para facilitar o despejo do corpo quando vencer os trs anos
do prazo. Ento preciso dar lugar a outro pequeno filho de pobre
por mais trs anos. E assim sucessivamente h 500 anos. (BRUM,
2006, p. 39)
Diferentemente do texto pertencente ao gnero opinativo
(MARQUES DE MELO, 2003), em que a opinio do jornalista aparece
de maneira isolada e demarcada no espao do jornal, Brum permeia o
texto com posicionamentos crticos por meio da ao e do comporta-
mento de suas fontes. O trecho abaixo sugere isso:
No h nada mais triste do que enterro de pobre porque no h na-
da pior do que morrer de favor. No h nada mais brutal do que no
ter de seu nem o espao da morte. Depois de uma vida sem posse,
no possuir nem os sete palmos de cho da morte. A tragdia su-
prema do pobre que nem com a morte escapa da vida. (BRUM,
2006, p. 37)
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
436
V-se que o que est em evidncia na reportagem Enterro de
pobre , alm do destino de Antonio, a desigualdade social vivida por
milhares de brasileiros que, assim como a famlia do protagonista, vi-
veram e morreram de modo desumano. No jornalismo informativo,
uma fonte como Antonio seria mais um nmero na estatstica de po-
bres que morrem pelo fato de serem pobres. Ou seja, por no gozarem
de direitos bsicos, no caso, o de sade. J na narrativa de Brum, a
proposta de contar a histria de Antonio evocar a reflexo do leitor
para as desigualdades econmica e social no pas. A histria do prota-
gonista mostra que, para o pobre, o sofrimento maior durante a vida
do que na morte ou de como se deixa de evit-la, no caso do pobre.
Para demonstrar isso, alm de um narrador crtico, a reporta-
gem aproxima Antnio do leitor por intermdio de sua caracterizao
moral: Um homem esculpido pelo barro de uma humildade mais an-
tiga do que ele. [] Um homem que tem vergonha at de falar e, quan-
do fala, teme falar alto demais. E quando levanta os olhos, tem medo
de ofender o rosto do patro apenas pela ousadia de ergu-los
(BRUM, 2006, p. 36). Assim, por meio da reportagem, o destino de An-
tonio passa a no ser somente o dele, mas o de todos os pobres e tam-
bm de todos os outros que sofreram algum tipo de desfavorecimento.
Como Antonio Antunes, a vida do protagonista da reportagem O
colecionador das almas sobradas, Oscar Kulemkamp, permite que o
narrador realize comentrios que agregam ao seu texto o carter crti-
co. Oscar mora na Rua Bag, do bairro Petrpolis, em Porto Alegre, e,
assim como o nome da reportagem sugere, coleciona objetos descar-
tados por outras pessoas e que so deixados no lixo. O que chama a
ateno na histria de Oscar a sua residncia, um chal de madeira
onde guarda o lixo que recolhe pelas ruas do bairro. A atitude de Oscar
desaprovada por seus filhos e vizinhos.
Oscar poderia apenas estar reduzido a uma fonte no jornalismo
informativo devido sua excentricidade. Porm, Brum vai alm e uti-
liza a atitude do inusitado colecionador como um protesto desvalo-
rizao do velho ou do inutilizado que sempre deixado para trs ou
jogado no lixo pela sociedade. Assim, o narrador classifica a residncia
de Oscar como [o] protesto bruto sociedade de consumo, descart-
vel e implacvel (BRUM, 2006, p. 48). Em um momento da narrativa,
o narrador afirma:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
437
Quando surge l de dentro, desconfiado e sorridente, Oscar Ku-
lemkamp j vai explicando que um dia, um dia em breve, vai levar
tudo aquilo para construir uma casa da praia. [] Um mundo onde
nem coisas nem pessoas sejam descartveis. Onde nada nem nin-
gum fique obsoleto depois de velho, quebrado ou torto. Um mundo
onde todos tenham igual valor. E a nenhum seja dado uma lixeira
por destino. (BRUM, 2006, p. 50)
Na citao acima, ao escrever Onde nada nem ningum fique
obsoleto depois de velho, quebrado ou torto, o narrador crtica a re-
jeio ao velho que pode ser entendido por pessoa ou objeto que
considerado ultrapassado ou sem valor pelo fato de ser velho.
Para a construo de Oscar Kulemkamp, alm de caractersticas
fsicas: Um homem pequeno, no mais de metro e meio de altura,
mirrado como um suspiro [] Veste roupas pobres, pudas e encardi-
das pela poeira dos dias. Est mais surdo do que porta de igreja
(BRUM, 2006, p. 48-49), o narrador sugere uma caracterizao psico-
lgica da pessoa na narrativa: Dando valor ao que no tinha, Oscar
Kulemkamp deu valor a si mesmo. Colecionando vidas jogadas fora,
Oscar Kulemkamp salvou a sua (BRUM, 2006, p. 50). O narrador ana-
lisa o comportamento do protagonista, ao recolher os objetos rejeita-
dos, como forma de resgatar a histria dos outros para construir a sua.
No trecho anterior, o narrador parece enxergar o interior do
protagonista para relatar as mudanas ocorridas em sua vida. Algo
permitido ao romancista j que a fico proporciona ao autor a possi-
bilidade da representao de certas situaes de aparncia fsica e do
comportamento sintomticos de certos estados ou processos psqui-
cos ou diretamente atravs de aspectos da intimidade das persona-
gens (CANDIDO, 1998, p. 27). O trecho mostra que a narrativa da jor-
nalista tem a inteno de entender as fontes/personagens alm do que
o jornalismo informativo estabelece como limite.
5 AS ESCOLHAS DE BRUM
As fontes de Brum adquirem caractersticas de personagem e a
jornalista se qualifica para escrever sobre temas humanos. Esta afir-
mativa justificada por suas escolhas ao compor as reportagens da
obra analisada neste artigo. Primeiramente, uma das escolhas de
Brum foi a seleo de fontes annimas. A jornalista tambm utilizou
Fabiana Piccinin & Kassia Nobre
438
recursos da literatura que so usuais na composio da personagem
nas narrativas literrias. Ou seja, com artifcios da literatura, Brum
construiu um texto com informaes que iriam alm das aspas, con-
tendo as falas das pessoas entrevistadas.
Destaca-se a caracterizao fsica e moral das pessoas para que o
leitor pudesse melhor visualizar e entender as aes delas nas repor-
tagens (BRAIT, 1985). Esta caracterizao foi representada pela des-
crio de aspectos, como fisionomia, vesturio, personalidade, carter
e modo de vida das pessoas. O resultado deste efeito na literatura e na
reportagem a ampliao do real, j que o leitor ter mais artifcios
para conhecer a histria. A caracterizao tambm permite a humani-
zao da personagem e da fonte para aproxim-las ainda mais do lei-
tor por meio do mecanismo de identificao.
Na literatura, as descries da personagem, ao mesmo tempo
que revelam detalhes sobre a figura humana, permitem a complexifi-
cao do ente da fico, o que evita o seu reducionismo. Ou seja, quan-
to mais diferentes facetas o autor revelar sobre a personagem, mais o
leitor construir diferentes perfis da mesma personagem. Brum apos-
ta em uma escuta e em uma observao aprimoradas para a interpre-
tao daquilo que foi manifestado por suas fontes por meio de gestos e
palavras, alm da imerso no ambiente da narrativa para melhor co-
nhecer a pessoa e aqueles que convivem com ela.
Assim, as escolhas de Brum demonstram a possibilidade de o
reprter tornar-se um narrador literrio. Atitude esta que vai de en-
contro ao jornalismo que se diz por princpio neutro e imparcial em
seu relato e ideia de que o jornalista no pode interpretar a realida-
de, apenas informar sobre ela.
REFERNCIAS
AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da Literatura. So Paulo: Martins Fon-
tes, 1974.
BENJAMIN, Walter. Magia e tcnica, arte e poltica. So Paulo: Brasiliense, 1987.
BRAIT, Beth. A personagem. So Paulo: tica, 1985.
BRUM, Eliane. A vida que ningum v. Porto Alegre: Arquiplago, 2006.
CANDIDO, Antonio. A personagem de fico. 1998. Disponvel em: <http://
f1.grp.yahoofs.com/v1/YDLETuKbyI0sR-F26NI0-iOWCiRq9H-PvzDF2WXnCpBM
wh6IUZAFTgaXepdOggQYmTewDNhnTiYz6UuIaIcpdTXfNeH_UJTK5ytMMg/A%2
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
439
0persona gem%20de%20ficc%80%A0%A6%E7%E3o.pdf>. Acesso em: 14 nov.
2011.
FONSECA, Isabel de Assis; SIMES, Paula Guimares. Alteridade no jornalismo:
um mergulho nas histrias de vida do livro A vida que ningum v. In: Socieda-
de Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicao, 16, 2011, So Paulo.
Anais So Paulo: Intercom, 2011. 15p.
KOTSCHO, Ricardo. A vida que ningum v como eu vi. In: BRUM, Eliane. A vida
que ningum v. Porto Alegre: Arquiplago, 2006. p. 177-184.
MARQUES DE MELO, Jos. Jornalismo opinativo: gneros opinativos no jornalis-
mo brasileiro. Campos do Jordo: Mantiqueira, 2003.
MEDINA, Cremilda. A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano. So Paulo:
Summus, 2003.
MOISS, Massaud. Histria da literatura brasileira. So Paulo: Cultrix, 1983.
MUIR, Edwin. A estrutura do romance. Porto Alegre: Globo, 1975.
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. Rio de Janeiro: Rocco Digital, 2012.
SODR, Muniz. A narrao do fato. Petrpolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.
SODR, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Tcnica de reportagem: notas sobre a
narrativa jornalstica. So Paulo: Summus, 1986.
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. So Paulo: Perspectiva, 1970.
WOLFE, Tom. Radical chique e o novo jornalismo. So Paulo: Companhia das Le-
tras, 2005.
APROPRIAES JORNALSTICAS NO CAMPO
LITERRIO: RECONFIGURAES NARRATIVAS
IDENTIFICADAS NA OBRA NO BIOGRFICA DE
FERNANDO MORAIS
Demtrio de Azeredo Soster
1
Daiana Stockey Carpes
2
Diana Azeredo
3
Ricardo Dren
4
Rodrigo Bartz
5
Vanessa Costa de Oliveira
6
1 PISTAS NO INCIO DA TRAJETRIA
Este captulo resultado dos esforos do grupo de pesquisa
Jornalismo e literatura: narrativas complexificadas, que iniciou suas
atividades em maro de 2013, junto ao Programa de Ps-Graduao
em Letras, em parceria com o curso de Comunicao da Universidade
1
Coordenador do projeto de pesquisa Jornalismo e literatura: narrativas complexifica-
das, estabelecido entre o Curso de Comunicao Social, habilitao em Jornalismo, e o
Programa de Ps-Graduao em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).
Professor, coordenador do Curso de Jornalismo e professor-pesquisador do PPG Le-
tras da Unisc. Doutor pela Unisinos. E-mail: dsoster@uol.com.br
2
Estudante de Graduao do Curso de Comunicao da Unisc. Voluntria do grupo de
pesquisa Jornalismo e literatura: narrativas complexificadas.
E-mail: daiacarpes@hotmail.com
3
Estudante de Graduao do Curso de Comunicao da Unisc. Bolsista PUIC do grupo
de pesquisa Jornalismo e literatura: narrativas complexificadas.
E-mail: azeredo_diana@yahoo.com.br
4
Mestre em Letras pela Unisc. Voluntrio do grupo de pesquisa Jornalismo e literatura:
narrativas complexificadas. E-mail: ricardo@gazetadosul.com.br
5
Mestrando do PPG Letras da Unisc. Voluntrio do grupo de pesquisa Jornalismo e
literatura: narrativas complexificadas. E-mail: rodrigobartzm@hotmail.com
6
Estudante de Graduao do Curso de Comunicao da Unisc. Voluntria do grupo de
pesquisa Jornalismo e literatura: narrativas complexificadas.
E-mail: nessa.costa.oliveira@gmail.com
Demtrio de A. Soster; Daiana S. Carpes; Diana Azeredo; Ricardo Dren & Vanessa C. de Oliveira
442
de Santa Cruz do Sul (Unisc). O que se pretende, aqui, resumir o que
j encontramos nessa trajetria recm-iniciada. Buscando compreen-
der o que ocorre com a narrativa no biogrfica de Fernando Morais,
no contexto midiatizado, nosso recorte abrange as obras Coraes Su-
jos (Companhia das Letras, 2000), Cem quilos de ouro (Companhia das
Letras, 2003) e Os ltimos Soldados da Guerra Fria (Companhia das
Letras, 2011).
Para dar conta desta anlise, consideramos trs teorias: narrati-
va, jornalismo e sistemas. So elas que nos ajudam a compreender os
fenmenos identificados com base na releitura das obras de Morais.
importante destacar que o objetivo no encaixar as publicaes
dentro de conceitos, nem quantificar o aparecimento de diferentes
categorias textuais. Tampouco se cumpre, neste artigo, a interpretao
de tudo que identificamos. Nossa proposta buscar pistas que nos au-
xiliem a ir alm do conceito de livro-reportagem, evidenciando a in-
quietao que surge ao percebermos a riqueza da narrativa sob o vis
no apenas jornalstico, mas tambm literrio. No obstante sua ori-
gem nos sculos XVI e XVII, essa hibricao, no contexto midiatizado
significa o qu?
2 UM OBJETO E TRS TEORIAS
Comeando pela teoria da narrativa, essa abordagem se justifica
porque a narratividade constitui uma qualidade reencontrada nos
textos narrativos de todas as pocas, do mesmo modo que ela no se
ativa apenas em textos literrios, mas tambm em textos no-
literrios (e at no-verbais) (REIS; LOPES, 1988, p. 71). Considerado
como texto no-literrio, o jornalismo vale-se do ato de narrar fatos
e, como afirma Marques de Melo (2003, p. 12), se articula necessari-
amente com os veculos que tornam pblicas suas mensagens, aten-
do-se ao real, exercendo um papel da orientao racional.
na narrativa jornalstica que se encontram as categorias pro-
postas por Marques de Melo (2010) e sistematizadas por Lailton Alves
Costa (2010, p. 43). De acordo com essa classificao, o texto jornals-
tico pode ser Informativo, Opinativo, Interpretativo, Utilitrio ou Di-
versional, subdividido em subcategorias ou gneros. Segundo Costa
(2010, p. 47), gneros so unidades textuais autnomas, relativamen-
te estveis, identificveis no todo do processo social de transmisso de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
443
informaes por meio de uma mdia/suporte. So, de fato, em nossa
perspectiva, unidades identificveis como tal, mas podem se apresen-
tar tanto de forma autnoma ( parte, portanto, dos demais formatos)
como excerto de estruturas mais complexas, caso dos livros-repor-
tagem de Fernando Morais.
Consideramos, no percurso, a perspectiva de Muniz Sodr
(2009), quando afirma que a observncia dos gneros, tanto em ter-
mos de jornalismo como de literatura, est em desuso desde h muito
em termos acadmicos. Ou Chaparro (2008), para quem, simplifica-
damente, as categorias e os gneros so contemplados pelo binmio
relato/verso do relato. Mas levamos em conta, sobretudo, a perspec-
tiva segundo a qual os gneros sociodiscursivos, como os de natureza
jornalstica, podem operar como uma espcie de indexadores no plano
narrativo-discursivo.
J em Pereira Lima (2009), encontramos a definio de livros-
repor-tagem como veculos de comunicao impressa no-peridicos
que apresentam reportagens em grau de amplitude superior ao tra-
tamento costumeiro nos meios de comunicao jornalstica peridi-
cos (LIMA, 2009, p. 26). O pesquisador explica que ele, o livro-
reportagem, difere do livro convencional em trs aspectos: quanto ao
contedo, pois seu objeto de abordagem corresponde ao real, ao fac-
tual; quanto ao tratamento, entendido como linguagem, montagem e
edio de texto, j que a abordagem jornalstica, mas com uma maior
maleabilidade textual; e quanto funo, de natureza comunicacional,
ou seja, informar, orientar, explicar, etc.
Para alm dessas definies, necessrio compreender a obra
de Morais pelo vis da Teoria dos Sistemas, proposta por Niklas Luh-
mann (2009). A partir dela, consideramos o Jornalismo e a Literatura
como sistemas distintos que dialogam entre si em suas operaes por
meio do acoplamento estrutural (SOSTER, 2009, 2009-a, 2009-b, 2011
e 2012). Chamamos esses movimentos de dialogia (SOSTER, 2012), ou
seja, a capacidade que um sistema tem de dialogar com outro sistema
em um determinado ambiente, provocando reconfiguraes em am-
bos. importante observar que os dilogos entre os sistemas se do a
partir dos dispositivos de um e outro. No caso do dispositivo livro-
reportagem, ao repetir em seu interior as dinmicas processuais do
sistema jornalstico, ele fortalece sua identidade, sua autonomia frente
aos demais dispositivos, viabilizando suas operaes.
Demtrio de A. Soster; Daiana S. Carpes; Diana Azeredo; Ricardo Dren & Vanessa C. de Oliveira
444
A dialogia, depois da autorreferncia, da correferncia e da des-
centralizao, a quarta caracterstica do jornalismo midiatizado, con-
forme Soster (2012). Neste ponto, necessrio frisar que denomina-
mos midiatizado aquele momento marcado por profunda imerso tec-
nolgica da sociedade, que reconfigura lugares e formas de dizer e que
exige novas gramticas explicativas. Por essa razo, nosso recorte
considerou apenas trs ttulos da produo no biogrfica de Fernan-
do Morais. Lanadas em 2000, 2003 e 2011, essas trs obras esto in-
seridas claramente em uma poca de midiatizao, quando se percebe
a intensa publicao de informaes de interesse jornalstico na inter-
net, em espaos como blogs e sites. Nesse contexto, Piccinin (2012)
analisa o fenmeno da imbricao:
Os namoros com a literatura se deram ao longo de toda sua histria,
em fases mais evidentes desde sua origem e consolidao nos scu-
los XVI e XVII at hoje, contrapostas a perodos onde esse movi-
mento se manteve presente ainda que menos acentuado. De qual-
quer modo, os jornalistas nunca deixaram de se valer da literatura
para compor suas histrias e, neste momento, essa aproximao
tende a parecer revitalizada em algumas formas narrativas jornals-
ticas especficas []. Livros-reportagem, biografias, documentrios
e grandes reportagens para a televiso, crnicas e reportagens es-
peciais em jornais e web apresentam-se como algumas das possibi-
lidades narrativas em que este exerccio de interseco com a arte
da narrativa precisamente feito para alm do efeito apenas estti-
co. (PICCININ, 2012, p. 82)
particularmente pelo vis da dialogia, ou seja, pelo dilogo en-
tre dois campos do conhecimento em uma perspectiva midiatizada,
que encontramos sentido na emergncia de determinados gneros
discursivos do jornalismo, caso do Diversional e Interpretativo. Em
suas bases, assentam-se os relatos dos livros-reportagem e das biblio-
grafias de natureza jornalstica. Jornalismo diversional, entende-se,
ser aquele que se vale de recursos que so prprios da literatura pa-
ra construir seus relatos.
A natureza diversional desse novo tipo de jornalismo est justa-
mente no resgate das formas literrias de expresso que, em nome
da objetividade, do distanciamento pessoal do jornalista, enfim, da
padronizao da informao de atualidade [], foram relegadas a
segundo plano, quando no completamente abandonadas.
(MARQUES DE MELO, 1994, p. 22)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
445
Sob um vis mais recente, diversional tomado como sinnimo
de jornalismo literrio, literatura de realidade ou no ficcional, jorna-
lismo em profundidade ou jornalismo de autor. A seguir, selecionamos
trechos que exemplificam essas hibridaes e, para alm das classifi-
caes, podem ser considerados indcios de camadas mais profundas
de significao, sinalizando para uma estrutura narrativa reconfigurada.
3 CORAES SUJOS
Comeando pelo Jornalismo e considerando a classificao de
Marques de Melo (2010), percebemos exemplos das categorias Infor-
mativo e Opinativo, mas o que predomina nesta obra Interpretativo,
com os gneros perfil e cronologia. Ao descrever Pedro Seleiro, Morais
elabora o seguinte relato biogrfico sinttico: Nascido em Ch de Ale-
gria, no interior de Pernambuco, antes de bater em Brana Pedro Se-
leiro rodou pelo Brasil no ofcio que acabaria se incorporando a seu
nome: fazer selas para animais (MORAIS, 2000, p. 318-319). O se-
gundo caso, de cronologia, registrado em passagens como:
No decorrer do ms de fevereiro de 1942, diariamente chegavam
aos distritos policiais circulares de So Paulo reiterando as proibi-
es ou anunciando novas. [] No dia 13 de setembro os japoneses
foram obrigados a entregar polcia todos os aparelhos de rdio
existentes em suas casas ou locais de trabalho. Uma semana depois,
foram informados de que no poderiam mais utilizar seus autom-
veis. (MORAIS, 2000, p. 47)
A no verificao de exemplos da categoria Utilitrio no mini-
miza a diversidade narrativa do livro. J na categoria Diversional, so
identificadas tanto histrias de interesse humano quanto histrias co-
loridas. O primeiro caso exemplificado com:
Naquela noite Junji Kikawa escreveu em seu dirio: Ao ver o nome
do velho camarada Wakiyama encabeando uma lista de traidores
da ptria, senti-me como se uma adaga de ao tivesse varado meu
corao. Estava explicado por que o companheiro de viagem no
aparecera uma s vez para visit-lo na cadeia: o dono da mais alta
patente militar japonesa no Brasil tinha se passado para o lado dos
inimigos, dos japoneses de coraes sujos. (MORAIS, 2000, p. 97)
Demtrio de A. Soster; Daiana S. Carpes; Diana Azeredo; Ricardo Dren & Vanessa C. de Oliveira
446
A histria colorida pode ser vista em:
As primeiras instrues eram dadas nos sales dos tanques de tin-
gimento, espalhados pelos pores de vrias casas geminadas. A
precria iluminao do lugar vinha da luz mortia de algumas lm-
padas penduradas no teto. Sob um calor insuportvel, dezenas de
japoneses seminus, com as cabeas protegidas por turbantes, mo-
lhados de suor, passavam dia e noite num trabalho que parecia no
ter fim. Correndo de um lado para outro, baixavam e levantavam
varais cobertos de peas de tecido fumegante que eram mergulha-
das nos tanques onde fervia a anilina em cada tanque, uma cor di-
ferente. (MORAIS, 2000, p. 158)
Alm de explorar com riqueza os formatos jornalsticos, o autor
se vale de recursos prprios da Literatura para contar a histria. Um
caso o emprego da hiprbole, que, pela definio de Fontanier
(1968), pode aumentar ou diminuir por excesso, no com finalidade
de enganar, mas de levar prpria verdade, e de fixar, pelo que dito
de inacreditvel, aquilo que preciso realmente crer (FONTANIER,
1968, apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 262). De acordo
com Moiss (2004), a hiprbole ajuda a chamar ateno a uma verda-
de e pode ser empregada na linguagem falada ou na literria.
Esse recurso identificado na descrio: Alguns presos mofa-
vam semanas na fila antes de ser qualificados (MORAIS, 2000, p.
179), frase na qual a palavra mofavam no deve ser entendida no
sentido literal, mas chamando a ateno para a verdade da espera
demorada. Em outros trechos, o jornalista se vale de grias e expres-
ses populares, que tambm no devem ser interpretadas no sentido
literal: At hoje cheio de dedos, temendo mexer numa ferida j cica-
trizada, ele reconhece que o surto coletivo de violncia contaminou
todos os brasileiros (MORAIS, 2000, p. 240), pacatos pais de famlia
pareciam ter despertado com o diabo no corpo (MORAIS, 2000, p.
241) e Melo Viana estava disposto a se livrar logo daquele abacaxi
(MORAIS, 2000, p. 293).
Sem colocar essas expresses entre aspas, Morais correria o ris-
co de ser considerado impreciso e demasiadamente subjetivo, se ana-
lisado apenas pelo vis jornalstico. Vale lembrar que, conforme a tra-
dio no jornalismo, o relato dos fatos deve primar pela preciso e ob-
jetividade. Portanto, o que se tem nos exemplos so narrativas recon-
figuradas a partir da dialogia.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
447
4 CEM QUILOS DE OURO
As cinco categorias propostas por Marques de Melo so encon-
tradas nesta obra, inclusive um caso raro de jornalismo utilitrio, no
captulo dez: Terminada a visita, volte Rodovia 1 e tome o caminho
de Big Sur. Depois de cem quilmetros e de passar por penhascos que
lembram a costa amalfitana, na Itlia, voc estar entrando no territ-
rio dos malditos e da beat generation (MORAIS, 2003, p. 268-269).
Destacamos a presena constante dos gneros histria de interes-
se humano e histria colorida, dentro da categoria diversional. Um
exemplo se pode observar no excerto a seguir, de histria colorida,
extrado do captulo oito, O Napoleo do Planalto.
Enquanto toma caf com leite, bolachas, mel, queijos Polenghinho e
Catari, faz anotaes margem do clipping para cobrar mais tarde
dos ministros e auxiliares. [] No fim da refeio, toma um copo de
suco uma mistura de cenoura, mamo e ma, batida num dia com
suco de laranja, no outro com suco de limo. De vez em quando tur-
bina a mistura com um pouco de guaran em p. (MORAIS, 2003, p.
217)
Dialogando com a Literatura, Morais se vale novamente da hi-
prbole: Quando o dia clareou, fazamos ginsticas com o Xavante pa-
ra evitar atoleiros (MORAIS, 2003, p. 72). A metfora
7
aparece na
descrio das diferenas entre o guerrilheiro Tony e seus parentes: O
movimento vitorioso aumenta a hostilidade com que a cidade e a fam-
lia viam a ovelha negra, e Tony e Aleida decidem mudar para Havana
(MORAIS, 2003, p. 114). At mesmo um anacoluto
8
identificado:
Filmes, Collor s assiste quando os lanamentos chegam s videolo-
cadoras de Braslia (MORAIS, 2003, p. 249).
5 OS LTIMOS SOLDADOS DA GUERRA FRIA
Das cinco categorias propostas por Marques de Melo, a nica
no existente nesta obra a do jornalismo utilitrio. No que toca ao
7
Segundo Moiss (2004), a metfora estruturada em torno de uma comparao, ex-
plcita ou implcita, que inclui dois termos e resulta na transformao de sentido de
cada um e no nascimento de um sentido novo.
8
Conforme Harry Shaw (1982, p. 209): As figuras de estilo ou de retrica podem divi-
dir-se em trs classes: [] apelos vista e ao ouvido: a aliterao, o anacoluto e a
onomatopeia.
Demtrio de A. Soster; Daiana S. Carpes; Diana Azeredo; Ricardo Dren & Vanessa C. de Oliveira
448
informativo, encontramos, por exemplo, trechos com caractersticas
do gnero entrevista, particularmente, em trechos quando Morais
(2011) reproduz, entre aspas, declaraes de indivduos entrevistados
por ele. J no mbito do jornalismo opinativo predominou, hegemni-
co, o gnero comentrio. Observamos a emergncia deste gnero em
trechos em que o jornalista deixou transparecer sua opinio sobre de-
terminados fatos, personagens ou instituies presentes na narrativa,
como mostra o excerto abaixo, retirado do captulo trs:
[] Quando publicou uma srie de entrevistas com o arqui-inimigo
da Revoluo Cubana Luis Posada Carriles, nas quais ele fazia es-
candalosas revelaes sobre as relaes das organizaes anticas-
tristas com o terrorismo, o jornalista Larry Rohter [] sentiu de
perto o bafo mafioso do anticastrismo. (MORAIS, 2011, p. 85. Grifo
nosso)
Na categoria interpretativo, encontramos, principalmente, tre-
chos com caractersticas dos gneros perfil, quando o autor descreve
caractersticas dos personagens da trama, e cronologia, nos quais
elencou sequncias de fatos relacionados, conforme as datas ou anos
em que foram ocorrendo. Um exemplo a referncia s crises migra-
trias entre Cuba e Estados Unidos: A primeira delas eclodiu logo
aps o triunfo da Revoluo e durou at 1962 perodo em que parti-
ram rumo aos Estados Unidos cerca de 200 mil pessoas, quase 3% da
populao cubana (MORAIS, 2011, p. 63).
Sob o ponto de vista literrio, identificamos o uso de hiprbole
no trecho: A notcia da derrubada dos dois avies e da morte dos qua-
tro pilotos desabou sobre a Flrida (MORAIS, 2011, p. 192). J na fra-
se cinegrafistas apontando ameaadoras cmeras contra portas e ja-
nelas do simptico sobrado amarelo (MORAIS, 2011, p. 195), o jorna-
lista atribui caracterstica humana (simptico) a algo inanimado (so-
brado), empregando a prosopopeia
9
. Caso semelhante ocorre no ex-
certo: Quando a dispora cubana abriu os olhos, o dinossauro cuja
morte iminente era brindada todas as noites no restaurante Versailles,
na Little Havana, dava os primeiros sinais de que sara do coma
(MORAIS, 2011, p. 240). Alm da prosopopeia (disporas no possuem
9
Figura do pensamento, em que as palavras conservam o seu significado, mas no os
seus moldes retricos, como sucede na apstrofe. (SHAW, 1982, p. 209)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
449
olhos), o termo dinossauro, que no possui sentido literal, mas refe-
re-se ao comunismo cubano, aponta para o emprego de metfora.
6 CONSIDERAES FINAIS
O captulo que aqui se encerra observou trs livros-reportagem
de Fernando Morais, considerados no contexto de midiatizao. Neles,
foi identificada a incidncia de categorias e gneros jornalsticos, alm
de figuras de linguagem, recursos prprios de textos literrios. Parti-
mos do princpio de que os modelos distintos de textos operam como
indexadores/indicadores de uma estrutura narrativa mais complexa.
Sinalizam, nesse sentido, para uma espcie de superfcie por meio das
quais podemos chegar a camadas mais profundas de significao, e,
com isso, compreender tanto a relevncia dos relatos quanto a sua
abrangncia.
Com esse trabalho que aqui se encerra, possvel perceber o di-
logo da literatura com o jornalismo, e que empresta, ao dispositivo
livro-reportagem, dessa maneira, forma e identidade especficas.
Compreender o que essa imbricao, em tempos midiatizados, repre-
senta para alm de sua estrutura e matriz gentica o desafio que se
apresenta daqui para frente.
REFERNCIAS:
CHAPARRO, Manuel Carlos. Sotaques d'aqum e d'alm mar: travessias para uma
nova teoria de gneros jornalsticos. So Paulo: Summus, 2008.
CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionrio de anlise do
discurso. Coord. Trad. Fabiana Komesu. 2. ed. So Paulo: Contexto, 2006.
COSTA, Lailton Alves. Gneros jornalsticos. In: MELO, Jos Marques de; ASSIS,
Francisco de. Gneros jornalsticos no Brasil. So Bernardo do Campo: Universi-
dade Metodista de So Paulo, 2010.
LUHMANN, Niklas. Introduo teoria dos sistemas. Petrpolis: Vozes, 2009.
MELO, Jos Marques de. A opinio no jornalismo brasileiro. Petrpolis: Vozes,
1994.
MELO, Jos Marques de. Jornalismo Opinativo: gneros opinativos no jornalismo
brasileiro. 3. ed., rev. e ampl. Campos do Jordo: Mantiqueira, 2003.
MELO, Jos Marques de; ASSIS, Francisco de. Gneros jornalsticos no Brasil. So
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de So Paulo, 2010.
Demtrio de A. Soster; Daiana S. Carpes; Diana Azeredo; Ricardo Dren & Vanessa C. de Oliveira
450
MOISS, M. Dicionrio de termos literrios. 12. ed. So Paulo: Cultrix, 2004.
MORAIS, Fernando. Cem quilos de ouro (e outras histrias de um reprter). So
Paulo: Companhia das Letras, 2003.
MORAIS, Fernando. Coraes sujos: a histria da Shindo Renmei. So Paulo: Com-
panhia das Letras, 2000.
MORAIS, Fernando. Os ltimos soldados da guerra fria: a histria dos agentes in-
filtrados por Cuba em organizaes de extrema direita nos Estados Unidos. So
Paulo: Companhia das Letras, 2011.
PEREIRA LIMA, Edvaldo. Pginas ampliadas: o livro-reportagem como extenso
do jornalismo e da literatura. Barueri: Manole, 2009.
PICCININ, Fabiana. O (complexo) exerccio de narrar e os formatos mltiplos:
para pensar a narrativa no contemporneo. In: SOSTER, Demtrio de Azeredo;
PICCININ, Fabiana. Narrativas Comunicacionais Complexificadas. Santa Cruz do Sul:
Edunisc, 2012.
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionrio de teoria da narrativa. So Paulo:
tica, 1988.
SHAW, Harry. Dicionrio de termos literrios. Lisboa: Dom Quixote, 1982.
SODR, Muniz. A narrao do fato: notas para uma teoria do acontecimento. Pe-
trpolis: Vozes, 2009.
SOSTER, Demtrio de Azeredo. Sistemas, Complexidades e Dialogias: Narrativas
Jornalsticas Reconfiguradas. In: SOSTER, Demtrio de Azeredo; PICCININ, Fabi-
ana. Narrativas Comunicacionais Complexificadas. Santa Cruz do Sul: Edunisc,
2012.
O PERFIL DE MULHER NO JORNAL DAS SENHORAS
E NOS CONTOS D. BENEDITA E CAPTULO DOS
CHAPUS, DE MACHADO DE ASSIS
1
Itiana Daniela Kroetz
2
Eunice Terezinha Piazza Gai
3
1 INTRODUO
O sculo XIX foi um perodo de tumulto na Europa. Foi no incio
do sculo que Napoleo Bonaparte imps a Barreira Continental proi-
bindo pases europeus de manter relaes comerciais com a Inglaterra.
Desde que os ingleses estavam impossibilitados de comercializar seus
produtos com pases europeus, o Brasil representou um mercado im-
portante para venderem sua produo. Como consequncia, a relao
que o Brasil estabeleceu com a Inglaterra se tornou mais forte (VAS-
CONCELOS, 2009).
A poltica de Napoleo tinha por objetivo conquistar Portugal
tambm, como j havia sido feito com a Espanha. Para escapar dessa
conquista, a Famlia Real Portuguesa veio para o Brasil, auxiliada pela
Inglaterra. Em troca, a Inglaterra exigia liberdade para comercializar
seus produtos no Brasil, o que foi estabelecido logo aps a chegada da
Famlia Real Portuguesa na Bahia, precisamente, em 1808 (VASCON-
CELOS, 2009).
No somente D. Joo abriu os portos brasileiros para a Inglater-
ra, como tambm assegurou privilgios aos cidados britnicos, tais
como viajar e morar nos domnios portugueses. Devido a essas vanta-
1
Artigo desenvolvido para a disciplina de Esttica e Cognio/Conhecimento, do Mes-
trado em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul.
2
Mestranda em Letras, UNISC e bolsista Fapergs.
3
Docente do PPG em Letras Mestrado e do Departamento de Letras, da Universidade
de Santa Cruz do Sul UNISC, pesquisador com recurso do Edital PqG 2012 Fapergs.
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
452
gens, a predominncia inglesa no Brasil, durante o sculo XIX, intro-
duziu novos hbitos, certas tendncias, refinamento de maneiras e
disponibilidade de cursos de Ingls para os brasileiros. Nesse sentido,
a sociedade brasileira experimentou mudanas progressivas e se mo-
dernizou a partir das ideias inglesas, hbitos e produtos (VASCON-
CELOS, 2009). Apesar desse processo de descolonizao, no qual a
abertura dos portos foi um fator decisivo, ainda havia um obstculo ao
dinamismo intelectual da sociedade brasileira: o fim da censura, que
foi declarado em 21 de julho de 1821, o que permitiu a imprensa pe-
ridica brasileira a se desenvolver de fato. Os jornais e revistas publi-
cados no Rio de Janeiro, durante o sculo XIX, mostram uma atividade
contnua traduo de artigos retirados de peridicos europeus. Tais
peridicos, principalmente os franceses e ingleses, foram modelos pa-
ra os peridicos brasileiros j que o Brasil experenciava um processo
de aprendizagem (MEYER, 1998, p. 161) e se modernizava por meio
das maneiras e produtos europeus.
Nesse perodo de mudanas progressivas, causadas pela transfe-
rncia da Corte Real para o Brasil, em que a imprensa peridica come-
ou a se desenvolver, h um aspecto a ser levado em considerao: a
condio das mulheres. Como Ubiratan Machado (2001, p. 225) expli-
ca, no incio do sculo XIX, a condio da mulher poderia ser compa-
rada a de escrava. As mulheres raramente podiam ir sozinhas igreja
ou visitar seus parentes. Para tornar pior a situao da mulher, poucas
sabiam ler. Alm disso, as suas leituras eram criticadas por crticos
daquele perodo que desaprovavam a tendncia das mulheres a lerem
o que eles chamavam de romances aucarados (LAJOLO; ZILBER-
MAN, 1996, p. 243). De acordo com Marisa Lajolo e Regina Zilberman
(1996, p. 245), essas afirmaes crticas mostram que o universo de
leitura da mulher brasileira dos mais restritos, no que, alis, se afina
bastante sociedade em que vive. Iletrada na maioria dos casos, a mu-
lher brasileira faz parte de um mundo para o qual o livro, a leitura e a
alta cultura no parecem ter maior significado. Em adio, era consi-
derado perigoso as mulheres lerem e escreverem porque ainda vigo-
rava a mentalidade de que letras e tretas s serviam para atrapalhar a
mulher. Se fosse analfabeta, timo. Para as que aprendiam a ler, mui-
tas delas contrariando a orientao domstica, bastava a leitura do
missal (MACHADO, 2001, p. 256).
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
453
No entanto, de 1840 em diante, esse cenrio comeou a mudar,
pois aumentou o nmero de escolas para meninas, j que muitas mu-
lheres comearam a reivindicar seu direito pela educao (TELES,
1999, p. 27). Essas escolas preparavam as moas para a vida dos sa-
les, despertavam o interesse pela poesia e a curiosidade pelo roman-
ce, porm nada mais ofereciam (MACHADO, 2001, p. 256). Com a al-
fabetizao gradual das mulheres, multiplicaram-se os jornais com
sees direcionadas especialmente ao pblico feminino. Esses jornais
tiveram o papel para estimular e difundir as novas ideias a respeito
das potencialidades femininas (TELES, 1999, p. 33). A partir desse len-
to incremento da vida intelectual das mulheres, principalmente da-
quelas que viviam na corte, elas desejavam no apenas afirmar sua
personalidade e conquistar direitos, mas tambm participar, ainda
que de forma incipiente, da vida literria (MACHADO, 2001, p. 258).
2 O JORNAL DAS SENHORAS
Nesse novo contexto, em 1 de janeiro de 1852 foi fundada no
Rio de Janeiro, pela argentina Joana Paula Manso de Noronha, a pri-
meira revista literria brasileira produzida predominantemente por
mulheres e direcionada exclusivamente s mulheres: o Jornal das Se-
nhoras. Essa revista circulava aos domingos e possua sees como
moda, literatura, belas-artes, teatro e crtica. Nas suas oito pginas, o
pblico feminino podia encontrar, por exemplo, cartas, versos e tradu-
es de artigos e narrativas ficcionais. Como anunciado no artigo de
abertura do Jornal das Senhoras, em 1 de janeiro de 1852, essa revista
tinha como objetivo propagar a ilustrao, e cooperar com todas as
suas foras para o melhoramento social e para a emancipao moral
da mulher. Aps seis meses de publicao, a revista passou a ser diri-
gida pela baiana Violante Bivar e Velasco.
No houve mudanas relevantes na revista depois que Violante
B. Velasco se tornou a nova diretora do Jornal das Senhoras. Tanto Joana
de Noronha quanto Violante publicaram vrios artigos sobre a eman-
cipao moral das mulheres. No entanto, quando Violante assumiu a
direo da revista, vrios artigos sobre religio comearam a ser pu-
blicados no Jornal das Senhoras, tais como Os prazeres e vantagens da
religio (18 de julho de 1852) e O sentimento religioso (1 de agos-
to de 1852). Eliane Vasconcellos (2000, p. 195) afirma que Violante
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
454
Bivar e Velasco dirigiu o Jornal das Senhoras at o encerramento de
suas atividades em 1855. Entretanto, ao trabalhar com essa revista,
pode-se comprovar que a partir de 12 de junho de 1853, a revista pas-
sou a ser dirigida por Gervasia Nunezia Pires dos Santos Neves. Sob a
direo de Gervazia Neves, os artigos que tratavam explicitamente da
emancipao moral da mulher desapareceram do Jornal das Senhoras,
mas esse tema continuou presente, passando a ser abordado de forma
mais sutil, pois por emancipao moral da mulher entendia-se for-
necer instruo e educao s mulheres a fim de que elas desempe-
nhassem bem suas tarefas. Desse modo, artigos que serviriam para
instru-las comearam a ser publicados com certa frequncia. Um
exemplo a ser citado o artigo Vantagens do ler, publicado em 31 de
julho de 1853, em que os benefcios da leitura so apresentados s lei-
toras do Jornal das Senhoras:
A leitura meus amigos! sabeis vs bem o que a leitura?! de to-
das as artes a que menos custa e a que mais rende. H livros que,
semelhantes a barquinhas milagrosas, incorruptveis e inaufrag-
veis, nos levam pelo oceano das idades a descobrir, visitar e conhe-
cer todo o mundo, que l vai: os povos antigos revivem para ns
com todos os seus usos, costumes, trajes, feies, crenas, idias, v-
cios, virtudes, interesses e relaes: a histria a mestra da vida, e
as suas lies, ampliao e complemento ao nosso juzo natural.
Os artigos publicados nesta revista esto relacionados ao seu
principal objetivo, de modo que, por exemplo, vrios textos criticam
fortemente a premissa masculina de que as mulheres deveriam ficar
longe de tudo que podia instru-las e elev-las. Essa a discusso que
podemos encontrar no artigo Jornal das Senhoras, publicado em 18
de julho de 1852, no qual a autora alega:
Ns que temos hasteado a bandeira Religio e emancipao mo-
ral da mulher e convencidas estamos que s esta a base sobre a
qual o edifcio social se poder erguer e suster-se inabalvel, de cu-
jo poder nascero bons filhos, bons cidados, bons pais e bons ma-
ridos.
A autora faz esta afirmao, pois as colaboradoras do Jornal das
Senhoras acreditavam que eram elas, mulheres e mes, as principais
responsveis pela educao de seus filhos. Por conseguinte, elas deve-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
455
riam ser bem educadas e instrudas para conseguirem educar bem os
seus filhos, criando assim, bons cidados para a sociedade brasileira.
Por meio deste exemplo, podemos perceber que os artigos no eram
publicados s cegas nessa revista, mas sim de acordo com a linha edi-
torial desta. Como Mark Parker (2000, p. 3) nos permite entender, as
intenes de um escritor so apenas parte do significado do texto em
um peridico: um texto, em tal cenrio, insere-se numa variedade de
relaes com outros artigos e com preocupaes institucionais em
curso, os quais do inflexes sutis para seu significado
4
. De fato, como
se pode perceber, no Jornal das Senhoras, os artigos estavam relacio-
nados de forma geral promoo da emancipao moral da mulher.
Pode-se observar que o Jornal das Senhoras seguiu o propsito
corrente de nossos peridicos, que era o de colaborar com a moderni-
zao e desenvolvimento cultural da sociedade brasileira, mas com
um foco especfico: promover uma discusso sobre o melhoramento
da educao das mulheres e enfatizar os papis de mes e esposas. O
artigo O filho malcriado, publicado em 27 de fevereiro de 1853 real-
a o papel das mulheres como educadoras e adota a ideia de que falhar
nesse papel seria uma vergonha para elas:
Uma senhora de qualidade tinha um filho, a quem tanto temia des-
gostar contradizendo a menor de suas vontades, que o menino se
tinha tornado um pequeno tirano [] A senhora ficou to envergo-
nhada desta cena ridcula, que se corrigiu de sua fraqueza desarra-
zoada; e da em diante deu melhor criao ao seu filho. Muitas mes
precisariam de uma semelhante aventura. E muitos pais tambm,
porque tenho-os visto que so mesmo uma abbora dgua.
Essa premissa transmitida no Jornal das Senhoras de que as mu-
lheres deveriam ser boas mes e esposas est intrinsecamente ligada
viso de mulher que a sociedade brasileira tinha no sculo XIX, pois
nesse sculo, tanto quanto no perodo colonial, mulher competia o
papel de dona de casa, esposa e me (TELES, 1999, p. 28). Como afir-
ma Ingrid Stein (1984, p. 23), a mulher ocupava uma posio secund-
ria na famlia. Juntamente com a funo procriadora, a mulher de clas-
se alta deveria exercer o papel de administradora de tarefas do lar,
4
A writers intentions are only part of the meaning of the work in a periodical: a work in
such a setting enters a variety of relations with other articles and ongoing institutional
concerns that give subtle inflections to its meaning. [Minha traduo]
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
456
dirigia os trabalhos da cozinha, supervisionava a arrumao da casa e
o cuidado das amas e escravas com as crianas, ocupava-se de servios
de costura e providenciava e organizava festas. Como me, tinha a
responsabilidade da primeira transmisso de valores e do aperfeio-
amento moral dos filhos.
Considerando que Machado de Assis publicou suas obras no
mesmo perodo em questo, e que o enredo das mesmas se passa nesse
tempo, o objetivo desse trabalho verificar se o perfil de mulher e os
ideais apresentados no Jornal das Senhoras correspondem ao perfil de
mulher e os ideais presentes nos contos D. Benedita e Captulo dos
Chapus de Machado de Assis.
3 D. BENEDITA E CAPTULO DOS CHAPUS
O conto D. Benedita narra a histria de Benedita. Embora mui-
tos achem tarefa rdua lhe dizer a idade exata, o narrador afirma que
ela uma mulher de 42 anos de idade. Seu marido, o ilustre desem-
bargador Proena, mudou-se para o Par h dois anos e meio quando
foi nomeado desembargador pelo Ministrio, e nunca mais voltou.
Aps sua festa de aniversrio, D. Benedita decide escrever uma carta
ao marido. Durante a escrita, sofre vrias distraes, mas consegue
encaminhar a carta. Certo dia, D. Benedita decide viajar at o Par, pa-
ra ver o marido, porm, ela sempre encontra um motivo para poster-
gar a viagem. No viaja e quinze dias aps o casamento da filha recebe
a notcia da morte do seu marido.
De acordo com Ingrid Stein (1984, p. 58), a maioria das unies
conjugais nas obras de Machado de Assis insatisfatria, e impressio-
nante o conformismo das mulheres diante de seus casamentos desas-
trados. Essa constatao de Stein pode ser estritamente vinculada
condio de D. Benedita, j que o marido est distante por dois anos e
meio e ela no toma nenhuma atitude para ficar prxima a ele. Aco-
moda-se sua condio de esposa e aceita passivamente a ausncia do
marido.
Apesar desse distanciamento conjugal, D. Benedita nutre certo
devotamento ao seu marido, como podemos comprovar na passagem
em que se d durante seu aniversrio, na qual Leandrinho faz um
brinde ao desembargador Proena:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
457
Bebamos a algum que est longe, muito longe, no espao, mas per-
to, muito perto, no corao de sua digna esposa: bebamos ao ilus-
tre desembargador Proena. A assembleia no correspondeu viva-
mente ao brinde; e para compreend-lo basta ver o rosto triste da
dona de casa. [] D. Benedita, no podendo conter-se, deixou re-
bentarem-lhe as lgrimas, levantou-se da mesa, retirou-se da sala.
[] Eullia pediu a todos que continuassem, que a me voltava j.
Mame muito sensvel, disse ela, e a ideia de que papai est lon-
ge de ns [] D. Benedita no podia ouvir falar do marido sem re-
ceber um golpe no corao e chorar logo [] Pois era a coisa mais
natural, explicou o sujeito, porque ela morre pelo marido.
O conto Captulo dos chapus narra a histria de Mariana, es-
posa do bacharel Conrado Seabra com quem era casada h cinco ou
seis anos. Influenciada por seu pai, certa manh Mariana pede ao ma-
rido que no v mais cidade com seu chapu, pois no era apropria-
do a um homem de sua posio j que era um chapu muito baixo. O
marido lhe d vrias explicaes sobre a escolha de um chapu por um
homem. Mariana, achando que ele usara de sarcasmo na explicao,
pois no entendera nada, decide visitar uma amiga e sair a passear na
rua para mostrar certa independncia do marido. No entanto, ao pas-
sar muito tempo cercada de gente nas ruas, ela no v o momento de
retornar ao conforto do lar. Ao retornar, encontra o marido com novo
chapu e lhe diz que o antigo era melhor.
Ingrid Stein (1984, p. 58) explica que um ponto que chama aten-
o nas obras de Machado de Assis a sua relao com a realidade da
poca, no que diz respeito subordinao da mulher ao homem den-
tro do matrimnio. Podemos perceber essa relao de subordinao
em Mariana no que concerne sua intelectualidade, afinal, foi devido
explicao do marido que desencadeou-se o sentimento de querer ob-
ter liberdade:
A escolha do chapu no uma ao indiferente, como voc pode
supor; regida por um princpio metafsico. [] O princpio metaf-
sico este: o chapu a integrao do homem, um prolongamen-
to da cabea, um complemento decretado ab aeterno; ningum o
pode trocar sem mutilao. uma questo profunda que ainda no
ocorreu a ningum. Os sbios tm estudado tudo desde o astro at o
verme, ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace
Voc nunca leu Laplace? [] Mariana venceu-se afinal, e deixou a
mesa. No entendera nada daquela nomenclatura spera nem da
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
458
singular teoria; mas sentiu que era um sarcasmo, e, dentro de si,
chorava de vergonha.
Aps ouvir tal definio do marido e ele despedir-se para sair,
Mariana vai visitar sua amiga Sofia, esta, possui um trato muito dife-
rente com o marido, o que acaba influenciando Mariana:
No lhe peo uma coisa que ele me no faa logo; mesmo quando
no tem vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo.
No era ele que teimaria assim por causa de um chapu! Tinha que
ver! Pois no! Onde iria ele parar! Mudava de chapu, quer quises-
se, quer no. Mariana ouvia com inveja essa bela definio do sos-
sego conjugal. [] Ora este sentimento caritativo induziu-a a pro-
por amiga que fossem passear, ver as lojas, contemplar a vista de
outros chapus bonitos e graves. Mariana aceitou; um certo dem-
nio soprava nela as frias da vingana. Demais, a amiga tinha o dom
de fascinar, virtude de Bonaparte, e no lhe deu tempo de refletir.
Pois sim, iria, estava cansada de viver cativa. Tambm queria gozar
um pouco, etc., etc.
No entanto, ao se ver rodeada de pessoas, aturdida pelo movi-
mento das ruas, e incomodada pela presena de um ex-namorado, Ma-
riana busca ansiosamente retornar ao lar para encontrar o sossego de
sempre:
Mariana sentia-se opressa: a presena de um tal homem atava-lhe
os sentidos, lanava-a na luta e na confuso. [] De memria con-
templava a casa, to sossegada, to bonitinha, onde podia estar
agora, como de costume, sem os safanes da rua, sem a dependn-
cia da amiga [] A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dila-
cerada de toda essa confuso de coisas. Perdera o interesse da pri-
meira hora; e o despeito, que lhe dera foras para um vo audaz e
fugidio, comeava a afrouxar as asas, ou afrouxara-as inteiramente.
E outra vez recordava a casa, to quieta, com todas as coisas nos
seus lugares, metdicas, respeitosas umas com as outras, fazendo-
se tudo sem atropelo, e principalmente, sem mudana imprevista.
[] S pedia a Deus que as horas andassem depressa.
Ao ler o trecho acima, podemos concluir que podem existir efei-
tos desagradveis para aquelas mulheres que extrapolam de forma
exagerada os limites internos da casa. Como Stein (1984, p. 23-24) ex-
plica, no sculo XIX, as atividades ligadas estritamente casa eram
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
459
destinadas mulher, enquanto ao homem eram destinadas as ativida-
des fora do mbito caseiro, o homem era o elemento mvel, militante
renovador; a mulher, o conservador, o estvel, o de ordem. Ao retor-
nar a casa, Mariana sente-se segura ao voltar a desempenhar seu pa-
pel de dona de casa e inclusive retira a culpa do marido pela discusso
e a coloca nela mesma:
A casa estava perto; medida que ia vendo as outras casas e chca-
ras prximas, Mariana sentia-se restituda a si mesma. Chegou fi-
nalmente; entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu mundo. []
Depois de uma manh inteira de perturbao e variedade, a mono-
tonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu to deliciosa.
[] Uma vez despida, pensou outra vez na briga com o marido.
Achou que, bem pesadas as coisas, a principal culpa era dela. Que
diabo de teima por causa de um chapu, que o marido usara h tan-
tos anos? Tambm o pai era exigente demais
Aps todos esses acontecimentos, Mariana muda de opinio em
relao ao chapu do marido, e se assusta ao v-lo chegando com um
novo, pois o antigo chapu auxilia a manter a nota harmnica da roti-
na conjugal:
Conrado entrava lentamente, olhando para a direita e a esquerda,
com o chapu na cabea, no o famoso chapu do costume, porm
outro, o que a mulher lhe tinha pedido de manh. O esprito de Ma-
riana recebeu um choque violento [] Era a nota desigual no meio
da harmoniosa sonata da vida. No, no podia ser esse chapu. Re-
almente, que mania a dela exigir que ele deixasse o outro que lhe fi-
cava to bem? E que no fosse o mais prprio, era o de longos anos;
era o que quadrava fisionomia do marido Conrado entrou por
uma porta lateral. Mariana recebeu-o nos braos.
Ento, passou? Perguntou ele, enfim, cingindo-lhe a cintura.
Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carcia divina, bota fora
esse; antes o outro.
ainda relevante observar o contraste de dois perfis opostos de
mulher representados por Mariana e Sofia. Como o narrador mesmo
as caracteriza, Mariana uma criatura passiva, meiga e de uma plasti-
cidade de encomenda. J Sofia era forte, muito senhora de si e dos ou-
tros, e tambm namoradeira:
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
460
Os taces de Sofia desceram a escada, compassadamente. Pronta!
Disse ela da a pouco, ao entrar na sala. Realmente estava bonita, J
sabemos que era alta. O chapu aumentava-lhe o ar senhoril; e um
diabo de vestido de seda preta, arredondando-lhe as formas do bus-
to, fazia-a ainda mais vistosa. Ao p dela, a figura de Mariana desa-
parecia um pouco. Era preciso atentar primeiro nesta para ver que
possua feies mui graciosas, uns olhos lindos, muita e natural ele-
gncia.
Levando em considerao o perfil de Sofia, podemos buscar uma
explicao no estudo de Ingrid Stein. A autora esclarece que a socie-
dade do sculo XIX incumbe a mulher do papel de principal respons-
vel pela manuteno da moral vigente, mas ao mesmo tempo da mu-
lher se exige que desenvolva uma srie de outras propriedades que a
tornem atraente sedutora, que a transformem enfim num objeto dese-
jvel, em evidente contradio com a ideologia de pureza e castidade
feminina da poca (STEIN, 1984, p. 92). Stein (1984, p. 93) ainda ex-
plica que, para a solteira no era algo problemtico oferecer-se como
objeto cobivel, j que com essa prtica se buscava conseguir um ca-
samento. Porm, at mesmo aps o matrimnio a mulher devia conti-
nuar a exibir o seu corpo, pois a mulher tinha a responsabilidade de
manifestar por meio de sua aparncia o padro de vida oferecido pelo
marido, deveria torn-lo invejvel. Essa prtica levada at as ltimas
consequncias poderia transformar-se em adultrio.
Alm de a mulher mostrar-se como objeto cobivel para atingir
determinados objetivos, importante destacar a importncia do nar-
cisismo na sexualidade feminina:
Na valorizao da prpria beleza, a mulher tem um prazer que a in-
deniza de sua limitada liberdade social de escolha do objeto. A mu-
lher, ama-se a si mesma com intensidade semelhante do homem
que a ama; sua necessidade no consiste em amar, mas em ser
amada e ela aceita o homem que satisfaz esta condio, mesmo
que ela prpria no o ame a ele. (FREUD, p. 155 apud STEIN, 1984,
p. 96)
A personagem Sofia parece seguir as premissas de objeto cobi-
vel e do narcisismo feminino discutidas acima:
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
461
Para completar a situao, esta Sofia no era s muito senhora de si,
mas tambm dos outros; tinha olhos para todos os ingleses, a cava-
lo ou a p. Honesta, mas namoradeira; o termo cru, e no h tem-
po de compor outro mais brando. Namorava a torto e a direito, por
uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco mi-
do do amor, que ela distribua a todos os pobres que lhe batiam
porta: - um nquel a um, outro a outro; nunca uma nota de cinco
mil-ris, menos ainda uma aplice.
4 A IRONIA NOS CONTOS D. BENEDITA E CAPTULO DOS CHAPUS
A ironia tem como trao bsico o contraste entre uma realidade e
uma aparncia em que se afirma estar dizendo ou fazendo alguma coisa.
Neste caso, a mensagem que est sendo proferida possui um sentido
diferente daquele que enunciado. Conforme Kierkegaard (2005, p.
215), a caracterstica da ironia est em dizer o contrrio do que se pensa,
por isso, o fenmeno no a essncia, e sim o contrrio da essncia.
Para Muecke (1995, p. 54), na ironia o significado real deve ser
inferido ou do que diz o ironista ou do contexto em que o diz; sone-
gado apenas no fraco sentido de que ele no est explcito ou no pre-
tende ser imediatamente apreensvel. Considerando que o irnico
no quer se mostrar, o ironista consumado usar to poucos sinais
quanto puder; a produo do efeito mximo atravs dos meios me-
nos extravagantes (MUECKE 1995, p. 73).
Kierkegaard (2005, p. 221) explica que a ironia no se dirige
contra este ou aquele existente individual, ela se dirige contra toda a
realidade dada em certa poca e sob certas condies. [] No este
ou aquele fenmeno, mas a totalidade da existncia que observada.
No conto D. Benedita podemos notar a ironia quando D. Bene-
dita sente o desejo de viajar ao encontro do marido, mas sempre pos-
terga a viagem por alguma razo. Mesmo estando distante do marido
por mais de dois anos, ela encontra uma razo para adiar as viagens
que possibilitariam um reencontro. O marido acaba morrendo sem
que tornem a ver um ao outro.
Aps a morte do Marido, D. Benedita continua nessa passividade
de nunca tomar uma deciso, pois lhe aparece um pretendente e ela
fica na dvida se casa ou no casa. Antes a dvida era viajo ou no
viajo, com a possibilidade de novo casamento, a dvida que surge
caso ou no caso. Essa passividade pode ser definida como veleidade,
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
462
que na definio do dicionrio Michaelis vontade imperfeita, sem re-
sultado. Inclusive, no final do conto, a veleidade vai visitar D. Benedita:
Nesse quadro apareceu-lhe uma figura vaga e transparente, trajada
de nvoas, toucada de reflexos, sem contornos definidos, porque
morriam todos no ar. A figura veio at o peitoril da janela de D. Be-
nedita; e de um gesto sonolento, com uma voz de criana, disse-lhe
estas palavras sem sentido:
Casa no casars se casas casars no casars e casas
casando
D. Benedita ficou aterrada, sem poder, mexer-se; mas ainda teve a
fora de poder perguntar figura quem era. A figura achou um
princpio de riso, mas perdeu-o logo; depois respondeu que era a
fada que presidira ao nascimento de D. Benedita: Meu nome Ve-
leidade, concluiu; e, com um suspiro, dispersou-se na noite e no si-
lncio.
Pelo trecho acima transcrito, pode-se notar que a veleidade
acompanha D. Benedita desde o seu nascimento. possvel refletir
com isto que talvez essa passividade ocasionada pela veleidade acon-
tea devido ao fato das mulheres nesse perodo histrico no ocupa-
rem-se com tomadas de deciso, cabendo ao marido a responsabilida-
de desse ato.
No conto Captulo dos chapus temos a ironia presente no
momento em que Mariana tenta buscar uma mudana no modo que
seu relacionamento matrimonial est constitudo. Ela almeja por algo
diferente, em busca de sua liberdade para agir e tomar decises por
conta prpria. No entanto, ao conseguir vivenciar tal experincia, a
personagem se sente aturdida e confusa em meio ao que lhe diferen-
te. Desse modo, ela busca retornar a sua existncia tal como era antes.
Ao chegar em casa, ela contempla todas as coisas, nos seus devidos
lugares, que lhe transmitem a sensao de ordem:
Chegou finalmente; entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu
mundo; menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar.
Joo, bota este vaso onde estava antes, disse ela.
Tudo o mais estava em ordem, a sala de entrada, a de visitas, a de
jantar, os seus quartos, tudo. Mariana sentou-se primeiro, em dife-
rentes lugares, olhando bem para todas as coisas, to quietas e or-
denadas. Depois de uma manh inteira de perturbao e variedade,
a monotonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu to de-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
463
liciosa. Na verdade, fizera mal Quis recapitular os sucessos e no
pde; a alma espreguiava-se toda naquela uniformidade caseira.
Pela anlise do trecho acima pode-se constatar que talvez seja
melhor para a mulher ater-se aos seus compromissos domsticos, rea-
lizando com responsabilidade suas atividades concernentes a vida do
interior domstico, pois extrapolar os limites dessa interioridade pode
trazer um desconforto psicolgico.
5 COMENTRIOS FINAIS
Pelas informaes apresentadas nesse artigo sobre o Jornal das
Senhoras e sobre os contos D. Benedita e Captulo dos chapus de
Machado de Assis, no que diz respeito ao perfil da mulher no sculo
XIX, podemos perceber que as representaes femininas nesses mate-
riais se assemelham em alguns pontos.
No que diz respeito responsabilidade feminina do sculo XIX
em as mulheres serem boas donas de casa e esposas exemplares, en-
contramos essa representao bem explcita no Jornal das Senhoras
como pode ser visto na seo desse artigo destinada apresentao
dessa revista. Peridico que tinha por objetivo promover a emancipa-
o moral e intelectual da mulher, e que entendia que desempenhando
bem esses papis as mulheres alcanariam essa emancipao. Essa
premissa tambm pode ser observada nos dois contos de Machado de
Assis aqui trabalhados, nos quais as protagonistas representam o ideal
de boa esposa. E quando uma delas decide se tornar rebelde, acaba
por se arrepender e preferir a vida como era antes.
Por meio da anlise sobre a ironia presente nos dois contos aqui
trabalhados podemos traar um panorama entre o Jornal das Senho-
ras, D. Benedita e Captulo dos Chapus. O Jornal das Senhoras, com
o seu objetivo de emancipao moral da mulher, pretendia formar as
suas leitoras, enquanto as mulheres dos dois contos de Machado de
Assis no se deixam formar, so inapreensveis e ilgicas. Nesse aspec-
to as personagens de Machado de Assis se contrapem aos propsitos
do Jornal das Senhoras, no entanto, em relao s condies sociais da
poca, elas esto de acordo com as caractersticas das mulheres repre-
sentadas no Jornal das Senhoras.
Itiana Daniela Kroetz & Eunice Terezinha Piazza Gai
464
REFERNCIAS
JORNAL DAS SENHORAS: modas, literatura, belas-artes, teatros e crtica. Rio de
Janeiro: Typ. Parisiense, 1852-1855.
KIERKEGAARD, S. A. Sobre o conceito de ironia In: O conceito de ironia constan-
temente referido a Scrates. Petrpolis: Vozes, 2005. p. 209-280.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A leitora no banco dos rus In: A Formao
da Leitura no Brasil. So Paulo: tica, 1996. p. 235-305.
MACHADO, Ubiratan. A mulher e a vida literria In: A Vida Literria no Brasil du-
rante o Romantismo. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001. p. 255-264.
MEYER, Marlyse. Volteis e Versteis: de Variedades e Folhetins se fez a Chroni-
ca. In: As Mil Faces de um Heri Canalha e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 1998. p. 109-196.
MUECKE, D. C. A anatomia da ironia In: Ironia e o irnico. So Paulo: Perspectiva,
1995. p. 51-76.
PARKER, Mark. Introduction: the Study of Literary Magazines. In: Literary Maga-
zines and British Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. p.
1-29.
STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Ter-
ra, 1984.
TELES, Maria Amlia de A. Brasil Imprio (1822-1889). In: Breve histria do fe-
minismo no Brasil. So Paulo: Brasiliense, 1999. p. 26-36.
VASCONCELLOS, Eliane. Violante de Bivar e Velasco; Joana Paulo Manso de No-
ronha In: MUZART, Zahid Lupinacci. Escritoras brasileiras do sculo XIX. 2. ed.
rev. Florianpolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EdUnisc, 2000. p. 194-207;
228-249.
VASCONCELOS, Sandra. Formao do Romance Brasileiro: 1808-1860 (Vertentes
Inglesas). Disponvel em: <www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Sandra/san
dra.htm>. Acesso em: 23 mar. 2009.
A FIGURAO FEMININA EM O FIO DAS
MISSANGAS, DE MIA COUTO
Silvia Niederauer
1
O corao como a rvore onde quiser volta a nascer.
(Adaptao de um provrbio moambicano)
O fio das missangas Mia Couto
Em O fio das missangas (2009), Mia Couto constri um painel
acerca do universo feminino moambicano, ao dar espao a essa voz
silenciada pela opresso e autoritarismo de uma sociedade essencial-
mente patriarcal. A partir de fragmentos de vida, as personagens fe-
mininas que participam do universo diegtico dos contos As trs ir-
ms, A saia Almarrotada e Maria Pedra no cruzar dos caminhos,
aqui eleitos como corpus de anlise, do a dimenso de seu universo
de dor, solido e sofrimento.
O livro se estrutura a partir de vinte e nove contos que, unidos
por um fio invisvel, formam um adorno que se destaca por desnudar a
vida/no vida dessas mulheres que encenam seus cotidianos sem graa,
presas a ditames e convenes das quais no conseguem se desprender.
Valendo-se de uma escrita metafrica, o autor vai dando corpo a
uma construo arquitetnica e, plasticamente, desenha a subjetivi-
dade de vozes, tempos, ritmos e coincidncias que se abrem a diversos
e mltiplos significados. Por esse vis, a escrita miacoutiana prope
sentidos para a existncia humana que surge e se desvela, cada uma,
diante de suas runas e catstrofes pessoais.
1
Professora do Programa de Ps-Graduao em Letras Stricto Sensu da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses Campus de Frederico Westphalen.
Silvia Niederauer
466
A metfora percebida j no ttulo do livro, pois cada mianga
d conta de uma vida retratada; e , pela narrao, que os con-
tos/miangas vo se entrelaando ao fio, tentando dar sentido a um
existir silencioso e silenciado por vozes opressoras. A potica de re-
presentao do corpo feminino ganha flego em temticas cotidianas,
mas calcadas na realidade de marginais mulheres moambicanas. A
marginalidade pode ser lida de, pelo menos, duas maneiras. Uma de-
las, que o universo feminino, sem espao e voz, pinado por meio
de personagens simples em suas no existncias aos olhos de uma so-
ciedade patriarcal que as moldou assim; outra a questo de um pas
novo, recm liberto do jugo colonial e que tenta, de todas as formas,
livrar-se das guerras internas, a fim de apossar-se, de vez, de uma ter-
ra marcada por sangue e perdas.
O recorte feito, ento, diz respeito situao das mulheres em
de um pas perifrico, fora do eixo eurocntrico, e de uma terra mo-
ambicana que precisa resgatar sua identidade, agora to estilhaada,
restos do que sobrou de um longo perodo de castrao, amplamente
falando. As vozes silenciadas, metaforizadas pelas mulheres retrata-
das nos contos, revestem-se de interdies ideolgicas, desvelando
sua discriminao frente ao outro: A vida um colar. Eu dou o fio,
as mulheres do as missangas. So sempre tantas, as missangas
(COUTO, 2009, p. 66).
Por meio de personagens femininas, Mia Couto retrata, alm da
situao individual, a situao da sociedade moambicana, uma vez
que, ao desvelar o processo de subjugamento da mulher, outra hist-
ria surge com fora, a da histria da colonizao e, principalmente, a
do ps-colonial, desse territrio africano.
Rapidamente, e s para ilustrar, sabe-se que Moambique dei-
xou de ser colnia portuguesa em 1975 e somente na dcada de 90
do sculo XX que as guerras internas terminam e o pas tenta se de-
senvolver e abrandar a pobreza e a misria, em todos os sentidos.
Assim, os contos/miangas formam uma grande metfora de
Moambique, pois que os fragmentos de vida representados surgem,
aos olhos do leitor, como diverso e plural. Desamor, desencontro, cer-
ceamento de espaos, vidas desperdiadas e sonhos desfeitos so re-
tratados pela prosa-potica (fio!) exemplar de Mia Couto, que do con-
ta de toda sorte de problemtica de uma realidade perturbadora. Para
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
467
Jane Tutikian (2006, p. 58), em Velhas identidades novas o ps-
colonialismo e a emergncia das naes de Lngua Portuguesa:
[] o que se v a explorao de novas possibilidades lingusticas,
que terminam levando poetizao da linguagem, colaborando na
instaurao e caracterizao do universo ficcional.
Desta forma, a escrita miacoutiana traz tona conflitos que so
laivos da tradio moambicana, apontando para os espaos de inter-
dio, de silncios, entendidos aqui como metforas da falta de liber-
dade. O texto literrio, ento, firma-se no como espelho plano da rea-
lidade histrica, mas sim como espelho deformante e prismtico, fo-
cando no sujeito que se produz e se (re)inventa.
Em As trs irms, tem-se a histria de Gilda, Flornela e Evelina
que tm a caracterstica de serem filhas exclusivas e definitivas (p.
9). Mulheres cujo destino foi traado pelo pai, Rosaldo: Gilda, a rimei-
ra (p. 9), seria poetisa; Flornela, a receitista (p. 10), sempre envol-
vida com a culinria; e Evelina, a bordadeira (p. 11), que bordava
com perfeio. Tudo corria de acordo com o planejamento do pai, at
que passou por ali um formoso jovem (p. 12). A partir deste aconte-
cimento, a estrutura estabelecida comea a ruir e, segundo Rosaldo,
seria preciso cortar o mal e a raiz (p. 12), para que a ordem voltasse
a reinar absoluta naquele enclausuramento a que as moas estavam
destinadas. Como filhas criadas em total isolamento, com o protecio-
nismo do pai levado ao extremo, a chegada de um estranho tremeu a
agulha de Evelina, queimou-se o guisado de Flornela, desrimou-se o
corao de Gilda (p. 12). Com o universo familiar em desordem, era
necessrio agir com rapidez.
, ento, que o narrador, como quem contempla um quadro que
reflete a monotonia desses perfis femininos, dentro de seu silncio e
castrao, revela-nos um desfecho simblico: os dois homens se bei-
jaram, terna e eternamente (p. 12-13). Essa simbologia pode ser re-
veladora da tamanha interdio a que esse universo feminino se sujei-
ta, a ponto de parecer no haver barreiras, ou impedimentos, social-
mente convencionados entre os sexos, pois que finda a vida daqueles
que poderiam gerar ou promover a vida para aquelas mulheres.
A saia almarrotada reveladora de uma morte em vida. Tema-
tizando a opresso feminina, o conto apresenta a mida, a mulher
Silvia Niederauer
468
no nomeada que nascera para cozinha, pano e pranto. Ensinaram-
me tanta vergonha em sentir prazer, que acabei sentindo prazer em
ter vergonha (p. 29). Morta a me que nunca dissera seu nome, le-
gando-lhe, apenas, a sua inexistncia que a acompanhou a vida inteira,
a mida foi criada para cuidar do pai e a negar sua frgil condio fe-
minina.
Ao ganhar do tio, secretamente, uma saia, o pai ordena que V
l fora e pegue fogo nesse vestido! (p. 32). Entretanto, em gesto de re-
beldia, ela enterra a saia e ateia fogo em si prpria. Incendiada, mas
socorrida pelos irmos, a mida sonha/espera por um homem que lhe
d permisso para viver o que nunca viveu. Mesmo depois da morte
do pai, sua voz que ela ainda escuta e obedece, o que refora a ideia
de que sua existncia e identidade esto condicionadas figura mas-
culina:
Chega-me ainda a voz de meu velho pai como se ele estivesse vivo.
Era essa voz que fazia Deus existir. Que me ordenava que ficasse feia,
desviosa a vida inteira. Eu acreditava que nada era mais antigo que
meu pai. Sempre ceguei em obedincia []. (p. 31 grifo meu)
A onipotncia do pai (Deus) a faz cegar e revelar seu aniquila-
mento social; nem mesmo o fogo, smbolo da possibilidade de fuga do
espao de clausura e seu oposto, como elemento de destruio, ca-
paz de fazer essa mulher amainar a culpa que pensa ser dela. a saia o
objeto que far com que, ao ser desenterrado e, finalmente, incendia-
do, seja o desencadeador de uma reao na personagem: a dvida: al-
gum homem me visse, a lgrima tombando com o vestido sobre as
chamas, depois de tudo, ainda teimava? (p. 32)
J em Maria Pedra no cruzar dos caminhos, tem-se a interdio
de duas mulheres, me e filha, que no tm trnsito prprio. Maria
Pedra, num ato de loucura (?) foi a correr para o cruzar dos cami-
nhos, na encosta da Cho Oco, e ali se deitou, saia levantada espera
que algum macho a encontrasse. Era 27 de Dezembro, ela tinha 22
anos e era virgem (p. 85). Nove meses se passaram, a me garantiu
que a filha, depois desse desatino, continuava virgem; entretanto, o
ventre da me que engordara, fruto das preocupaes que a filha lhe
trouxera (p. 87). Maria Pedra, ao cumprir-se o ltimo dia de Setem-
bro (p. 86), avolumou uns panos em forma de trouxa na sua barriga e
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
469
voltou ao cruzar dos caminhos. Sua me vai ao seu encontro e quan-
do o desfecho surpreende:
[...] j sangue escorria pelas pernas da me. Foi quando se descorti-
nou, por entre o emaranhado das roupas, o corpo de um menino,
recm-nato. E o choro inaugural de um novo habitante. []. Esse fi-
lho seu, Maria Pedra! Sossegue, me. Eu digo que meu. (p. 88)
Ambas as mulheres sofrem com a opresso do pai, bbado e in-
vlido, pois vive numa cadeira de rodas e o que mais faz beber. As-
sim, mesmo tendo o poder por ser o homem da casa, ele prprio sofre
com sua estrutura, que parece ser intil.
O nome Maria da Pedra aponta para duas leituras possveis: Ma-
ria nome comum, revelador de uma no histria; Pedra remete a um
obstculo, elemento de interdio. Mesmo sem uma histria prpria,
Maria Pedra ter uma a partir da rebeldia da me, que est grvida de
outro homem que no o seu marido. Essas vozes, mesmo silenciadas,
traduzem a conscincia crtica do espao que ocupam e no qual esto
inseridas.
As mulheres podem ser vistas como sujeitos-vtimas do processo
de excluso a que esto submetidas, e os contos aqui referidos so
exemplares dessa situao. Fincadas nas margens sociais, elas ocupam
voz e lugar de destaque nas narrativas que compem O fio das missan-
gas. A sintonia que se estabelece entre sujeito/espacialidade ganha rele-
vo ao trazer tona o cotidiano perifrico, os conflitos familiares, a soli-
do, a violncia em todos os sentidos. Aparentemente marginais, as mu-
lheres surgem como elemento central das narrativas aqui apresentadas.
A ressignificao do status feminino construda por procedi-
mentos estratgicos de objetos que fazem o cotidiano dessas vidas
simples: os afazeres domsticos em As trs irms, a saia em A saia
almarrotada; em Maria Pedra no cruzar dos caminhos apresenta a
interdio em seu nome: a pedra obstculo para ambas as mulheres:
uma por no uma histria prpria, a outra por necessitar esconder a
sua. No aparente silncio das vozes femininas percebe-se a metfora
erigida por Mia Couto.
Segundo Isabel Allegro de Magalhes (1987, p. 96), em O tempo
das mulheres, metfora ser, diz Wittgenstein, um ver como; funcio-
na no domnio do no-dito, do apenas sugerido, da deslocao descon-
Silvia Niederauer
470
tnua do significado. s mulheres, ento, cabe a luta que, mesmo si-
lenciosa, abre espao em um lugar que se faz surdo as suas vozes. Com
isso, elas passam a significar, a ocupar um lugar, a manifestarem-se.
A estratgia narrativa de representar justamente os que so
marginalizados, que vivem em uma espcie de gueto, pois que so v-
timas de processos discriminatrios e excludentes, permite o revelar-
se de uma fora histrica importante: a problemtica das questes co-
loniais, apontando para suas contradies a partir da fala/escrita s
margens da histria. E aqui que se inserem as questes de gnero,
tambm. Se Moambique, para alm da colonizao portuguesa, sofreu
forte influncia rabe, natural que s mulheres no seja dado o espa-
o merecido. Assim, os contos que engendram esse fio invisvel tor-
nam visveis algumas questes prementes, tais como: o papel das mu-
lheres em uma sociedade de estrutura patriarcal e questes identit-
rias que perpassam o processo de colonizao e ps-colonizao: da
as sequncias e imagens problematizadoras, expondo as contradies
a partir de uma escrita s margens da histria, segundo Tutikian
(2006, p. 85).
Em um texto de impressionante densidade potica e rigor no
trato com a linguagem, aliando a lngua do colonizador s influncias
das lnguas nativas, Mia Couto estabelece um jogo prismtico de vozes
quelas silenciadas ganham espao e relevo por meio dos jogos das
vrias subjetividades femininas:
, a que Mia Couto deposita o seu grande projeto literrio, o proje-
to de moambicanidade, o desvendamento da identidade de um pa-
s esquecido de si devido aos mecanismos impostos pelo curso da
Histria, pelo colonialismo, pela primeira e segunda guerras coloni-
ais, a tentativa de despert-lo do desatento abandono de si.
(TUTIKIAN, 2006, p. 60)
H uma inclinao quase visceral em olhar para dentro de si, no
intuito de, ao interiorizar-se, mapear o que acontece l fora, no micro-
cosmo no qual essas mulheres esto inseridas, como representativo
do universo moambicano. Assim, ao no abandonar as questes da
condio feminina, portanto, de gnero, o autor faz crescer essas vo-
zes silenciadas que so reveladoras da opresso imposta por uma or-
ganizao masculina. A voz/mulher dessacraliza os acervos culturais
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
471
aos quais est presa, na tentativa de, mesmo que sem sucesso imedia-
to, libertarem-se e serem respeitadas.
REFERNCIAS
COUTO, Mia. O fio das missangas. So Paulo: Companhia das Letras, 2009.
MAGALHES, Isabel Allegro de. O tempo das mulheres a dimenso temporal
na escrita feminina contempornea. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda,
1987.
TUTIKIAN, Jane. Velhas identidades novas o ps-colonialismo e a emergncia
das naes de lngua portuguesa. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2006.
IDENTIDADE DO SUJEITO ANGOLANO NA
NARRATIVA DE CASTRO SOROMENHO
Ana Paula Teixeira Porto
1
Esse negro que por a anda com ar de medo, como a raiz de uma
terra queimada. Sob a humildade, a resignao, o medo, ele vive
com desespero e dio. Para a sua vida o colonialismo como uma
queimada, uma chaga, mas eles so as razes vivas dentro desta ter-
ra queimada. (A chaga)
Castro Soromenho autor nascido em Moambique, mas de vi-
vncia em Angola desde cedo e de trabalho profissional em cargos p-
blicos da administrao angolana, o que lhe permite amplo conheci-
mento da realidade contextual do pas onde se fixou para composio
de sua obra, pois, conforme Vale (2004, p. 113), as experincias do
autor, evocadas daquele mundo infeliz, transformam-se em matria
literria, que delineia imagens de terras calcinadas. Na sua extensa
obra literria, que contempla contos e romances, Castro Soromenho
endossa, com a sua literatura, a causa africana (CECHIN, 1985, p. 49-
50), incluindo a configurao do sujeito negro africano e do portugus
branco colonizador que so protagonistas de romances como A chaga,
de 1970. As diversas configuraes do sujeito e sua identidade na obra
do escritor so marcadas pelo cenrio de violncia e opresso que dia-
loga com a histria de colonizao lusfona dos pases africanos.
Considerando o contexto da produo literria africana de ex-
presso portuguesa, este estudo apresenta algumas reflexes sobre a
identidade do sujeito angolano representado no romance A Chaga, de
Castro Soromenho, o qual se insere na Trilogia de Camaxilo
2
junta-
1
Doutora em Letras e ps-doutoranda em Literatura Africana Lusfona da UFRGS. E-
mail: anapaula-porto@bol.com.br
2
Camaxilo, uma localidade de Angola, o espao onde ocorrem as cenas representadas
nos trs romances de Castro Soromenho. Para Silva (2008, p. 7), a caracterizao des-
Ana Paula Teixeira Porto
474
mente com os romances Viragem (1957) e Terra Morta (1949). Essa
trilogia, conforme Silva (2008, p. 4), representa a sociedade colonial,
na qual o colonizador europeu e o nativo africano vivem na mesma
terra, mas com fronteiras fortemente demarcadas [] basicamente
pela cor da pele, o que gera conflitos culturais que refletiro na iden-
tidade dos envolvidos na sociedade colonial. Essas obras, na viso de
Dutra ([s. d.], p. 5), so escritas sob o signo da runa representada pe-
lo sistema colonial e a primeira manifestao de cunho nitidamente
realista-naturalista, o que confere a Castro Soromenho uma posio
de destaque na narrativa angolana de expresso portuguesa.
As trs obras so uma forma de denncia do regime imperialista
europeu implantado em Angola marcado por aes de violncia e tra-
balho escravo a que os negros so submetidos, assim como da opres-
so vivida pelos africanos no pas e da inferiorizao atribuda a eles,
como se exemplifica no excerto a seguir de A chaga, em que se repro-
duz o discurso do portugus ao negro:
Os pretos eram como crianas, crianas grandes, est claro, mas
madraos. preciso estar sempre em cima deles, obrig-los a traba-
lhar. uma raa inferior. Os que vivem nas cidades so atrevidotes,
mas os do interior, depois de a gente os domesticar, at chegam a
ser bons trabalhadores. Mas todos so ladres e bbados. So to
bbados que o governo da colnia proibiu a venda de bebidas al-
colicas. Est claro, todos vendem. (SOROMENHO, 1979, p. 11)
Se de um lado a trilogia de Castro Soromenho expe a violncia
imposta ao negro africano e as agruras do processo de colonizao,
por outro tambm oportuniza a representao da crise identitria do
homem portugus que, objetivando impor sua cultura na terra africa-
na, sente-se um sujeito perdido em uma terra estranha que nem sem-
pre traz a fortuna que esperava encontrar e com a qual no se identifi-
ca. Os colonizadores retratados nos livros do escritor so sujeitos que
se espao uma forma de estabelecer um dilogo com a Histria do pas: Como pode
ser observado na histria de Portugal com as suas colnias africanas, sempre foi muito
forte o interesse pela mo de obra do povo negro, especialmente em Angola que teve
um grande volume de pessoas sendo vendidas como escravos. No encontrado, no s-
culo XVI, o ouro desejado nas colnias africanas, ficou estabelecido o negro como a
principal mercadoria a ser explorada. Desde ento, a explorao humana firma a tra-
dio da relao portuguesa com Angola at o recente sculo XX, quando Castro Soro-
menho retrata em tom de denncia as formas de dominao estabelecidas pelo colo-
nialismo portugus.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
475
tambm vivem certa degradao relacionada ao conviver com tribos
no civilizadas e com costumes distintos aos dos europeus e ainda
ao ter como nica opo de vida o pas angolano, onde vo encerrar
suas vidas:
Paralelamente destruio da gente africana, ocorre a degradao
do portugus, debilitado por ter que se submeter s adversidades
circunstanciais no serto da colnia, bem como pela perda do sen-
tido de vida, que o leva ao aviltamento da alma. (VALE, 2004, p.
114)
No romance, o saldo da experincia dos colonizadores est atre-
lado a algo que negativo, pois, mesmo tendo muitas terras obtidas
dos africanos, no tm a mesma liberdade de viajar como tinham em
Portugal e no tm comrcio para fazer ganhos. Logo, a vida dos por-
tugueses em Angola uma vida com limitaes, tal qual a dos negros,
como afirma Z Paulino: Vivemos praqui como negros, comendo pi-
ro com eles. Foi o que a gente ganhou (SOROMENHO, 1979, p. 138).
O dilogo entre os portugueses Z Paulino e Loureno acerca dos re-
sultados de suas aes em Angola ilustra o processo de aquisio de
terras, que passam a ser de posse portuguesa, no entanto no trazem
enriquecimento depois de tomado todo o imprio dos africanos:
Pois, pois. O qu que a gente ganhou com isso? Ficamos todos de
tanga. Ganhamos as guerras, sim senhor, toda esta terra nossa, ca-
ramba!, Mas fizeram logo as fronteiras e criaram a zona dos dia-
mantes, grande como uma nao, e puseram-nos l de fora. Pra gen-
te tudo ficou mais pequeno. [] Ficamos com o dio do gentio por
causa dessas guerras. Nunca mais houve amizade entre brancos e
pretos. Essa negralhada nos odeia. Antes das guerras pagvamos o
imposto aos sobas, mas viajvamos por onde queramos com o nos-
so comrcio.
Mas a terra no era nossa.
O que que tu fazes com a terra, Loureno? O comrcio que in-
teressa. Depois passamos a pagar a contribuio ao Estado e nunca
mais pudemos dar um passo sem autorizao, por causa dessas
fronteiras. Na zona que a gente nunca mais ps os ps. Ora a est
o que o colono ganhou com as guerras pro tal imprio que a gente
fez, como eles dizem. (SOROMENHO, 1979, p. 138)
Ana Paula Teixeira Porto
476
A chaga representa esse processo histrico por meio de uma lin-
guagem objetiva, com diversas descries sobre ambientes, perfis e
aspiraes de seus sujeitos, e pela presena de dilogos entre perso-
nagens negros e brancos mediados pelo narrador em terceira pessoa
que se ocupa em construir uma esttica neorrealista acerca dos confli-
tos entre o europeu e o autctone. As identidades desses sujeitos mos-
tram-se distintas e duais, como a do colono Loureno, que se ocupa em
vigiar os habitantes do povoado de Camaxilo, agindo com violncia
quando o africano o ameaa, e visto pelo negro angolano Gunga co-
mo um Branco ladro (SOROMENHO, 1979, p. 2) por ter roubado
sua mulher e sua terra. Loureno tambm descrito pelo narrador
como aquele sujeito branco que tem apreo pela mulher negra africa-
na e pelos seus atributos fsicos
3
. Ao expor a revolta de Gunga pelas
suas perdas, o narrador relata que Gunga depois de cumprido o casti-
go, encontrou a sua lavra da beira do rio ocupada pelo colono Loureno.
Tomara-lhe a mulher e a terra, mas mandara-lhe entregar o milho e as
abboras que nela encontrara (SOROMENHO, 1979, p. 3). A narrativa
constri, ento, a identidade do colono africano como a de um sujeito
explorador e violento que age contra o africano para domin-lo e para
se apropriar de tudo que o pas possa lhe render.
Enquanto o branco europeu descrito como aquele que tira para
si o que de propriedade do africano, tem-se a referncia a este como
um sujeito que vive com rancor e dor pelas perdas, como destacado
pelo narrador ao se referir a Gunga, o homem que perdeu a mulher
para Loureno e que, ao reclamar quando bbado ao colono, recebeu
violncia dos serviais de Loureno e um castigo (trabalhar noites e
noites como sentinela no Comando Militar):
O negro vive naquele rancor, no pela mulher, que nem talvez j
fosse saudade na sua vida, mas pelas conseqncias do acto de a
perder, origem da perseguio de que fora vtima e que ele atribua
a maquinaes do colono e do sargento Ferreira, comandante de
sua companhia. (SOROMENHO, 1979, p. 2)
3
Os encantos dos brancos pelas mulheres negras so ressaltados no romance. Outro
personagem, Z Paulino, expe que, com as africanas, teve vrios filhos e que elas des-
pertam seu interesse, algo que assinala tambm o processo de mestiagem: Onde um
portugus chega nasce um mulato. por isso todos dizem que somos os maiores colo-
nizadores do mundo. Enchi muita barriga por estes sertes, do Quimbundo ao rabo da
Catanga. At plantei um filho na barriga de uma baluba. Que mulheraa! De se lhe tirar
o chapu, catano! Rabiosa com no conheci outra. (SOROMENHO, 1979, p. 136)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
477
As referncias ao narrador, quando trata dos personagens ango-
lanos e dos europeus brancos, so distintas: o narrador aponta o bran-
co como sujeito que persegue, violenta e rouba, procurando retirar da
comunidade africana tudo que lhe possa ser til e promissor e viti-
mando a comunidade angolana de diversas formas (tanto poltica e
econmica quanto pessoal). Os brancos se veem como superiores e
alvo da admirao da Europa pelo fato de colonizarem a terra africa-
na: No temos nada que aprender com os outros. Em matria de co-
lonizao damos lies, somos mestres (SOROMENHO, 1979, p. 98);
At os ingleses reconhecem a nossa superioridade (SOROMENHO,
1979, p. 98). Conforme Yahn (2010, p. 245), em A chaga, h
[...] o retrato do europeu, mais especificamente do portugus, como
o aventureiro que enxerga na frica a possibilidade de enriquecer
facilmente. este homem, filho da misria e da fome, sado de al-
guma aldeia esquecida nos confins de Portugal, que ir construir
toda uma trajetria de colonialismo e explorao em solo africano.
Assim, surge no seio da floresta africana o conflito primordial entre
o europeu e o autctone.
O romance dessa forma traz a viso que o europeu tinha acerca
do africano, visto com um sujeito inferior que deveria ser aculturado e
dominado pela cultura europeia de forma a realizar os projetos do
homem europeu: Eu concordo que se obrigue os negros a trabalhar.
So mandries e no tm hbitos de trabalho. S com enxada e picareta
nas mos que se pode civilizar esta malta (SOROMENHO, 1979, p. 13).
Alm disso, o texto retrata que os angolanos eram tratados como mer-
cadoria, objeto para venda: Trs contos por cabea (SOROMENHO,
1979, p. 13); Trinta e um matutos por trs contos cada cabea
(SOROMENHO, 1979, p. 14); Largou na Administrao os vinte ango-
lares de soba e meteram-lhe uma enxada nas unhas (SOROMENHO,
1979, p. 14).
O olhar pejorativo, discriminatrio e racista do europeu ao ne-
gro africano passa a ser motivao para a violncia imposta aos colo-
nizados, como se estes merecessem um tratamento desumano por no
terem a cor da pele como a do portugus europeu e fossem ento o
alvo predileto do poder autoritrio do governo ditatorial:
Esta ideologia da raa inferior ir justificar o tratamento desumano
reservado aos negros, obrigados a trabalhar nas minas do governo,
Ana Paula Teixeira Porto
478
nas fazendas e nas fbricas de algodo e caf. Sua explorao e es-
cravizao iro ser tomadas como medidas civilizatrias, como atos
mais que usuais do governo portugus e de seus representantes.
(YAHN, 2010, p. 246)
O enredo, assim, ao situar-se no contexto colonial, representa as
adversidades enfrentadas pelos sujeitos de Angola em construir uma
nao e uma identidade prpria com perspectivas e valores culturais
africanos e ainda narra a violncia e a ditadura imposta aos angolanos
pelos portugueses exploradores. esta uma forma de denncia das
atrocidades cometidas pelo colonizador, como aponta Yahn (2010, p.
245):
Portanto, no livro A Chaga, o que temos a representao do negro
a partir das ideologias europeias, especialmente o fascismo salaza-
rista e o paternalismo do imprio portugus. No entanto, h que se
levar em conta, que se tais expresses da mentalidade europeia
surgem nas linhas do livro, elas o fazem enquanto uma forma de
denncia do colonialismo portugus e no como sua apologia.
O jogo estabelecido entre o branco europeu e o negro angolano,
alm de acentuar o processo violento de aculturao e colonizao de
Angola, colabora para acentuar uma crise de identidade do negro. Es-
te, sendo impedido de manter sua cultura, que passa a ser subjugada
por outra, tem o desejo de continuar suas tradies e obedecer a suas
crenas, mas ao mesmo tempo, para se civilizar, precisa aceitar os
costumes e regras europeias. Dessa forma, a identidade do negro j
no mais uma unidade, fragmenta-se, bipolarizando a identidade do
eu. Nesse sentido, o romance apresenta cenas que colocam em relevo
criaturas desenraizadas, perdidas em seu universo, devido s condi-
es degradantes do sistema que as subjuga e as impossibilita de vis-
lumbrar qualquer sada dessa vida estagnada e sem perspectivas
(VALE, 2004, p. 121).
As identidades dos africanos, nesse contexto, tornam-se hbridas
e deslocadas de um vnculo local porque os sujeitos j no agem e se
comportam de acordo com suas tradies, violentamente so levados a
cumprir os ritos e a exercer os valores e ideais do colonizador. Logo, a
identidade do africano torna-se fragmentada e hbrida. um movimen-
to comum para o sujeito na ps-modernidade segundo a perspectiva de
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
479
Hall (1998), que acredita que nesse contexto a identidade baseada na
ideia de unidade j no mais possvel. Para o autor, as velhas identi-
dades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, esto em de-
clnio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivduo
moderno, at aqui visto como sujeito unificado. (HALL, 1998, p.7). Esse
hibridismo que define o angolano, por sua vez, acarreta uma crise que
remete ao questionamento: que angolano esse? Certamente aquele
que incorporou a duras custas a viso eurocntrica do colonizador e,
portanto, j no mantm os valores culturais dos autctones.
Assim, a narrativa de Castro Soromenho, que se insere no que
Mata (2001) chama de romances da colonizao por focalizar os
personagens nesse contexto, chama a ateno para a emergncia de
identidades angolanas em crise, identidades que sinalizam processos
culturais, sociais e histricos conflitantes. Isso porque o conflito do
africano com o europeu resulta, como representa o romance, em mu-
dana estrutural que altera o modus operandi de vida do angolano.
Dessa forma, a identidade do sujeito africano contempla vrias identi-
dades: a do africano nato com a do branco europeu, processo que re-
mete ao que Hall (1998) prope quanto constituio identitria:
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada
e estvel, est se tornando fragmentado; composto no de uma ni-
ca, mas de vrias identidades, algumas vezes contraditrias e no
resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que compunham
as paisagens sociais l fora e que asseguravam nossa conformida-
de subjetiva com as necessidades objetivas da cultura, esto en-
trando em colapso, como resultado de mudanas estruturais e insti-
tucionais. O prprio processo de identificao, atravs do qual nos
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provi-
srio, varivel e problemtico. (HALL, 1998, p. 12)
A fragmentao da identidade do sujeito negro africano tambm
perceptvel na configurao do branco europeu que coloniza Angola,
pois ele tambm j no dispe de uma identidade unificada e estvel:
ao interagir com o sistema africano e com seus representantes, j no
consegue manter sua identidade, adqua-se, portanto, a necessidades
objetivas da cultura em que se insere, e dela tambm, do nativo e do
colonizar, o romance de Castro Soromenho faz uma leitura pertinente
do processo de colonizao em Angola (que poderia ser estendido pa-
ra os demais pases africanos colonizados pelos europeus). A obra traz
Ana Paula Teixeira Porto
480
tona projees identitrias em crise e, portanto, problemticas. Essa
representao ento prope que o processo de colonizao do pas
ocorreu com diversos conflitos que vo alm dos atos de violncia do
branco com o negro, e tambm com surgimento de uma crise de iden-
tidade dos sujeitos que pode se associar dificuldade de Angola cons-
tituir-se como uma nao.
REFERNCIAS
CECHIN, Lcia. Ensaios angolanos: poesia e conto. Porto Alegre, 1985.
DUTRA, Robson. O naturalismo e sua representao nas literaturas africanas de
lngua portuguesa. Disponvel em: <http://www.letras.ufrj.br/neolatinas/media/
publicacoes/cadernos/a4ne/robsondutra.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2013.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Ps-Modernidade. 6. ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 1998.
JAHN, Livia Petry. A chaga: a representao do negro na obra de Castro Sorome-
nho. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 14, n. 2, p. 245-247, jul./dez. 2010. Disponvel em:
<http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/04/22-A-chaga.pdf>. Acesso em:
25 jul. 2013.
MATA, Inocncia. Literatura angolana: silncios e falas de uma voz inquieta. Lis-
boa: Mar Alm, 2001.
SILVA, Felipe Diego da. Trilogia do Camaxilo: iluses identitrias em uma terra
morta. 2008. 40f. Monografia (Curso de Letras Universidade Federal do Rio
Grade do Sul. Porto Alegre, 2008. Disponvel em: <http://www.lume.ufrgs.br/
bitstream/handle/10183/16985/000687074.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2013.
SOROMENHO, Castro. A chaga. 2. ed. Lisboa: S da Costa, 1979.
VALE, Regina Clia Fortuna do. Poder colonial e literatura: as veredas da coloni-
zao portuguesa na fico de Castro Soromenho e Orlando Cosa. 2004. 303f.
Tese (Doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de Lngua Portuguesa)
- Universidade de So Paulo. So Paulo, 2004.
A FORMAO DA IDENTIDADE INDGENA EM
METADE CARA, METADE MSCARA,
DE ELIANE POTIGUARA
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
1
Identidade no poderia ter outra forma do que a narrativa, pois de-
finir-se , em ltima anlise, narrar. Uma coletividade ou um indiv-
duo se definiria, portanto, atravs de histrias que ela narra a si
mesma sobre si mesma e, dessas narrativas, poder-se-ia extrair a
prpria essncia da definio implcita na qual esta coletividade se
encontra.
2
A reflexo sobre as identidades se faz importante atualmente em
razo do declnio daquelas velhas identidades e do surgimento de
outras em funo das transformaes sociais, culturais, econmicas,
polticas e tecnolgicas pelas quais o mundo passa, fragmentando o
indivduo (HALL, 2005, p. 7). Segundo os pressupostos tericos do au-
tor, essas transformaes esto deslocando as estruturas e os proces-
sos centrais das sociedades e gerando uma crise de identidades
(HALL, 2006, p. 7), que seria uma caracterstica da ps-modernidade
ou da modernidade tardia. A transformao das sociedades modernas
est gerando a fragmentao das paisagens culturais de classe, gne-
ro, sexualidade, etnia, raa e nacionalidade e a mudana das identida-
des pessoais, abalando a ideia que temos de ns prprios como sujei-
tos integrados (HALL, 2005, p. 9).
Conforme Hall (2005), no existe uma definio exata para a pa-
lavra identidade, j que o prprio conceito, segundo o autor, : dema-
1
Aluna do curso de Ps-Graduao: Mestrado em Letras Literatura Comparada Uni-
versidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Misses (URI) Frederico Westpha-
len /RS. E-mail: ritacassiaverdi@yahoo.com.br
2
RICOEUR, Paul. Temps et rcit. Paris: Seuil, 1985, p. 432. Apud BERND, Zil. Literatura
e Identidade Nacional. 2. Ed. Porto Alegre: Editora da UFRG, 2003. p. 19.
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
482
siadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco com-
preendido (HALL, 2005, p. 8). Para melhor compreenso da definio
do conceito de identidade, Hall (2005) distingue trs concepes do
termo. A primeira discorre sobre as concepes de identidade do su-
jeito do Iluminismo. Nesse perodo, a pessoa humana adquiria o status
de ser centrada, unificada, munida de razo, conscincia e ao. Ela
era dotada de um ncleo interior, que a acompanhava desde o nasci-
mento, seguindo o desenvolvimento do sujeito. Segundo essa viso, o
ser permanecia o mesmo ao longo de sua existncia.
A segunda concepo distinguida por Hall se refere identidade
do sujeito sociolgico, que surge como um reflexo do mundo moderno
e toda sua complexidade. Segundo esta definio, a identidade era
constituda pela relao do sujeito com outras pessoas prximas. Por
meio dessas relaes, seus conceitos, valores e smbolos eram media-
dos. Identificamos nesta concepo uma relao entre a esfera pessoal
e a pblica, pois nas nossas relaes sociais que projetamos nosso eu.
No perodo do sujeito ps-moderno, a terceira concepo de
identidade definida por Hall (2005), no se admite uma identidade
nica e imutvel. Aqui ela vista como uma celebrao mvel que se
forma e se transforma incessantemente conforme interagimos com os
sistemas culturais dos quais fazemos parte. Percebemos, baseando-se
nas reflexes do filsofo Stuart Hall, que o mais coerente no seria fa-
lar de identidade, mas de identidades, levando em conta que a ideia de
uma identidade plena, permanente e fixa um conceito utpico, um
objetivo inalcanvel.
A ps-modernidade marcada por mudanas significativas que
assinalam o desenvolvimento de novas identidades, as quais surgem
do pertencimento a raas, lnguas e, acima de tudo, naes. Nesse con-
texto, as classes chamadas de minoritrias, tais como os ndios, mu-
lheres, mestios etc., ganham voz e, por meio de seus discursos, con-
trapem suas imagens aos modelos estticos existentes na socieda-
de vigente. sob esse vis que buscamos discutir a literatura indgena
de Eliane Potiguara na cena literria do Brasil. A introduo de obras
literrias indgenas no espao de leitura dos no ndios traz alguns
questionamentos e discusses acerca das identidades indgenas volta-
das para a desconstruo e reconstruo de fatos histricos liter-
rios e formao da imagem do ndio real.
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
483
Para pensarmos melhor a questo das identidades indgenas,
ressaltamos o carter relacional das identidades e o fenmeno da exal-
tao da diferena. De acordo com Woodward (2000, p. 9), a identida-
de depende de outra para existir: de uma identidade que ela no [...]
mas que, entretanto fornece as condies para que ela exista [...] a
identidade , assim, marcada pela diferena. Contudo, sabemos que a
marcao da diferena gera problemas: envolve a negao de que no
existem quaisquer similaridades entre os grupos. Por exemplo, dentro
de nosso contexto, o indivduo, ao se identificar como ndio, distin-
gue-se do no ndio, ainda que ambos sejam brasileiros. Assim, a dife-
rena sustentada pela excluso, constituindo os ndios no como
brasileiros e sim como estranhos e como outros. Woodward (2000)
chama esse fato de mesmidade e afirma que isto produto da expe-
rincia vivida e das coisas da vida cotidiana que possumos em co-
mum.
No que concerne ainda s identidades, as estratgias de identifi-
cao acabam sendo artifcios no contexto atual para reforar as dife-
renas com a inteno de haver o reconhecimento no mundo globali-
zado. Muitos grupos mantm traos que os definem como exticos pa-
ra terem seus produtos vendidos e suas localidades visitadas. Esses
grupos, ao fazerem isso, esto manipulando suas identidades em vista
de um nico objetivo, rebelando o seu carter relacional.
Essas atitudes reforam uma ideia de estratgia e indicam que o
sujeito provido de certa margem de manobra resultante da sua ava-
liao da situao. Entretanto, ele no plenamente livre para definir
sua identidade, porque a definio de uma ou de outra no envolve
apenas a situao social, mas tambm relaes estabelecidas entre
grupos. O aspecto relacional das identidades ainda nos permite enten-
der porque, em certos momentos, algumas identidades so afirmadas
e, em outros, negadas. relacional, uma vez que so construdas no
interior de contextos sociais que orientam o posicionamento dos su-
jeitos em relao s suas escolhas. Assim, conforme Hall (2005, p. 38),
A identidade realmente algo formado ao longo do tempo, atravs de
processos inconscientes, e no algo inato, existente na conscincia no
momento do nascimento [...] ela permanece sempre incompleta, est
sempre em processo, sempre sendo formada.
Diante disso, refletir sobre identidades tentar desvelar como
os diferentes grupos assumem certas identidades e se identificam com
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
484
elas. buscar compreender como as diferentes identidades so repre-
sentas principalmente no contexto literrio, construindo assim, por
meio dos discursos, os lugares a partir dos quais as identidades po-
dem se posicionar e a partir dos quais podem falar. Buscamos neste
trabalho analisar a obra Metade Cara, Metade Mscara, da escritora
Eliane Potiguara, a fim de avaliar de que forma os discursos sobre iden-
tidade so construdos em sua escrita e de que maneira as experin-
cias vividas e os testemunhos da existncia de seu povo se perpetuam
atravs da tradio.
Volver-se para os textos indgenas estruturados na memria
desses povos tambm pensar na condio indgena brasileira dentro
da sociedade vigente. Assim, a anlise dessa obra nos possibilita com-
preender as nuances de uma literatura que se faz instrumento de luta
de um povo.
Considerando as reflexes sobre identidades, procuramos por
meio da escrita de Potiguara investigar como a escritora apresenta o
ndio e como a imagem de seu povo passada para nossa sociedade.
Apesar de suas diferenas culturais, os grupos indgenas atuais tm se
dado conta de que compartilham a mesma histria de explorao e de
violncia de seus direitos humanos. Todavia preciso reconhecer que
num contexto de conflito, que devemos procurar entender a presen-
a indgena no Brasil de hoje, um contexto permeado por desinforma-
o, preconceito e intolerncia.
De um lado, h um incipiente movimento indgena e uma opinio
pblica favorvel a um melhor destino para os ndios. De outro, esto
os setores que veem os ndios como entraves ao progresso brasileiro,
como representantes fsseis do desenvolvimento humano (GRUPIONI,
1992). A verdade que, seguindo o pensamento de Grupioni (1992),
ainda desconhecemos a realidade indgena, sabemos muito pouco a
respeito dos ndios e de suas sociedades, suas histrias e seus modos
de vida, ainda so muitas as ideias equivocadas a eles associadas.
Observar e reconhecer como se constitui o sujeito indgena e
sua(s) identidade(s) a fim de evitar esteretipos e desinformaes a
respeito do indgena um dos objetivos deste trabalho, pois, por meio
destas observaes, analisaremos a construo da escrita de Potiguara.
Em Metade Cara, Metade Mscara, a autora se utiliza da linguagem li-
terria para promover sua comunidade, pois, ao elaborar registros
escritos de mitos, histrias e sabedoria dos antepassados, misturando
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
485
em sua narrativa relatos biogrficos, poemas e crnicas, encontra uma
oportunidade para afirmar uma contra-histria, resgatar seus costu-
mes e consolidar as lutas atuais por territrio e autonomia.
Nessas condies, a literatura de Potiguara busca defender uma
causa coletiva e afirmar as identidades e ideologias de sua comunida-
de. As literaturas construdas pelos indgenas desempenham papel
muito importante na desmistificao de outros discursos, principal-
mente nos dos no ndios, os quais, em sua maioria, tendem a ser pre-
conceituosos, equivocados e at mesmo primitivos.
Segundo Zil Bernd (2003, p. 15), essas literaturas, fortemente
voltadas para a consolidao de um projeto identitrio, em que o sujeito
emergente procura apropriar-se de um espao existencial, esto desti-
nadas a desempenhar um papel fundamental na elaborao da consci-
ncia nacional. Neste contexto, a literatura assume valores e funes
de acordo com o modo com que o ser humano se posiciona ou se encon-
tra no meio em que ocupa, assim como as relaes de poder que ele
exerce nesse meio. Um posicionamento de autoafirmao identitria
transposta pela literatura acaba construindo um discurso calcado no
desaparecimento do eu individual em prol de um ns coletivo, pro-
cesso que veremos na produo literria de Eliane Potiguara.
Para Bernd (2003, p. 15), isso ocorre porque essas literaturas de
grupos minoritrios, a exemplo de negros, mulatos, indgenas, mulhe-
res, homossexuais, funcionam como elemento que vem preencher os
vazios da memria coletiva e fornecer os pontos de ancoramento do
sentimento de identidade, essencial ao ato de autoafirmao das co-
munidades ameaadas pelo rolo compressor da assimilao.
Pensamos, nesse sentido, que a construo identitria de um su-
jeito coletivo est imbricada pelo processo de alteridade, vemos o ou-
tro, no mais como espelho, aquele com o qual nos identificvamos
(conjunto de similaridades), mas sim como nosso oposto, visando ao
conjunto das diferenas.
Tais conceitos podem ser identificados, segundo Bernd (2003, p.
22), nos textos inaugurais sobre as Amricas, escritos pelos primeiros
viajantes e colonizadores, que possuam uma caracterstica comum:
negar uma identidade aos autctones (mais tarde chamados de n-
dios), insistindo na negatividade, na carncia e cunhando, de certa
forma, uma matriz identitria marcada pela falta e pela privao.
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
486
Como podemos observar, a identidade indgena desde os tempos
dos colonizadores marcada por uma viso etnocntrica construda
imagem e semelhana dos dominadores, que esbarravam no estra-
nhamento, na quase irrepresentabilidade do outro (ndio ou autcto-
ne). Bernd comenta, em seu livro Literatura e identidade nacional
(2003), que, frequentemente, para descrever os ndios, os europeus
utilizavam expresses de negatividade: eles eram gentes desprovida
de tudo; eles andam nus; eles no tm armas nem as conhecem; eles
no tm ferro; no pertencem a nenhuma seita (COLOMBO, 1991, p.
61 e 100, apud BERND, 2003, p. 22).
Conforme Bernd, alm da viso negativa de Colombo classifica-
o dos indgenas, era estabelecida tambm em relao a uma falta: fal-
ta de evangelizao, de civilizao, de bens, revelando e negando ao
mesmo tempo sua alteridade (BERND, 2003, p. 23). Pero Vaz de Cami-
nha empregava igualmente a retrica da negatividade para descrever
os ndios: eles vo nus, sem nenhuma vestimenta para cobrir-lhes as
vergonhas [...] no houve mais palavras nem entendimento com eles,
pois sua barbrie tal que no se chegava a compreend-los)
(CAMINHA, 1963, p. 38, apud BERND, 2003, p. 23). Para a autora essa
viso etnocntrica que dividia o mundo entre os civilizados e brbaros
se cristalizou at nossos dias, gerando o preconceito e o racismo.
Podemos destacar, a partir dos textos fundadores da histria do
Brasil, que a posio do ndio no mudou muito em relao aos scu-
los passados, pois hoje muitos indgenas ainda permanecem subjuga-
dos, limitados s reservas, levando-os, na maioria das vezes, a torna-
rem-se dependentes da cultura branca.
Entretanto, existem vrios aspectos positivos, como o caso do
surgimento da literatura indgena de cunho do prprio ndio, em que
escritores indgenas buscam coletar, traduzir e publicar a memria
ancestral, cultural e individual, mostrando os povos nativos sociedade
no indgena num processo de respeito s diferenas. Essas produes
literrias so marcadas pela sabedoria e promovem a construo da
identidade indgena contempornea e a desconstruo do estigma e
dos preconceitos que vigoravam em torno da figura do ndio brasileiro.
Nessa perspectiva, podemos observar que os povos indgenas no
Brasil esto utilizando cada vez mais o processo de escrita e organiza-
o social, porm, sem deixarem seus costumes e crenas desaparece-
rem. A escrita surge como forma de resistncia e comea a ganhar voz
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
487
e espao junto s demais minorias excludas, representando assim um
ato de ascenso social e de integrao cultura dominante. Dos mais
de cem autores indgenas, a escritora Eliane Potiguara destaca-se no
cenrio literrio brasileiro, pois busca, por meio de suas obras, trazer
sociedade brasileira no indgena o conhecimento acerca de sua et-
nia, seus mitos e suas crenas.
Chegamos ao ponto de interseco entre nosso objeto de estudo,
que a produo literria de autoria indgena, com os aspectos da
identidade cultural que apresentamos at aqui. Assim, passamos a
abordar a literatura indgena de Eliane Potiguara, escritora indgena,
pelo seu livro Metade Cara, Metade Mscara, apresentando como os
conceitos tericos esto explcitos em sua obra, contribuindo para o
processo de formao da sua prpria identidade, ou seja, a identidade
indgena.
A escrita de Potiguara em Metade Cara, Metade Mscara mar-
cada pelo rompimento das fronteiras dos gneros textuais. Em seu li-
vro, misturam-se relatos biogrficos, poesias, crnicas e relatos de
eventos dos quais a autora participou defendendo a causa dos ndios
brasileiros. Em sua obra, Potiguara parte em busca de uma origem ou
uma essncia, de uma tradio, canhada de ancestralidade, a qual est
normalmente ligada a um passado bem distante, nos mitos de origem,
nas histrias contadas pelos seus avs. Por meio desses relatos, sua
escrita parece abrir passagem para a voz que denuncia e chama
conscincia do que ser ndio na contemporaneidade.
Daniel Munduruku, escritor indgena, discorre sobre a obra de
Potiguara tecendo um convite aos leitores para conhecerem a escrita
da autora e ouvir suas palavras permeadas de realidades, denncias,
verdades, muitas delas marcadas pela dor, pela alegria e pela esperana.
So realidades mostradas pelas singularidades das vises indgenas.
Esse o olhar indgena que sustenta o discurso de Potiguara,
pois, conforme Munduruku, sua obra foi criada para: dar possibilida-
de de externalizar o olhar indgena sobre si mesmo, sobre outros das
cincias e sobre a sociedade brasileira (MUNDURUKU, 2004, p. 16).
Para a professora e escritora indgena Graa Grana, a escrita de
Potiguara um espao de multissignificao, pois
Sugere um conjunto de vozes tecido luz do conhecimento ances-
tral, das tradies indgenas e, ao mesmo tempo, revela a estreita
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
488
relao entre mito e poesia, histria e memria, lugar e nao, iden-
tidade e alteridade [...] Neste livro Potiguara fala de amor, direitos
humanos, famlia, sexualidade, etnia, violncia, racismo, migrao
[...] Eliane Potiguara imprime um rico tratamento potico a esses
problemas. (GRANA, 2004, p. 17-18)
Grana faz referncia riqueza potica dos poemas encontrados
no livro de Potiguara, no qual a escritora no demonstra preocupao
com a tnica estrutural assim tambm como acontece em toda sua
obra, porm d mais ateno ao contedo do seu trabalho. A escritora
mistura prosa e poesia, verdade e reao, vida e voz indgenas e prin-
cipalmente a luta pela sobrevivncia.
Esses diferentes tipos de textos que constituem o livro so evi-
denciados em sete captulos permeados pela presena das persona-
gens Cunhata e Jurupiranga, casal que separado no processo de
expulso das terras e pelos desdobramentos do colonialismo e neoco-
lonialismo, fato evidenciado na primeira parte do livro sob o ttulo de:
Invaso s terras indgenas e a migrao Separao de Jurupiranga e
Cunhata/ Efeitos da colonizao famlia e mulher/Violncia, racis-
mo e intolerncia, em que Potiguara descreve as lutas e as separaes
sofridas pelas famlias indgenas e toda a violncia causada pelo colo-
nizador, que resultou no processo de migrao compulsria e, em
muitas famlias, suicdios.
Na primeira parte, Potiguara conta ao leitor a histria da ndia
Maria de Lourdes, que presenciou o assassinato de seu pai. Amarra-
ram pedras aos seus ps, introduziram um saco sua cabea e o arre-
messaram ao fundo das guas do litoral paraibano, fato este ocorrido
na segunda dcada do sculo XX. As filhas desse ndio, amedrontadas,
migraram para Pernambuco, nordeste do Brasil.
Maria de Lourdes, umas das filhas do ndio assassinado cruel-
mente, deu luz em dezembro de 1928 a pequena Elza, que nasceu
enferma e fraquinha: tanto pelas condies de vida de sua famlia
quanto por sua prpria me ter somente 12 anos, uma menina ainda
em formao, violentada sexualmente pelo colonizador (POTIGUARA,
2004, p. 24). Nas histrias narradas pela escritora, percebemos que a
causa principal dos conflitos que permeiam a identidade do ndio at
os dias de hoje comea muito antes do sculo XX, quando famlias fo-
ram separadas, homens indgenas assassinados, filhas e esposas muti-
ladas, escravizadas e violentadas pelo colonizador que levou suas ter-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
489
ras, seus bens e principalmente a sua dignidade. A partir da comeava
a ser
Formalizada a histria de muitas famlias indgenas que se separa-
ram de seu territrio tradicional e de seus parentes [...] Esse tipo de
violncia e racismo, isto , a migrao dos povos indgenas de suas
reas tradicionais est invisibilizada no pas, assim como a situao
das mulheres indgenas que sofrem abuso, assdio, violncia sexual,
que se tornam objeto de trfico nas mos de avarentos e degrada-
dos nacionais e internacionais. (POTIGUARA, 2004, p. 29)
Essa a causa, dentre vrias outras, que Eliane busca abordar
em sua obra, mostrando a dor e o sofrimento dessas famlias desalde-
adas ou desestruturadas, que, por muito tempo, permaneceram cala-
das, uma face manchada pela vergonha de sua histria, fazendo com
que, muitas vezes, o ndio fosse julgado inferior ao no ndio, pois, se-
gundo Potiguara, A vergonha se transforma em medo, medo em dis-
criminao social e racial (POTIGUARA, 2004, p. 28).
Para representar essa identidade manchada pelo preconceito,
discriminao e vergonha, Potiguara se utiliza de dois personagens
que passaro a acompanh-la nas diversas partes do livro. A histria
antes mencionada do ndio que fora assassinado cruelmente, de sua
esposa e de suas filhas, comea ser contada por Jurupiranga e Cunhata,
que sobrevivem colonizao e passam a contar suas dores, lutas e
conquistas. Para Potiguara, esses personagens so atemporais, sem
locais especficos de origem e simbolizam a famlia indgena, o amor,
independentemente de tempo, local, espao onrico ou espao fsico,
podem mudar nome, ir e voltar no tempo e espao (POTIGUARA, 2004,
p. 30-31).
No mesmo captulo, a escritora refora a questo identitria por
meio de seu poema Brasil com as palavras que soam como eco na
conscincia do leitor, fazendo-o refletir sobre a questo da cultura
brasileira. Podemos observar o poema e identificar a sua verdadeira
origem, a face indgena da escritora:
Que fao com a minha cara de ndia?/ E meus cabelos/ E minhas
rugas/ E minha histria/ E meus segredos? [...] Que fao com a mi-
nha cara de ndia?/ E meu sangue/ E minha conscincia/ E minha
luta/ E nossos filhos?/ Brasil o que fao com a minha cara de n-
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
490
dia?/ No sou violncia/ Ou estupro/ Eu sou histria/ Eu sou cu-
nh/ Barriga brasileira/ Ventre sagrado/ Povo brasileiro/ Ventre
que gerou/ O povo brasileiro/ Hoje est s.../ A barriga da me fe-
cunda/ E os cnticos de outrora cantavam/ Hoje so gritos de guer-
ra/ Contra o massacre imundo. (POTIGUARA, 2004, p. 34-35)
No poema, a autora assinala a evidncia de um Brasil, cuja popu-
lao constituda, historicamente, pela miscigenao de raas, mes-
mo que a sociedade brasileira insista em negar sua descendncia ind-
gena. A marca da mistura racial trazida no corpo, no rosto da popu-
lao, mesmo que ela no queira assumir sua condio (por razes
diversas). Assim, Potiguara descreve o ndio como o ventre que gerou
o povo brasileiro e representa sua angstia pelo sofrimento passado e
a desvalorizao de seu povo.
Essa busca pela valorizao da verdadeira face indgena tambm
pode ser evidenciada na segunda parte de Metade Cara, Metade Ms-
cara, denominada: Angstia e desespero pela perda das terras e a
ameaa cultura, s tradies Dor e revolta de Jurupiranga e Cunha-
ta. Nessa etapa, Potiguara retorna personagem Cunhata, para dar
voz ao sofrimento da perda de suas terras, de sua famlia e de sua
conscincia a todos os povos indgenas e principalmente mulher in-
dgena, que se revolta e desafoga suas dores com o poema Identidade
Perdida: Amanh o ltimo dia que venho aqui/ Vou prestar con-
tas/ Vou tirar essas roupas sujas/ E vou lavar minha alma/ Acho que
vou ser feliz/ Ou ento vou viver na inrcia da prpria existncia
(POTIGUARA, 2004, p. 59).
Assim, percebemos a construo de novos significados e Poti-
guara se esconde atrs da voz de sua personagem Cunhata, como se
estivesse tentando nascer de si mesma, nascer de sua obra, tornar-se
mulher, lavar sua alma por meio da escrita, recriando seu prprio no-
me, sua prpria identidade. Potiguara escreve em voz alta, pois na
leitura de sua obra escutamos seu grito de justia que traduz a condi-
o de vida de seu povo, conforme evidenciamos em outro poema
chamado Desiluso:
A mim me choca muito esse ambiente/ Essa msica, essa dana/
parece que todos dizem sim/ Sim a qu?/ Sim a quem?/ Porque
concordar tanto/ Se o que tem que dizer agora/ NO!/ NO
morte da famlia/ NO morte da terra/ No ao fim da identidade.
(POTIGUARA, 2044, p. 64)
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
491
Descortinamos a insatisfao e o desespero da personagem em
busca do prestgio das razes indgenas, marcando assim as fraturas
identitrias provocadas pela sociedade que continua a padronizar
comportamentos e formas de pensar aos indgenas. Essa revolta
identificada na terceira parte da obra de Potiguara A insatisfao e a
conscincia de mulher indgena Revolta e desespero de Cunhata.
Potiguara agora fala atravs da voz de Cunhata, demostrando o
seu compromisso com todas as mulheres indgenas do Brasil. Sua dor,
insatisfao e conscincia de mulher a mesma trazida pelas mulhe-
res guerreiras dos tempos atuais, que ora se organizam. O seu poema
Mulher representa a identidade da mulher indgena, o romper das
correntes, o tirar a mscara e soltar o grito: Vem irm/ Liberta tua
alma afeita/ Liberta teu corao amante/ procura a ti mesma e grita:
sou uma mulher guerreira/sou uma mulher consciente! (POTIGUARA,
2004, p. 76-77).
Uma vez provada a condio de ndia guerreira, no discurso da
quarta parte do seu livro Influncia dos ancestrais na busca pela
preservao da identidade, Potiguara apresenta Cunhata em outro
patamar, agora, depois de seguir trilhas e sofrer todas as dores que
uma mulher poderia sofrer, encontramos Cunhata sentada e com a
cabea reclinada para o cho, a ndia escuta e recebe foras de uma
voz ancestral para seguir em frente:
A coisa mais bonita que temos dentro de ns mesmos a dignidade.
Mesmo se ela est maltratada. Mas no h dor ou tristeza que o
vento ou o mar no apaguem. E o mais puro ensinamento dos ve-
lhos, dos ancios, parte da sabedoria, da verdade e do amor. Bonito
florir no meio do dio, da inveja, da mentira ou do lixo da socie-
dade. Bonito sorrir ou amar quando uma cachoeira de lgrimas
nos cobre a alma! Bonito poder dizer sim e avanar. (POTIGUARA,
2004, p. 79)
Por meio dessas palavras percebemos a fora indgena e a cha-
ma do conhecimento ancestral acesa dentro da alma de Cunhata, que
se utiliza da ancestralidade para ouvir sua intuio e se aperceber de
seus sonhos, tomando posse de seu instinto selvagem, de seus poderes
intuitivos, de seu ser resistente para, como afirma Potiguara, ser
guerreira(o), ser questionador(a) ter tenacidade, ter sensibilidade, ter
espiritualidade [...] Mesmo que para tudo isso elas(es) sofram, san-
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
492
grem, tremam, ou desam ao fundo do poo do sofrimento humano
para renascer mais belas(os) (POTIGUARA, 2004, p. 88).
Essa uma mensagem que Potiguara deixa para seu povo, para
que lutem contra uma cultura que impe valores dominantes como o
machismo, racismo, intolerncias, discriminaes, preconceitos, xeno-
fobias, falso moralismo. A sobrevivncia dos povos indgenas durante
sculos de opresso, segundo Potiguara, s possvel porque ainda se
mantm acesa a tocha da ancestralidade, e esta, segundo Potiguara,
a nossa maior Herana: a preservao de nossa essncia num mundo
impune, cheio de diferenas e preconceitos (POTIGUARA, 2004, p. 89).
A fala da autora expressa com clareza que os ensinamentos dos
antepassados so a base da cultura e da identidade, na luta pela afir-
mao de seu povo enquanto sujeitos de sua prpria histria e do pas
do qual so parte. Em outra parte da obra, denominada Exaltao
terra, cultura e espiritualidade indgena, Potiguara revela um pou-
co de sua vida e como os ensinamentos dos seus antepassados, a fora
de sua ancestralidade e sua espiritualidade a ajudaram a compreender
sua vida e a seguir o seu destino, conforme descreve a escritora: Eu
era testemunha dos tempos, eu no me dava conta! No meu interior e
depois refletia tudo aquilo de novo, e realmente percebia que no da-
va mais para fugir de meu destino. A fora lunar e o divino regiam
verdadeiramente minha vida (POTIGUARA, 2004, p. 107).
Na sexta parte de seu livro Combatividade e resistncia, Poti-
guara relata o que aconteceu com Jurupiranga enquanto sua esposa
sofria do outro lado. O guerreiro comea uma peregrinao pelo inte-
rior do extenso territrio norte-centro e sul-americano atrs de sua
mulher. Passou fome, adoeceu, adquiriu vrus do HIV, das hepatites, os
vrus do medo, do desespero e da desesperana e percebeu os vcios
mais srdidos dos colonizadores e dos neocolonizadores. Porm, com
um sopro divino e nas asas da luz e do amor, Jurupiranga pde encon-
trar o caminho de volta de onde sara e reencontrou sua nao indge-
na, totalmente refeita com a forma da conscincia do povo.
Passamos a entender porque tudo isso aconteceu com os povos
indgenas por intermdio de Cunhata e Jurupiranga, pois, segundo a
histria de Potiguara, evidenciamos que, para muitos ndios, a perda
da terra significou paradoxalmente encontrar nova essncia, j que o
retorno aldeia por vezes impossvel. Ser ndio fora da aldeia no
fcil, tal condio muitas vezes leva o indgena a ser um mestio cultu-
Tecendo conexes entre cognio, linguagem e leitura
493
ral, por no conseguir ficar imune s influncias do meio em que se
encontra, assim como aconteceu com o personagem Jurupiranga.
Nesse contexto de luta para preservar a essncia indgena, Poti-
guara nos apresenta o ltimo captulo de seu livro: Vitria dos po-
vos, no qual se confirma o amor eterno e a esperana pela preserva-
o da identidade indgena, pelo amor de Jurupiranga que ressurge e
permanece unido para sempre com Cunhata, uma reinveno da iden-
tidade indgena contempornea, rompendo com preconceitos e este-
retipos cristalizados na conscincia do povo no indgena brasilei-
ro. Cunhata e Jurupiranga se encontram e seu povo pode permanecer
para sempre unido, organizado e consciente.
O que se manifesta ao longo da narrativa de Eliane Potiguara o
desejo de uma coletividade, sustentando os ensinamentos, a sabedoria
e os conhecimentos dos antepassados. Assim, a escritora indgena
inaugura nova identidade cultural. O que representa no apenas a cri-
ao de uma memria, mas tambm uma conscincia de classe, funda-
da na anlise do presente dessas comunidades. Potiguara transforma-
se em detentora de uma memria ancestral para dar conta aos povos
no indgenas de seu(s) lugar(es) no mundo.
Evidenciamos, ao final da anlise, que Potiguara apresenta uma
resposta diversidade do multiculturalismo por meio de uma busca
renovada de certezas tnicas. Sobre isto, comenta Woodward (2000,
p. 22): alguns grupos tnicos tm reagido sua marginalizao no
interior das sociedades hospedeiras pelo apelo a uma enrgica rea-
firmao de suas identidades de origem. Para Potiguara, essas contes-
taes esto ligadas ao esteio da sabedoria dos antepassados; o ind-
gena precisa voltar s origens, como forma de reverso do desloca-
mento ou migrao forado. Nesse caso, como j mencionamos anteri-
ormente, pelas perspectivas do filsofo Stuart Hall, a construo iden-
titria se faz a partir do contato entre diferentes povos, cultura e ideo-
logias, Portanto, deve-se considerar que, na dimenso da alteridade, o
eu se constri em relao ao outro ou a outros, fundamentais na defi-
nio de imagens de identidades individuais ou coletivas.
Se, para Potiguara, o eu indgena se constri a partir do outro,
a condio indgena se torna mais evidente na sociedade que a des-
prezou e na qual conquistou seu espao justamente pela condio de
diferente. Para finalizar, evidenciamos na obra analisada que a litera-
tura produzida por Eliane Potiguara caminha lado a lado com as am-
Rita de Cssia Dias Verdi Fumagalli
494
biguidades de sua prpria identidade. A histria da ndia Maria de
Lourdes como tambm a trajetria da personagem Cunhata mostram
a verdadeira face de Potiguara, uma mulher indgena que no esconde
as cicatrizes da opresso e da violncia causadas pela ganncia dos
colonizadores.
Eliane rompe com as mscaras impostas por uma sociedade
dominante e mostra ao seu povo, principalmente ao no ndio, que
possvel encontrar o caminho de volta, reencontrar a sua identidade
perdida, e externalizar o olhar indgena sobre si mesmo e sobre os ou-
tros. Fazendo isso, segundo Potiguara, estaremos deixando que o Ou-
tro seja.
REFERNCIAS
BERND, Zil. Literatura e Identidade Nacional. 2. ed. Porto Alegre: Editora da
UFRG, 2003.
GRANA, Graa. Identidade indgena: uma leitura das diferenas. In:
POTIGUARA, Eliane. Metade Cara, Metade Mscara. So Paulo: Global, 2004.
GRUPIONI, Luis Donisete Benzi (1995). Livros didticos e fontes de informaes
sobre as sociedades indgenas no Brasil. In: LOPES DA SILVA, A.; GRUPIONI, L. D.
B. (Orgs.). A Temtica indgena na escola: novos subsdios para professores de 1
e 2 graus. Braslia: MEC/MARI/UNESCO, 2000.
HALL, Stuart. A identidade Cultural na ps-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da
Silva e Guacira Lopez Louro. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
MUNDURUKU, Daniel. Vises de ontem, hoje e amanh: hora de ler as palavras.
In: POTIGUARA, Eliane. Metade Cara, Metade Mscara. So Paulo: Global, 2004.
POTIGUARA, Eliane. Metade Cara, Metade Mscara. So Paulo: Global, 2004.
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos
culturais. Petrpolis: Vozes, 2000.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e concei-
tual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferena: a perspectiva dos
estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2000.
You might also like
- O Livro Das Palavras1Document1 pageO Livro Das Palavras1JulybrandaoNo ratings yet
- Insubmissas Lágrimas de Mulheres by Conceição EvaristoDocument76 pagesInsubmissas Lágrimas de Mulheres by Conceição Evaristostephaniamendesdemar100% (1)
- Relatório de Atividades EstruturadasDocument7 pagesRelatório de Atividades EstruturadasRafaela Brito100% (1)
- Análise Textual - Interpretação - CompreensãoDocument4 pagesAnálise Textual - Interpretação - CompreensãoLano RamosNo ratings yet
- Oficina Jovem Escritor Ademir PascaleDocument17 pagesOficina Jovem Escritor Ademir PascaleJOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHONo ratings yet
- Claiton Natal 1.000 Questoes Carreiras Policiais GramáticaDocument28 pagesClaiton Natal 1.000 Questoes Carreiras Policiais GramáticaDébora Ribeiro100% (1)
- Gabarito Comentado Gramática e Interpretação de TextoDocument11 pagesGabarito Comentado Gramática e Interpretação de TextoArmando SantosNo ratings yet
- PANO DA COSTA - Cadernos Do IPAC 1Document45 pagesPANO DA COSTA - Cadernos Do IPAC 1Fran SilvaNo ratings yet
- 01 - Carta para ConceicaoDocument5 pages01 - Carta para ConceicaoAna Carla FagundesNo ratings yet
- Conjunções ExercicioDocument6 pagesConjunções Exerciciojanilson amaralNo ratings yet
- Ebook Escravidaoseustemas 040423Document244 pagesEbook Escravidaoseustemas 040423Lucas Victor SilvaNo ratings yet
- Bossa NovaDocument1 pageBossa NovaCaio AraújoNo ratings yet
- Tipos de TextosDocument4 pagesTipos de TextosDouglas Dos Santos FerreiraNo ratings yet
- "Dicionário de Tupi Antigo" Nota de Eduardo Tuffani A Eduardo de Almeida NavarroDocument5 pages"Dicionário de Tupi Antigo" Nota de Eduardo Tuffani A Eduardo de Almeida Navarrofabiano6cbNo ratings yet
- 8° 9° Cronica Olimpiada de Lingua PortuguesaDocument18 pages8° 9° Cronica Olimpiada de Lingua PortuguesaFernanda MotaNo ratings yet
- Termo Determinante e Termo DeterminadoDocument23 pagesTermo Determinante e Termo DeterminadoMaria NascimentoNo ratings yet
- A Simbologia Presente Na Arte Cemiterial - Uma Análise No Cemitério Da ConsolaçãoDocument59 pagesA Simbologia Presente Na Arte Cemiterial - Uma Análise No Cemitério Da ConsolaçãoGeverson OhlweilerNo ratings yet
- Dicionário MineirêsDocument9 pagesDicionário MineirêsWeslley DiasNo ratings yet
- 48d206 PDFDocument235 pages48d206 PDFFábioOdaraTÒsálufanNo ratings yet
- Afrodescendentes R01 PDFDocument8 pagesAfrodescendentes R01 PDFNATALIA DEMOURANo ratings yet
- Literatura Brasileira Na RedaçãoDocument35 pagesLiteratura Brasileira Na Redaçãojúlia moraleidaNo ratings yet
- Narrativas Perifericas e Formacao HumanaDocument282 pagesNarrativas Perifericas e Formacao HumanaGraci BabiukNo ratings yet
- Cantigasebrincadeiras NovoDocument19 pagesCantigasebrincadeiras NovoJuliana SouzaNo ratings yet
- Regras de AcentuaçãoDocument4 pagesRegras de AcentuaçãoJosé Luis M. CavalcanteNo ratings yet
- A Carnavalização em Obscenidades para Uma Dona de CasaDocument12 pagesA Carnavalização em Obscenidades para Uma Dona de CasaSil TeixeiraNo ratings yet
- InterjeiçãoDocument3 pagesInterjeiçãoderaseNo ratings yet
- Ebook - O MitoDocument214 pagesEbook - O MitoJana CastroNo ratings yet
- Mitologia Tupi GuaraniDocument4 pagesMitologia Tupi GuaraniSuan LiraNo ratings yet
- Tecnicas de Leitura 01Document20 pagesTecnicas de Leitura 01trick2No ratings yet
- Ramirez 1975 OIndioNoRioGrandeDoSulDocument99 pagesRamirez 1975 OIndioNoRioGrandeDoSulClarissa FerreiraNo ratings yet
- Apostila / Manuscrito Sobre LEITURADocument118 pagesApostila / Manuscrito Sobre LEITURAAndrade GuiNo ratings yet
- PORTUGUES - Paralelismo Omissão Do Artigo e CraseDocument13 pagesPORTUGUES - Paralelismo Omissão Do Artigo e CraseArkan MattosNo ratings yet
- Tópicos de GramáticaDocument23 pagesTópicos de GramáticaAdiel MaiaNo ratings yet
- Inglês para Leitura InstrumentalDocument79 pagesInglês para Leitura Instrumentalhbts contabilidadeNo ratings yet
- Performance e Arte Educação - Catálogo-Memória Das Mostras de PerformanceDocument80 pagesPerformance e Arte Educação - Catálogo-Memória Das Mostras de PerformanceRavena Maia100% (1)
- Apostila Gramatica e OrtografiaDocument126 pagesApostila Gramatica e OrtografiaRisielyNo ratings yet
- PontuaçãoDocument4 pagesPontuaçãoandcidNo ratings yet
- Artigo Heterocrítica de Obra Útil (Fernando Báez)Document14 pagesArtigo Heterocrítica de Obra Útil (Fernando Báez)Antonio PitaguariNo ratings yet
- Livro TransbordandoFronteirasDocument443 pagesLivro TransbordandoFronteirasCarolzinha NorbNo ratings yet
- Texto 02 - Kleiman - Capítulo 1 - Texto e LeitorDocument9 pagesTexto 02 - Kleiman - Capítulo 1 - Texto e LeitorEliana GrecoNo ratings yet
- Livro Completo Final LancamentoDocument340 pagesLivro Completo Final LancamentonatducaaNo ratings yet
- Ingles Instrumental 4Document24 pagesIngles Instrumental 4Joao Gomes0% (1)
- Silva, Edson. "Povos Indígenas - História, Culturas e o Ensino A Partir Da Lei 11.645"Document11 pagesSilva, Edson. "Povos Indígenas - História, Culturas e o Ensino A Partir Da Lei 11.645"Gabriel ValençaNo ratings yet
- Emprego Sinais de Pontuação PDFDocument86 pagesEmprego Sinais de Pontuação PDFIkaro LucasNo ratings yet
- Livro Formação de Professores Na Perspectiva Histórico-Cultural - Ebook - Finalissimo - OkokDocument336 pagesLivro Formação de Professores Na Perspectiva Histórico-Cultural - Ebook - Finalissimo - Okokchiquinhophb100% (1)
- Morfossintaxe Do Periodo Simples E1666368576Document151 pagesMorfossintaxe Do Periodo Simples E1666368576Valmir Rodrigues DA Cruz ValmirNo ratings yet
- Resumo Historia Da Leitura Steven Roger FischerDocument2 pagesResumo Historia Da Leitura Steven Roger FischerLucas Sandeski100% (1)
- Português Apostila Gramática e LiteraturaDocument56 pagesPortuguês Apostila Gramática e LiteraturaVanusa Martins da SilvaNo ratings yet
- Como Falar Da RotinaDocument6 pagesComo Falar Da RotinaAngelinaNo ratings yet
- Norma ABNT - NBR - 12225 - LombadaDocument7 pagesNorma ABNT - NBR - 12225 - LombadaGustavoNo ratings yet
- Revista Parenteses - Autoras NegrasDocument36 pagesRevista Parenteses - Autoras NegrasRayana Almeida100% (1)
- Considerações em Torno Do Ato de EstudarDocument4 pagesConsiderações em Torno Do Ato de Estudarfabi_cr53No ratings yet
- CEDERJ Caderno Didático Linguística I 2a ParteDocument212 pagesCEDERJ Caderno Didático Linguística I 2a PartePaula SoaresNo ratings yet
- Oficina de Redação PDFDocument74 pagesOficina de Redação PDFElianeSoneharaNo ratings yet
- Ebook - Leitores e Escritores Na Educação InfantilDocument289 pagesEbook - Leitores e Escritores Na Educação InfantilMary SouzaNo ratings yet
- O Humor e Seus Mecanismos Linguísticos: Os Efeitos de Riso Provocados Pelas TirinhasDocument12 pagesO Humor e Seus Mecanismos Linguísticos: Os Efeitos de Riso Provocados Pelas TirinhasElisangela ConsentinoNo ratings yet
- 2º Ano Português - Contexto, Interlocução e Sentido 2018Document350 pages2º Ano Português - Contexto, Interlocução e Sentido 2018Andressa KintofNo ratings yet
- Lendas AmazonicasDocument29 pagesLendas AmazonicaskrislenaNo ratings yet
- A África no Serro Frio: VissungosFrom EverandA África no Serro Frio: VissungosRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Carina Onici PDFDocument14 pagesCarina Onici PDFMarcos PatrícioNo ratings yet
- Plano 1º Bimestre 2018Document4 pagesPlano 1º Bimestre 2018RaquelNo ratings yet
- Sindrome de Asperger Guia para ProfessoresDocument22 pagesSindrome de Asperger Guia para ProfessoresRaquelNo ratings yet
- BarrocoDocument14 pagesBarrocoRaquelNo ratings yet
- 1Document9 pages1Marcelo D. MazzoniNo ratings yet
- Ebook InvestimentosDocument19 pagesEbook InvestimentosMaria MachadoNo ratings yet
- Artigo de Mario QuintanaDocument16 pagesArtigo de Mario QuintanaRaquelNo ratings yet
- SINDROME ASPERGER - Guia para Professores - Versao Port.Document53 pagesSINDROME ASPERGER - Guia para Professores - Versao Port.zearaujomota8010No ratings yet
- Tese - FINAL 27 - 06 - 2017Document98 pagesTese - FINAL 27 - 06 - 2017RaquelNo ratings yet
- VersaofinalDocument11 pagesVersaofinalRaquelNo ratings yet
- 964 2816 1 PBDocument16 pages964 2816 1 PBRaquelNo ratings yet
- Matriz Novo Mais Educação MT Letramento I c01Document1 pageMatriz Novo Mais Educação MT Letramento I c01RaquelNo ratings yet
- Orientações Finais Ensino Médio 12092018Document5 pagesOrientações Finais Ensino Médio 12092018RaquelNo ratings yet
- (0-3) Fonetica e FolonogiaDocument3 pages(0-3) Fonetica e FolonogiaRaquelNo ratings yet
- Introdução de Química (Aula 1)Document17 pagesIntrodução de Química (Aula 1)RaquelNo ratings yet
- Sinais de Dislexia Na Iniciacao EscolarDocument11 pagesSinais de Dislexia Na Iniciacao EscolarRaquelNo ratings yet
- Aula de Memorias (1 Aula)Document16 pagesAula de Memorias (1 Aula)RaquelNo ratings yet
- Prova de Religião (7º Ano)Document2 pagesProva de Religião (7º Ano)RaquelNo ratings yet
- Livro 1Document76 pagesLivro 1Giselle MotaNo ratings yet
- Edital 2018 Final Processo Seletivo Do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e TecnológicaDocument26 pagesEdital 2018 Final Processo Seletivo Do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e TecnológicaWeberty LimaNo ratings yet
- REPERTÓRIODocument3 pagesREPERTÓRIORaquelNo ratings yet
- Literatura Brasileira FinalDocument58 pagesLiteratura Brasileira FinalRaquelNo ratings yet
- (0-3) Fonetica e FolonogiaDocument3 pages(0-3) Fonetica e FolonogiaRaquelNo ratings yet
- Corpo, Gênero e Sexualidade: Discussões, Gênero e Sexualidade: DiscussõesDocument5 pagesCorpo, Gênero e Sexualidade: Discussões, Gênero e Sexualidade: DiscussõesRaquelNo ratings yet
- Versos-Sete de SetembroDocument22 pagesVersos-Sete de SetembroRaquelNo ratings yet
- Ledor e TranscritorDocument38 pagesLedor e TranscritorRaquel80% (5)
- Escândalo Feminino (Alencar)Document4 pagesEscândalo Feminino (Alencar)RaquelNo ratings yet
- As Necessidades Especiais e Apoio EspecíficoDocument40 pagesAs Necessidades Especiais e Apoio EspecíficoRaquelNo ratings yet
- 4 SLIDES 01 (Reparado)Document23 pages4 SLIDES 01 (Reparado)RaquelNo ratings yet
- Referências (Final)Document9 pagesReferências (Final)RaquelNo ratings yet
- Les Articles Contractés Autor Igor BarcaDocument4 pagesLes Articles Contractés Autor Igor BarcaIsabel SalgueiroNo ratings yet
- Modelos de Planif. EVTDocument2 pagesModelos de Planif. EVTtomanuelNo ratings yet
- 4616-LIT-Rev-Semana-de-Arte Moderna-Contexto Histórico PDFDocument3 pages4616-LIT-Rev-Semana-de-Arte Moderna-Contexto Histórico PDFRogério AmorimNo ratings yet
- A Sociedade FeudalDocument8 pagesA Sociedade FeudalProf. Elicio Lima100% (1)
- Anais Sem. Internacional 2013 Pronto 2Document416 pagesAnais Sem. Internacional 2013 Pronto 2Raniê SolareviskyNo ratings yet
- LITERATURA Livro 2anoDocument33 pagesLITERATURA Livro 2anoHellenPedagogaNo ratings yet
- ApocalipseDocument11 pagesApocalipserjleo01No ratings yet
- PDFDocument270 pagesPDFOripmav Utarefson Ocitog100% (8)
- Ficha Multiculturalismo Cap 2 3 4Document3 pagesFicha Multiculturalismo Cap 2 3 4William PolitaNo ratings yet
- Apresentação Brasileira - Homeschooling CatólicoDocument5 pagesApresentação Brasileira - Homeschooling CatólicoGustavo AbadieNo ratings yet
- Fichamento - Capitulo V O Capital - Processo de TrabalhoDocument2 pagesFichamento - Capitulo V O Capital - Processo de TrabalhoKátia Maia Cordeiro100% (1)
- Georges Didi-Huberman - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocument7 pagesGeorges Didi-Huberman - Wikipédia, A Enciclopédia LivreMONo ratings yet
- Resumo Dos Textos Da Área I - Conceitos Básicos de LinguísticaDocument6 pagesResumo Dos Textos Da Área I - Conceitos Básicos de LinguísticaBia NogueiraNo ratings yet
- A Funcao Social Da EscolaDocument43 pagesA Funcao Social Da EscolaFábio Do Nascimento FonsêcaNo ratings yet
- AGRICULTURAS EdicaoEspecial PDFDocument48 pagesAGRICULTURAS EdicaoEspecial PDFEloisioNo ratings yet
- ALBERTI Et Al O AT e A Psicanálise Pequeno Histórico e Caso ClínicoDocument15 pagesALBERTI Et Al O AT e A Psicanálise Pequeno Histórico e Caso ClínicocsilvaNo ratings yet
- Profissionais para Si Ou para Os OutrosDocument12 pagesProfissionais para Si Ou para Os OutrosAdriano NunesNo ratings yet
- Relatório Da Visita À Associação de Protecção À Infancia e Juventude A Causa Da Criança - DoisMundosUnidosDocument5 pagesRelatório Da Visita À Associação de Protecção À Infancia e Juventude A Causa Da Criança - DoisMundosUnidosdoismundosunidosNo ratings yet
- Resenha Barbarie e CivilizaçãoDocument2 pagesResenha Barbarie e CivilizaçãoAdriano CunhaNo ratings yet
- INTRODUÇÃO TEÓRICA Sobre Educação InfantilDocument9 pagesINTRODUÇÃO TEÓRICA Sobre Educação InfantilEsther MorijoNo ratings yet
- APOSTILA DE ANTROPOLOGIA (Prof. Elvis) PDFDocument26 pagesAPOSTILA DE ANTROPOLOGIA (Prof. Elvis) PDFAnaNo ratings yet
- A Comunicação Pública Como Processo para o Exercício Da Cidadania PDFDocument13 pagesA Comunicação Pública Como Processo para o Exercício Da Cidadania PDFVanessaLazzarettiNo ratings yet
- Sobre Terry Eagleton Ler Poema PDFDocument9 pagesSobre Terry Eagleton Ler Poema PDFElizabeth SilvaNo ratings yet
- FREITAS, A. S. - As Máscaras Do Ateísmo (Ilustrado)Document58 pagesFREITAS, A. S. - As Máscaras Do Ateísmo (Ilustrado)O Epistemocrata BlogNo ratings yet
- Atividades Diversas Sobre Tipos de LinguagemDocument3 pagesAtividades Diversas Sobre Tipos de LinguagemCarla GafoNo ratings yet
- Adoração A MolochDocument4 pagesAdoração A MolochfranklinNo ratings yet
- NASCIMENTO, Maria Silvia - Corpo A Corpo Com As Mulheres PalhaçasDocument10 pagesNASCIMENTO, Maria Silvia - Corpo A Corpo Com As Mulheres PalhaçasmariasilviaNo ratings yet
- EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - Brincando Com Um Mundo Possível PDFDocument403 pagesEDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - Brincando Com Um Mundo Possível PDFMira BenvenutoNo ratings yet
- Sociologia AmericanaDocument4 pagesSociologia AmericanaGabriel siracusaNo ratings yet