Professional Documents
Culture Documents
06255
Uploaded by
Pedro GuilhermeCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
06255
Uploaded by
Pedro GuilhermeCopyright:
Available Formats
Toms
Maldonado
Cultura,
Sociedade
e Tcnica
Toms Maldonado
T
o
m
s
M
a
l
d
o
n
a
d
o
C
u
l
t
u
r
a
,
S
o
c
i
e
d
a
d
e
e
T
c
n
i
c
a
w
w
w
.
b
l
u
c
h
e
r
.
c
o
m
.
b
r
Cultura,
Sociedade
e Tcnica
Toms Maldonado um dos pensadores mais
fecundos e respeitados da rea da cultura
tcnica. Foi diretor da legendria Escola de
Ulm (HfG), na dcada de 1960. Naquela poca
j propugnava criar laos entre as cincias
e as atividades projetuais nas diferentes
manifestaes (design industrial e comunicao
visual), constituindo-se em um slido arcabouo
para fundamentar as atividades de projeto.
Este livro apresenta uma amostra dos
pensamentos de Maldonado, cuidadosamente
selecionados por Gui Bonsiepe, seu discpulo
e ilustre seguidor de suas ideias. Faz reexes
sobre muitos temas atuais, como a inuncia
dos meios de comunicao virtual sobre a
vida democrtica, a importncia da telemtica
na organizao espacial das cidades, o uso
de modelos virtuais do corpo humano na
medicina e o debate sobre as mudanas nos
costumes de falar, escrever e ler na era dos
meios digitais.
Toms Maldonado
Toms Maldonado nasceu em
Buenos Aires e estudou na Academia
de Belas Artes de Buenos Aires
(1939-1941). Entre 1943 e 1954
participou ativamente do movimento
da Arte Concreta na Argentina.
Mudou-se para Alemanha em
1954, onde permaneceu at 1967.
Foi professor da Hochschule fr
Gestaltung de Ulm de 1955 a 1967,
tendo sido reitor dessa instituio
entre 1964 a 1966. Durante esse
perodo dedicou-se ao ensino de
desenho industrial e comunicao
visual (semitica). Nesse contexto
seus interesses tericos se orientam
losoa da cincia e da tcnica.
Mudou-se para Itlia em 1969,
lecionando projeto ambiental na
Universidade de Bolonha. Criou o
curso superior de Desenho Industrial
no Politcnico de Milo (1994),
onde foi nomeado professor emrito.
Atuou tambm como professor
convidado no Royal College of Art,
de Londres e no Princeton University,
dos eua. doutor honoris causa do
Politcnico de Milo, Universidade
de Crdoba e da Universidade
de Buenos Aires. autor de 16
livros, destacando-se: Avanguardia
e razionalit (1974), Disegno
industriale: un riesame (1976, 1991,
2008), Reale e virtuale (1992, 2007),
Critica della ragione informatica
(1997), Hacia una racionalidad
ecolgica (1999), Memoria e
conoscenza. Sulle sorti del sapere
nella prospecttiva digitale (2005), e
Arte e artefati (2010).
TM_B_Tapa_contratapa_impresao.indd 1 18/02/12 16:43
Toms
Maldonado
Cultura,
Sociedade
e Tcnica
Apresentao
Os textos selecionados de Toms Maldonado referem-se a temticas
que desde sempre se encontram no centro dos interesses loscos,
cientcos, culturais e polticos. As temticas tm sido reexionadas na
maioria nas disciplinas loscas e cientcas; sobretudo, na losoa
da linguagem, antropologia, informtica, medicina, economia polti-
ca, semitica e histria da tcnica. Partindo de anlises minuciosas e
fazendo uso de fontes pertinentes altamente diferenciadas, Maldonado
desenvolve uma perspectiva que se pode caracterizar como losoa
do projeto, ou melhor, losoa da tcnica. Partindo dessa perspectiva,
os textos de Maldonado fornecem uma base para o discurso projetual
com uma viso ampla que vai muito alm das disciplinas especcas.
A seleo dos textos visa ilustrar o leque da obra do autor e
as temticas que ele, durante as ltimas trs dcadas, elaborou com
insistncia minuciosa. O autor usa diferentes formas de textos desde
ensaios literrios at contribuies cientcas que, em geral, so com-
plementadas com um extenso aparato de notas e referncias bibliogr-
cas que permitem aprofundar os argumentos.
No captulo sobre ciberespao se criticam as, muitas vezes exa-
geradas, esperanas de um determinismo tecnolgico que v na rede
digital um motor para fomentar autonomia e democracia. Muito cedo
Maldonado desmascarou a ciberingenuidade e o ciberutopismo dos
entusiastas digitais que atribuem rede um potencial democrtico sem
tomar em conta que a rede tambm pode servir para interesses antide-
mocrticos.
Os efeitos da telemtica para novas formas de trabalho e ensino
e a questo da incluso/excluso so tratados no segundo captulo.
No terceiro captulo, so analisadas as possibilidades e limites
da aplicao da virtualidade para ns medicinais. Usando o exemplo
da percepo de cores, o autor revela os limites da percepo articial.
Em Os lsofos da tcnica, comentam-se questes centrais
da losoa da tcnica; sobretudo, a validade e no validade de uma
conceio autocrtica da tcnica.
Diferentemente das reexes de carter geral, o captulo so-
bre culos pode servir como paradigma para escrever uma histria
detalhada de um objeto tcnico, de um artefato, de uma prtese. O
enfoque est diametralmente oposto ao da histria da arte (e, em boa
parte, do design), que se limita predominantemente aos aspectos for-
mal-estticos. O erro de subsumir a histria do design na disciplina da
histria da arte, Maldonado comenta em outro captulo.
Um arqutipo do projetista, dos project makers, Maldonado v
representado na gura de Robinson Cruso, de Daniel Defoe. Ex-
plicando as qualidades dessa gura, revela o projetista como gura
central da modernidade.
No texto sobre arquitetura, Maldonado analisa com inteno
explicitamente polmica alguns teoremas preferenciais dos ps-moder-
nistas mais precisamente, algumas teses de Derrida sobre a arquite-
tura, revelando-as como letteratura buffa.
A anlise do conceito de iconicidade, como conceito funda-
mental para a comunicao visual, pertence possivelmente aos textos
mais complexos da seleo. Trata-se de uma vindicao da visualidade
como domnio cognitivo.
A informtica e a tecnologia da comunicao tm levado a uma
exuberante massa de publicaes sobre as chamadas Novas Mdias.
Frequentemente, os textos sobre esse fenmeno se caracterizam por
uma distncia da base emprica perdem-se no mundo de meras
especulaes. Contra essa tendncia, esto orientadas as reexes de
Maldonado sobre Escrever, Ler, Falar.
Seria errado tratar de captar a pessoa multifacetica de Mal-
donado com etiquetas pintor, lsofo, designer, educador, critico,
terico Em parte, essas caracterizaes so corretas; porm, no
alcanam captar a complexidade da pessoa. Em sua juventude, era um
representante do movimento da arte concreta, que criticou com um
manifesto implacvel o academicismo dominante, incluindo a pintura
abstrata. Na hfg-ulm, entrou no campo da pesquisa, desenvolvimen-
to e ensino das disciplinas projetuais (sobretudo, design de produto
e programao visual). Na Itlia, perlou-se como um representante
lder no debate cultural sobre questes do projeto. Pode-se detectar
uma srie de caractersticas constantes: uma antipatia contra explica-
es simplistas e monocasuais, uma desconana frente s tendncias
de desmaterializao, uma crtica da ingenuidade tecnopoltica, uma
sensibilidade sismogrca contra foras antiemancipatrias, autorit-
rias e antidemocrticas, uma desconana contra o radicalismo verbal,
um racionalismo militante, uma insistncia na vericabilidade, um
anlise cuidadosa dos argumentos; sobretudo, dos antagonistas, uma
preferncia para a lucidit, uma sensibilidade para contextos histri-
cos, uma predisposio de passar por cima das fronteiras das discipli-
nas, e buscar sobretudo nos estudos de carter cientco possveis
nexos com a literatura e a vanguarda artstica, e tudo isso sem perder
um humor custico, s vezes contra ele mesmo. Essas caractersticas
transformam a Maldonado em uma gura central do debate cultural
cotidiano, incluindo a atividade projetual nas diversas manifestaes.
Gui Bonsiepe
Florianpolis, junho 2011
Prefcio
com um misto de satisfao e tambm de grande responsabilidade
que aceitei escrever o prefcio, em nome da comunidade brasileira de
design, do primeiro livro do Toms Maldonado traduzido e editado no
Brasil.
Falar do Toms Maldonado possivelmente discorrer sobre a
histria do design mundial, pelo menos como hoje conhecemos essa
atividade que opera no mbito da cultura material, e mais precisa-
mente no mbito da cultura industrial da era moderna. O professor
Maldonado desponta, dessa forma, como um protagonista de primeira
grandeza no intelecto ativo e fascinante percurso do desenho industrial
do sculo xx, tornando-se, por vez, um de seus maiores protagonistas
justamente por conferir a esta jovem atividade contornos prprios e
bem denidos como rea de conhecimento que opera entre as cincias
sociais aplicadas e as reas tecnolgicas e cientcas.
Nesse sentido, oportuno recordar o impulso dado por To-
ms Maldonado s renovaes feitas aos contedos da metodologia
projetual e aos objetivos destinados ao design industrial no sculo xx.
Recordamos que, no longnquo ano de 1949, Maldonado participava
ativamente do Movimento de Arte Concreta da Argentina. Nesse per-
odo, o Centro dos Estudantes de Arquitetura de Buenos Aires (cidade
de nascimento do Maldonado) publicou um seu artigo com o ttulo El
diseo y la vida social que representa, de fato, o primeiro documento
em que se fala de design em toda a Amrica Latina. Seguidamente,
sempre em Buenos Aires, Maldonado institui e dirige a Revista Nueva
Visin, publicada entre os anos de 1951 a 1954, que reetia, alm da
arte, as questes da arquitetura e do design, esta ltima ainda em fase
emergente.
J na sua experincia europeia, o professor Maldonado parte
para aquela que podemos intuir ter sido a sua maior experincia em
nvel prossional prtico e didtico em design, ao conceber junto com
Max Bill, em 1955, na Alemanha, a lendria Hochschule fr Gestal-
tung, conhecida mundialmente como a Escola de Ulm. Inicialmente,
a escola propunha seguir os passos da dialtica da Bauhaus, fechada
pelos nazistas em 1933. Maldonado e seus colaboradores souberam,
portanto, com grande capacidade, impor outros rumos escola,
concedendo a ela uma dialtica e potica prprias sem perder de rota
as questes sociais to caras Bauhaus. A Escola de Ulm antecipa a
importncia para o design de disciplinas como a ciberntica, a teoria
da informao, a teoria dos sistemas, o basic design, a semitica e a
ergonomia, bem como outras disciplinas tcnicas e cientcas, como a
losoa da cincia, a lgica matemtica, os estudos da tipologia e os
elementos bsicos da geometria fractal.
Mas, se, por um lado, a Escola de Ulm continua a tradio da
Bauhaus, por outro, podemos dizer que, em relao ao design, ela a
supera. Na medida em que Ulm cr, como a Bauhaus, no papel social
do design, ao mesmo tempo, a Escola de Ulm prope faz-lo de uma
maneira ao todo diferente da primeira. Na Escola de Ulm, vem acres-
cido, para atingir esses objetivos, o rigor tcnico, e ainda existia uma
clara determinao de fornecer uma slida base metodolgica ques-
to projetual.
Na experincia ulmiana, Maldonado soube mostrar ao mun-
do, usando as suas prprias palavras, que indstria cultura e que
existe a possibilidade e por que no dizer? a necessidade de uma
cultura industrial, tudo isso hoje pode nos parecer bvio, mas no
naquela fase em que o design emergia ainda como uma disciplina a ser
sistematizada e, mesmo, consolidada. Na poca de sua presena em
Ulm, Maldonado procurou fornecer a essa atividade projetual, alm
de uma base metodolgica slida, instrumentos cientcos prprios e
um forte conceito social intrnseco ao design. Podemos mesmo dizer,
utilizando uma das tantas metforas do nosso protagonista em tela,
que ele perseguia o ambicioso projeto de adequao e consolidao do
design como uma atividade autnoma equivalente mesmo ao proces-
so que levou a Alquimia a se tornar Qumica.
Seguindo o pensamento neopositivista Maldonadiano, a funo
do design seria tambm aquela de sistematizar antecipadamente as
prprias decises projetuais, ao fazer premeditadamente, e com clcu-
lo bastante aproximativo, aquilo que, s vezes, se produzia por acaso
ou por meio da simples intuio. Maldonado como grande intelectual
e lsofo da tcnica no poderia tambm deixar de expor o seu lado
utpico, nesse sentido, defendeu, e defende ainda, que projetar, alm
de um ato tcnico, pode ser tambm um ato de esperana. Ele man-
tm, portanto, a f que os objetos tcnicos possam ainda contribuir
para melhorar as nossas vidas no planeta.
Mas foi na Itlia, primeiro na Universit di Bologna e depois
no Politcnico di Milano, que Maldonado explorou, em toda sua
extenso, o seu lado de lsofo da tcnica e de um consistente cr-
tico da tecnologia e do tecnologismo. Ali tambm consolidou o seu
perl de operador cultural em diversos mbitos do conhecimento, e
no somente na questo da Cultura Projetual, mas, de igual forma,
indo da Cultura Tecnolgica Cultura Industrial. Nessa fase italiana,
Maldonado contesta a hiptese de que a histria da tcnica seja uma
disciplina autrquica, uma histria fechada em si mesma, e defende
a necessidade de estudar a histria da tcnica dentro do mbito da
Histria Geral. Maldonado acredita, ento, que seja improvvel que
se possa estudar a tcnica sem considerar o encontro entre diversas
outras disciplinas e de forma bastante atenta discorre: Somente com
a conuncia de lsofos, histricos, etnlogos, engenheiros, econo-
mistas, psiclogos e socilogos ser possvel desenvolver uma histria
da tcnica que esteja mais prxima dos nossos problemas dirios,
disserta Maldonado e continua: a tcnica vem considerada sempre no
contexto de um milieu tcnico, uma realidade composta e articulada,
cuja interpretao clama pela conuncia de vrias outras disciplinas.
Com essa minha anlise preliminar, podemos, ento, realmente
dizer, como diria Anceschi, que a fase Argentina de Maldonado tenha
sido aquela do artista, a fase da Alemanha foi a do prossional de de-
sign e do educador, sendo a fase italiana aquela do lsofo e crtico da
tcnica. Mas, devemos recordar que Maldonado atravessa todas essas
suas fases sem jamais deixar de ser um grande intelectual comprometi-
do com as causas sociais, com as questes do meio ambiente, do papel
do projeto na modernidade, rmando-se, assim, como um crtico
perspicaz e, muitas vezes, irnico sobre os caminhos tomados pela hu-
manidade e, em particular, pela cultura projetual por meio do design.
interessante notar que, como operador no mbito da cultura e como
argucioso educador, Maldonado inuenciou diversas escolas mundo a
fora mesmo em diferentes fases em que atuou como ator protagonista,
sempre com presena singular. Isso se comprova com mais visibilida-
de por meio de sua inuncia e das marcas deixadas na Facultad de
Arquitectura, Diseo y Urbanismo fadu de Buenos Aires, na Escola
de Ulm na Alemanha, na Escola Superior de Desenho Industrial esdi
no Rio de Janeiro, no Politecnico di Milano e, mais recentemente, na
Universit IUAV di Venezia na Itlia.
Foi propriamente no Politecnico di Milano, durante minha es-
tadia de seis anos na Itlia, que tive a oportunidade de constatar mais
de perto o que representava o personagem Toms Maldonado para
o mundo do design. Vrios acontecimentos envolvendo Maldonado,
durante a minha permanncia em Milo, me marcaram e me permito
descrever dois deles neste pequeno prefcio do seu livro. O primeiro
ocorreu quando realizamos o Congresso Design plus Research no
Politecnico di Milano, e convidamos Maldonado para conferir a open
lecture do evento. O professor Maldonado, em um gesto inusitado,
surpreendeu a todos os pesquisadores provenientes de diversos pases
e continentes do mundo, ao colocar disposio da comunidade de
referncia em design, ali presentes, a denio sobre design por ele
criada e adotada ocialmente a partir do Congresso de Veneza, ocor-
rido em 1961, evento realizado pelo International Council of Societies
of Industrial Design icsid (rgo que Maldonado presidiu de 1966
a 1969). Como podemos perceber, j se passou mais de uma dcada da
realizao do nosso referido congresso em Milo e, at hoje, a deni-
o continua praticamente a mesma. Isto : ningum ainda foi capaz
de fazer outra denominao ou modicar a denio existente no
icsid, de forma consistente e consensual.
Outra passagem bastante interessante, que tambm presenciei
e que nos atesta a importncia de Maldonado para o universo do de-
sign, foi por ocasio do lanamento do livro Achille Castiglioni tutte le
opere: 1932-2000, na Triennale di Milano, com intervenes de Toms
Maldonado, Augusto Morello e Gillo Dores. Ao discorrer sobre a
obra de Castiglioni, Maldonado revela ao pblico que Castiglioni,
com seus projetos, tinha rompido com os dogmas do design, mas sem
se tornar banal, o que mereceu do autor da obra e da biograa de
Castiglioni, o terico Srgio Polano, o seguinte comentrio a um Cas-
tiglioni visivelmente emocionado: Veja, Ciccio, Maldonado gosta de
voc. O que nos faz deduzir a importncia que era para um designer
reconhecido, premiado e aclamado mundialmente como o Achille Cas-
tiglioni ser reconhecido publicamente por Toms Maldonado.
Tive tambm a oportunidade de conhecer e conviver com gran-
des personagens que foram alunos e seguidores do pensamento mal-
donadiano como Gui Bonsiepe (que fez a seleo dos textos para esta
edio brasileira), Andries van Onck, Giovanni Anceschi, Raimonda
Riccini e Medardo Chiapponi e percebo at hoje o fascnio e a admira-
o por eles merecidamente dispensados ao eterno mestre.
Por m, gostaria de dizer que coube a mim e ao colega Itiro Iida
fazer a reviso tcnica do livro, decodicando as metforas, os neo-
logismos, os silogismos, as metfrases e as parfrases constantemente
presentes na narrativa de Maldonado.
Cumprimento, vivamente, a Editora Blucher por disponibilizar
esta importante obra aos brasileiros que tardiamente, mas ainda em
tempo, podero usufruir em nossa prpria lngua a riqueza e a grande-
za de pensamentos, crticas e reexes de um dos maiores intelectuais
e lsofos da tcnica do sculo xx. Citando o prprio Toms Maldo-
nado, para se conhecer um autor deve-se, primeiro, conhecer a sua
dinastia, isto , os autores que ele l e cita, sendo assim, no estaria
exagerando em dizer que o professor Toms Maldonado estar sempre
presente em qualquer dinastia de autores da era moderna em diante.
Dijon De Moraes
Contedo
1. O ciberespao um espao democrtico? 21
2. Telemtica e novos cenrios urbanos 21
3. O corpo humano e o conhecimento digital 21
4. Pensar a tcnica hoje 21
5. Os culos levados a srio 21
6. A idade projetual e Daniel Defoe
7. A arquitetura um texto?
8. Notas sobre a iconicidade
9. Falar, escrever e ler
Bibliografa
Existe atualmente uma crena, muito comum em alguns setores
da nossa sociedade, de que as tecnologias interativas e multimdia pos-
sam contribuir para uma drstica mudana no nosso modo de entender
e praticar a democracia. Acredita-se que a difuso destas tecnologias
seria capaz, sozinha, de abrir um caminho direto e participativo para a
prtica da democracia
2
. Desse modo, argumenta-se, seria possvel supe-
rar as fragilidades, incoerncias e farsas do atual sistema parlamentar e
representativo da democracia, j tantas vezes denunciadas.
Mais uma vez, atribui-se um papel taumatrgico tecnologia
para a resoluo das questes cruciais da nossa sociedade. Este um
fato que merece atenta considerao, no somente pelas implicaes de
1. O ciberespao um espao
democrtico?
1
1
Este texto foi publicado originalmente em italiano em 1997, como primeiro captulo
do livro Critica della ragione informtica (p. 11-92). Naturalmente, alguns aspectos aqui abor-
dados perderam atualidade devido aos rpidos e incessantes avanos no campo da telemtica.
Desse modo, talvez alguns autores citados, como George Gilder, Newt Gingrich e Ross Perot
no continuem tendo tanta importncia. Houve tambm mudanas signicativas nas normas
e regulamentos sobre propriedades e usos das redes, como a legislao sobre telecomunicaes
nos eua. Apesar dessas defasagens, estou certo de que o texto abre perspectivas para anlise de
algumas questes que ainda esto no centro de debates sobre o desenvolvimento e aplicaes
da informtica.
2
Certamente, este no um assunto novo. Nos ltimos quinze anos foi amplamente
discutido: Cf. I. de S. Pool (1983 e 1990), P. Virgilio (1984), L. Winner (1986), Th. Roszak
(1986), F. Ch. Artherton (1987), H. Delahaie (1987), J. B. Abramson et al. (1988), J. Ellul
(1988), J. Chesnaux (1989), J. Rifkin (1989 e 1995), G. Gilder (1992), J. Rauch (1994), A.
Kroker e M. A. Weinstein (1994), M. Surman (1994), R. Spears e M. Lea (1995), A. e H. To-
20 Cultura, Sociedade e Tcnica
carter terico que suscita, mas tambm pelos interesses concretos que
mobiliza. Esse grandioso projeto calorosamente acalentado por foras
econmicas, que nem sempre se alinham com os interesses das institui-
es democrticas. Rero-me s empresas multinacionais, que seguem
uma rgida lgica de mercado, antepondo os prprios interesses queles
da sociedade.
preciso, porm admitir a existncia de outros grupos de opinio
que creem no efeito benco das novas tecnologias para o desenvolvi-
mento democrtico, atravs de ticas diversas e, at mesmo, contrapos-
tas quelas das multinacionais. Se pensarmos nos capitalistas do Vale
do Silcio, ironicamente tachados de cyber-hippies, realmente no temos
certeza se esses grupos podem ser considerados totalmente imunes
inuncia implcita ou explcita da lgica do mercado. Seria, de igual
forma, um raciocnio simplista e equivocado acreditar que todos esses
grupos sejam apenas a expresso de tais interesses.
Entre os que anunciam o advento iminente de uma repblica da
informtica, existem tambm aqueles talvez os mais ativos que de-
nunciam a tentativa dos governos de tentar exercer um controle nor-
mativo e censor sobre as redes. Esse controle, em ltima anlise, se
conguraria como uma ameaa para os potenciais contedos eman-
cipadores das tecnologias da informao
3
. Mas no camos s nisso.
Simultaneamente a esses grupos, surgem as tendncias monopolsticas
das empresas multinacionais do setor. Eles pressentem riscos maiores e
insidiosos para o futuro da democracia.
Essa situao, por vez, apresenta uma embaraosa semelhana
com aquela sustentada pelas multinacionais, em nome do livre merca-
do. Efetivamente, as multinacionais tambm rejeitam quaisquer formas
de controle estatal. Seu nico escopo o de favorecer uma radical libe-
ralizao da mdia e das redes em benefcio prprio. Essa estratgia tem
o objetivo de transferir o poder de controle do Estado para a iniciativa
privada. Em resumo, substitui-se o controle estatal existente, notada-
mente de carter antimonopolista (mas no somente), por aquele das
novas empresas monopolistas. Estas, por sua vez, tornam-se onipoten-
fer (1995), S. L. Tablott (1995), Ph. Breton (1995), C. Stoll (1995), L. Grossman (1995), S.
London (1994 e 1995), N. P. Negroponte (1995), H. I. Schiller (1995), D. Burstein e D. Kline
(1995), J. Guisnel (1995), D. Kline e D. Burstein (1996), R. Barbrook e A. Cameron (1996),
J. Habermas (1996), P. Virgilio (1996). Na Itlia: G. Cesareo (1984), G. Sartori (1989), G. De
Michelis (1990), P. Manacorda (1990), L. Ardesi (1992), D. Zolo (1992), S. Rodot (1992 e
1995), D. Campana (1994), N. Bobbio (1995), G. De Michelis (1995), P. Colombo (1995), A.
Abruzzese (1995 e 1996).
3
Nos eua, as associaes como a eff Electronic Frontier Foundation, a cpsr Com-
puter Professionals for Social Responsability e a cdt Center for Democracy and Technology
so os baluartes contra as tentativas para legitimar a vigilncia capilar e o controle das redes
telemticas por parte da nsa National Security Agency , do fbi e de alguns membros do
senado (por exemplo, o projeto de lei Communications Decency Act, dos senadores Exon e
Gordon). Ver: J. Guisnel (1995).
1. O ciberespao um espao democrtico? 21
tes graas a uma crescente falsa liberalizao. Esse fato no uma even-
tualidade terica ou um cenrio hipottico para as prximas dcadas
j uma realidade.
A Telecommunications Act, lei promulgada pelo Senado dos eua,
em 1996, criou as bases jurdicas para desregulamentao quase total
dos meios de comunicao. Nos eua, os efeitos dessa nova ordem esto
vista de todos! Inicialmente, houve uma exploso de mltiplas inicia-
tivas que poderiam fazer pensar em um grande crescimento da concor-
rncia no mercado. O resultado obtido, contudo, foi o oposto: houve
agregao das empresas, resultando em um nmero cada vez menor
de grandes conglomerados multinacionais
4
. No seria arriscado prever
que essa tendncia a uma integrao sem regras, sob a gide da fami-
gerada mo invisvel do mercado, acabar, cedo ou tarde, banindo
as pequenas empresas do mercado. E isso no seria propriamente uma
surpresa.
Para prosseguir em um tema to complexo, parece-me necessrio
ilustrar os argumentos utilizados para sustentar a teoria, j citada, sobre
os contedos emancipatrios das novas tecnologias de informtica (e de
suas consequncias). Gostaria de apresentar apenas alguns argumentos
mais frequentes, a meu ver, mais signicativos. Ao mesmo tempo pro-
curarei explicitar a minha posio sobre cada um deles.
Os autores que consideram a telemtica como fator de alarga-
mento e consolidao das bases democrticas da nossa sociedade fre-
quentemente omitem a questo do formidvel impacto exercido por es-
sas tecnologias nos meios de comunicao. Exatamente nesse contexto
so feitas speras crticas s mdias tradicionais. Segundo esses autores,
essas mdias no suportariam o confronto com as novas mdias da in-
formtica, devido riqueza interativa destas ltimas. Com efeito, as
mdias tradicionais, por seu modus operandi vertical, descendente e uni-
direcional, tornam impraticvel uma efetiva comunicao interativa.
Isso verdade especialmente para a televiso, que o principal
alvo das crticas. Aceitando-se ou no tais crticas, no h dvida que
a televiso um meio de comunicao que se caracteriza pela absoluta
passividade do receptor das mensagens. No nenhuma novidade que
a mensagem recebida pelo telespectador fornecida unilateralmente
pela emissora.
Nos ltimos anos procurou-se introduzir alguns artifcios tcnicos
para permitir uma limitada interatividade com o telespectador. As inter-
venes telefnicas, inseridas no debate em tempo real, permitem que o
telespectador exprima sua opinio em questes pontuais. Transmisses
de espetculos e de reunies polticas e entrevistas ao vivo foram outros
4
Esta tendncia j estava presente alguns meses antes da Telecommunications Reform
Act, talvez porque se sabia de antemo, ociosamente, que a desregulamentao era iminente.
Rero-me, em particular, s associaes entre Walt Disney e abc; nbc e Microsoft; cnn e
Time Warner, sobre o papel das multinacionais na difuso de velhas e novas mdias, cf. A.W.
Branscomb (1994).
22 Cultura, Sociedade e Tcnica
artifcios encontrados. Mas no so os nicos esforos para incentivar
uma maior participao do telespectador.
Deve-se notar o recente desenvolvimento e os avanos tecnolgi-
cos da televiso interativa: video on demand, near video on demand, pay
per view, teleshopping, telebanking etc. Tudo isso, porm, no convence
os mais recalcitrantes opositores da televiso. Essas modalidades, dizem
eles, so meros paliativos. So expedientes bem grosseiros, destinados a
mascarar uma participao interativa, que absolutamente inexistente.
A televiso, portanto, pelo menos como a conhecemos hoje, teria
um futuro incerto. Alguns se antecipam e anunciam o seu desapareci-
mento para breve. Segundo eles, a televiso j no estaria atendendo s
exigncias de amplos setores da nossa sociedade. Ela no teria condies
de mudar os meios de comunicao, tornando-os menos coercitivos e
mais permeveis interao com os usurios. Observando atentamente,
a televiso estaria irremediavelmente comprometida com um sistema de
comunicao considerado no democrtico e at mesmo autoritrio.
Sua estrutura sempre foi (e continua sendo) assimtrica: de um lado,
coloca-se o emissor da informao e, do outro, o seu destinatrio.
Teleputer
As novas tecnologias deveriam contribuir para quebrar esse cr-
culo vicioso e possibilitar um caminho alternativo. No centro desse
desenvolvimento, como fato gerador de uma fundamental renovao
democrtica, estaria um novo objeto tecnolgico: o Teleputer (Telepu-
ter = televiso + computador + telefone)
5
.
Sem desmerecer os novos aspectos da atual controvrsia sobre a
televiso, cumpre lembrar que muitos dos temas atualmente discutidos
j estavam na berlinda nos anos 1950
6
. O problema da passividade do
telespectador, por exemplo, agora considerado como um dos aspectos
mais alienantes da televiso, j era discutido naquela poca pelos soci-
logos de comunicao.
A bem da verdade, frequentemente, as discusses levavam a
concluses genricas e vazias. Isso se deve a uma noo supercial de
passividade, como notou o arguto socilogo R. B. Meyersohn (1957).
Ele instigava seus colegas a fazer uma importante distino entre dois
aspectos do problema: a) o fato de que ver televiso possa conduzir
passividade; b) o fato de que assistir televiso possa ser, em si mes-
5
Um ferrenho opositor da televiso e apaixonado defensor do Teleputer o polmico
George Gilder: racista, antifeminista, consultor do poltico ultraconservador norte-americano
Newt Gingrich. Gilder anuncia profeticamente o declnio denitivo da televiso e o advento
da era do Teleputer, que deveria nos liberar dos espetculos de demncia a que nos habi-
tuou aquele pntano niilista que a televiso. Ver em P. Bronson (1996).
6
Foram importantes os ensaios de T. W. Adorno (1964), G. Anders (1957), H. Rabas-
sire (1957) e M. Hausknecht (1957).
1. O ciberespao um espao democrtico? 23
mo, um ato passivo. Conforme Meyersohn, a investigao deveria
se concentrar mais nas causas que levam as pessoas passividade e
menos nos motivos pelos quais a televiso seria um timo criador de
passividade. No nal das contas, dizia Meyersohn, frequentemente
nos esquecemos que a passividade uma caracterstica humana e no
uma caracterstica da televiso
7
.
Acredito que essa linha de interpretao possa ser til, mutatis
mutandis, no atual debate sobre a passividade. Parece-me plausvel que
o problema no esteja tanto em procurar estabelecer qual ser o equi-
pamento tecnolgico que ir favorecer a passividade e qual deles, a
atividade; mas em compreender os motivos bsicos pelos quais, em um
determinado contexto histrico, os sujeitos sociais optam pela passivi-
dade, em detrimento da atividade.
Colocado dessa maneira, o tema assume uma dimenso muito
concreta. Por essa tica, o papel dos equipamentos tecnolgicos deixa
de ser o habitual centro da questo, embora continue importante no
nosso contexto.
necessrio redimensionar certos determinismos tecnolgicos.
De forma supercial, tende-se a atribuir, a cada tecnologia, uma res-
ponsabilidade pelos fenmenos sociais e polticos de complexidade ele-
vada, para o bem ou para o mal. Rero-me especicamente s teorias
que tm como hiptese uma radical dicotomia entre a televiso passi-
vidade-pura e um teleputer interao-pura. Sem meios-termos, elas
atribuem uma natureza antidemocrtica para a primeira e democrtica
para o segundo. Percebe-se que so teorias arriscadas e, por certos as-
pectos, no intuitivas, mas que agora se torna necessrio analisar.
No tenho diculdade em admitir que a comunicao televisiva,
por motivos que j discutimos, caracterizada por uma forte passi-
vidade. Nos eua, usa-se a curiosa expresso batata de sof (couch
potato) para denir o comportamento de um teledependente, em esta-
do da quase absoluta prostrao fsica e psquica inerte como uma
grande batata afundada em um em um sof enquanto engole compul-
sivamente todo tipo de porcaria.
A este ponto, pergunta-se: temos certeza que o advento do tele-
puter possa dar incio a um comportamento substancialmente diverso?
Estamos certos que a nossa relao com o teleputer no ir se congu-
rar em uma nova verso de batata de sof? Tudo nos leva a crer que
alguma coisa parecida possa ocorrer. Existe o risco potencial de que
a passividade-no-sof-em-frente--televiso se transforme em uma pa-
radoxal interatividade-no-sof-em-frente-ao-teleputer. Ou seja, o nos-
so frentico nomadismo exploratrio da Internet no elimina a nossa
inrcia contemplativa nem o nosso sedentarismo em frente telinha,
como somos forados a acreditar. Ao contrrio, esse fenmeno pode
tornar-se ainda mais agudo e alarmante.
7
Sobre este assunto, ver o clssico tratado de H. Arendt (1959) sobre o dilema vida
ativa ou vida contemplativa.
24 Cultura, Sociedade e Tcnica
No obstante, seria errado no reconhecer algumas diferenas
que existem de fato. Sem dvidas, em ambos os casos, a atividade f-
sica relativamente reduzida. Mas o comprometimento fsico assume
caractersticas distintas. No caso do telespectador, a atividade fsica
muito pequena consiste quase que exclusivamente no uso do controle
remoto e no uso espordico do telefone. Com o teleputer a atividade
maior, pois h contnua interao atravs do teclado ou de outros
dispositivos manuais. Se desejarmos nos exprimir com a devida cautela,
seria melhor falar de uma atividade menos passiva. Por outro lado,
essa situao poderia se modicar no dia no muito distante em que
o comando do teleputer for feito via voz.
Existe ainda uma ltima diferena, talvez a mais importante, re-
lativa ao envolvimento psquico. O universo das escolhas submetidas
ao telespectador limitado, em virtude de sua natureza programada e,
portanto, predeterminada. J o universo do usurio do teleputer apa-
rentemente ilimitado. Em outras palavras: enquanto as possibilidades
de navegao do primeiro no dependem dele, pois os percursos so
impostos (ou sugeridos) pelas escolhas de outros, as possibilidades do
segundo dependem dele e somente dele. A rea de interveno do pri-
meiro seria nita e a do segundo, innita.
Embora isso seja verdadeiro, necessrio fazer uma ponderao.
Se tomarmos como exemplo a comunicao atravs da Internet, claro
que o usurio tem liberdade para decidir com o que e com quem quer
entrar em contato. E isso ocorre pelo simples motivo de que todas as
pessoas e todas as coisas esto na rede (every one and every thing is on
the net)
8
, como dizem os promotores de servios na Internet.
necessrio buscar um entendimento sobre essa propalada pos-
sibilidade de acesso absolutamente livre rede. Trata-se de um ponto
crucial no debate atual sobre a relao informaodemocracia. Uma
coisa a possibilidade de um acesso livre informao. Outra a
probabilidade dos cidados usufrurem desse acesso. A possibilidade
de estabelecer contato com tudo e com todos pode ser tcnica e legal-
mente garantida, mas no signica que ela acontea efetivamente. E isso
se deve a duas razes.
Em primeiro lugar, porque um universo de acesso homogenea-
mente disponvel levanta o problema dos vnculos subjetivos de acesso.
Ou seja, os vnculos que os atores constroem, baseados nos prprios va-
lores, crenas e preferncias, alm dos preconceitos que deles derivam.
No se busca sem saber o que se quer encontrar, e onde. Isso implica
a escolha de determinados objetivos e percursos e consequente renncia
a outros.
Em segundo lugar, existe o problema das limitaes externas da
nossa liberdade. Embora nos seja garantido o que Isaiah Berlin chama
de liberdade negativa
9
, ou seja, a ausncia de interferncia no uso
8
Cf. W. R. Johnson (1991, p. 150-175).
9
I. Berlin (1969, p. 122) Cf. G. W. F. Hegel (1965, p. 413).
1. O ciberespao um espao democrtico? 25
da rede. Portanto, a fruio efetiva de tal liberdade, na prtica, mni-
ma. Sob esse aspecto, o exemplo fornecido por Berlin me parece mui-
to instrutivo: a liberdade de se viajar pelo mundo, que formalmente
garantida a todos os cidados dos pases democrticos. Porm, para
usufruir dessa liberdade, necessrio satisfazer a algumas condies. E
poucos so os que podem se beneciar efetivamente delas. Por exemplo:
ser capaz de arcar com os elevados custos das viagens e ter o tempo
livre para empreend-las. Assim, a liberdade de acesso Internet a tudo
e a todos torna-se ilusria. tambm ilusrio supor que essa liberdade
constitua, em si mesma, uma espcie de via privilegiada de participao
democrtica global.
Existe outro aspecto que, embora esteja explcito no ponto prece-
dente, prefervel ser abordado separadamente. Rero-me ao papel que
as redes telemticas podem assumir no contexto das prticas institu-
cionais (e tambm nas no institucionais), relativos vida poltica. a
proposta de uma sociedade em que os sujeitos sociais agem e interagem
politicamente atravs das redes telemticas. Essa questo est adquirin-
do recentemente uma importncia cada vez maior.
Muitos usurios das redes consideram a repblica eletrnica
como primeira oportunidade na histria de se realizar uma verdadeira
democracia. O cenrio imaginado o de uma democracia direta,
sem procuraes e sem a interferncia de intermedirios. Os represen-
tantes do povo, embora sejam democraticamente eleitos, sempre conse-
guem escapar das normas sociais e do controle de seus eleitores.
Seria assim possvel reviver, em verso informatizada, a gora
ateniense?
10
Seria uma gora no restrita a um local geogracamente
limitado a Cidade-Estado como na Atenas de Pricles, mas um local
sem fronteiras espaciais. Seria, por assim dizer, um lugar-no-lugar
descrito como aldeia-global por McLuhan. Falamos do vasto terri-
trio no qual os cidados poderiam ser considerados, pela primeira vez
e sem retrica, verdadeiros cidados do mundo. Os atores sociais
estariam em condies tcnicas para acessar interativamente, em todo o
planeta, todos os servios de informao. E mais: ter acesso a todos os
processos decisrios, tanto nas questes corriqueiras do bairro quanto
nas grandes questes nacionais e internacionais.
Vimos anteriormente a vulnerabilidade desse cenrio. Voltemos
agora ao tema para examinar de perto alguns dos principais argumen-
tos utilizados por seus defensores. Entre esses, normalmente, dada
grande importncia ao novo tipo de relao que se estabeleceria entre
as pessoas, atravs da rede. Em teoria, todos podemos nos manifestar
e interagir com todos.
10
Sobre a democracia grega cf. Th. A. Sinclair (1951), Ch. Meier (1983), L. Canfora
(1989), N. Mateucci (1989), D. Stockton (1990), S. Hornblower (1992), C. Farrar (1992),
D. Musti (1995). Sobre a ideia grega de democracia na era moderna e contempornea, ver
R. Dahl (1989) e J. Dunn (1992). Sobre a presena no atual debate referente a democracia
eletrnica, ver L. K. Grossman (1995).
26 Cultura, Sociedade e Tcnica
Certos conceitos predeterminados como patriotismo, raa, gnero
e religio perderiam fora com um s golpe. Dessa forma, surgiriam
condies para o advento de uma cultura que enfatize os fatores de con-
vergncia e no os de divergncia entre as pessoas. Assim, acredita-se,
desapareceriam muitos preconceitos recprocos. Essa seria a contribui-
o para se criar uma sociedade baseada na tolerncia e na compreen-
so. Por outro lado, a possibilidade ofertada a todos de se comunicar
com todos, favoreceria o surgimento de comunidades virtuais.
A comunidade virtual
O que seria, na prtica, uma comunidade virtual?
11
Seria correto
consider-la como um importante fator de renovao da democracia?
Como se conciliar a ideia da comunidade virtual, baseada na fragmen-
tao, com a da aldeia global, cujo objetivo a universalizao? E se a
aldeia global for apenas uma comunidade virtual expandida, ou uma es-
pcie de comunidade virtual planetria, como aconteceria o salto de um
nvel para outro?
Existe uma caracterstica que emerge com clareza no estudo do pro-
cesso formativo das comunidades virtuais em rede. Estas nascem normal-
mente atravs da interao entre indivduos ou grupos que tm ideias,
interesses ou gostos em comum
12
. O advento das redes telemticas possibi-
litou a comunicao interativa paritria, de par-a-par (peer-to-peer), mas
ao mesmo tempo teve efeitos ambivalentes. O par-a-par, tecnicamente,
uma arquitetura de rede que opera no mesmo nvel. Contudo, assumiu um
signicado no tcnico: o de relaes que se estabelecem entre usurios da
rede que tenham uma identidade social e cultural
13
. Em outras palavras, o
par-a-par faz ligao entre almas gmeas, ou seja, entre aqueles que pro-
curam o contato, o conforto ou a colaborao entre semelhantes.
Esse o motivo que levam as comunidades virtuais a se congu-
rarem como pontos de encontro (ou trocas, apoio, refgio) nos quais se
cultivam principalmente as anidades eletivas
14
.
11
Os estudiosos do ciberespao tentaram denir a comunidade virtual nos ltimos anos.
Talvez a mais documentada e, por alguns aspectos, menos dogmtica, seja a proposta por H.
Rheingold (1993).
12
Obviamente isso no signica que membros de uma comunidade virtual de donos de
ces dlmatas devam ter necessariamente as mesmas ideias, interesses ou gostos em relao
a valores maiores. Poder-se-ia argumentar que tais valores maiores inuenciariam o modo
pelo qual cada membro da comunidade avalia o prprio empenho na criao do seu dlmata.
provvel que seja assim: pode-se facilmente imaginar as diferenas de postura entre um
animalista e um apaixonado por concursos de ces, em relao aos dlmatas. Essas sutilezas,
importantes em outras reas de reexo, no mudam substancialmente o fato de que as comu-
nidades virtuais devam ser consideradas comunidades de semelhantes. No de iguais.
13
Sobre peer-to-peer, cf. G. Gilder (1994).
14
Alguns autores acreditam que a atual tendncia agregao em torno de um tema seja
1. O ciberespao um espao democrtico? 27
Pessoalmente tenho srias dvidas sobre as possibilidades de se
obter um substancial enriquecimento da vida democrtica com um tipo
de comunicao como essa. As comunidades virtuais, enquanto asso-
ciaes espontneas de sujeitos com pontos de vista unnimes, apre-
sentam pouqussima dinmica interna. Devido ao seu elevado grau de
homogeneidade, elas tendem a ser veementes referenciais de si mesmas.
Frequentemente se comportam como verdadeiras seitas. Um exacerbado
senso de grupo tende a rejeitar qualquer diferena de opinio entre seus
membros. o fenmeno proposto por A. de Tocqueville em sua pro-
funda anlise da vida democrtica nos eua: Os americanos se liam a
associaes especcas, pequenas e variadas, para gozar em separado as
alegrias da vida privada. Cada qual percebe, com prazer, que seus con-
cidados so iguais a ele mesmo. Eu acredito que os cidados das novas
sociedades, em vez de viver em ampla comunidade, acabaro por formar
pequenos grupos
15
.
Esses pequenos grupos pertencem categoria das associaes fr-
geis. So opostas s associaes fortes, ou seja, aquelas capazes de se
enriquecer com o intercmbio de ideias e de experincias entre os que
pensam de modo diferente. Assim, fortes so aquelas associaes capa-
zes de se confrontar, como observou S. L. Talbott
16
, atravs das diferen-
as e no das semelhanas entre seus membros, como ocorre nas comu-
nidades virtuais. Essa observao particularmente importante porque
somente atravs do confronto entre posies divergentes ou mais ainda
abertamente conitantes que se pode contribuir para a consolida-
o da ao democrtica. Este no o caso das comunidades virtuais,
pois elas geralmente no favorecem um confronto dessa natureza. Isso
no signica que seus membros sejam insensveis aos valores democrti-
cos. A verdade que muitas comunidades virtuais nascem em funo de
louvveis iniciativas de solidariedade e de ajuda s pessoas necessitadas,
como exemplica H. Rheingold
17
.
Ainda sobre o tema das comunidades virtuais, existem outros as-
pectos sobre os quais gostaria de discorrer. O mais importante o que
se refere s suas razes histricas e socioculturais. Parece-me evidente
que as comunidades virtuais no resultam do advento do computador e
das redes como os cultores de um ingnuo determinismo tecnolgico
tentam nos fazer acreditar mas de um complexo percurso histrico.
semelhante agregao em torno de um totem. Sobre o neotribalismo ver M. Maffesoli.
Existem vrias divergncias interpretativas sobre qual seria a dinmica de gerao dessas agre-
gaes. Arma Z. Bauman (1993) As tribos ps-modernas devem a sua existncia exploso
da sociabilidade: a ao comum no uma consequncia de interesses individuais. Ela os
cria. O fato de a ao comum resultar dos interesses compartilhados a priori como estou
propenso a crer ou por interesses que se criam durante o desenvolvimento da prpria ao
como sustenta Bauman no muda substancialmente a natureza do fenmeno.
15
A. de Tocqueville (1981 p. 267 e 268).
16
S. L. Talbott (1995, p. 75).
17
H. Rheingold (1993).
28 Cultura, Sociedade e Tcnica
Em outras palavras, elas possuem uma genealogia. Isso se comprova
pelos valores de forte conotao populista e libertria, evocados pelas
comunidades virtuais, mostrando uma indubitvel semelhana com ou-
tras formas de comunidade do passado.
O esprito que prevalece em ambas revela analogias muito consis-
tentes, a despeito dos meios tecnolgicos atuais serem muito mais so-
sticados do que os de antigamente. Creio que as comunidades virtuais
podem ser vistas como uma espcie de moderna variao das comuni-
dades pr-industriais, que preenchiam as funes de um Estado inci-
piente ou ausente no passado. Rero-me, entre outras, s comunidades
que tiveram importncia decisiva na formao dos eua, nos sculos xvii
e xviii.
A historiograa dos eua ressalta a importncia da grande tradi-
o comunitria americana, na qual a coeso social se exprimia prin-
cipalmente atravs da ligao solidria de grupos muito restritos. Nesse
ambiente, a conquista da fronteira uma referncia imaginria de
forte apelo sugestivo guiava as aes dos primeiros colonizadores. Os
membros de pequenos grupos isolados eram convocados para um con-
fronto real, desaando um ambiente hostil. Ainda no eram membros
de uma coletividade, uma ideia muito abstrata para eles
18
.
D. J. Boorstein
19
, em sua obra The Americans (Os Americanos)
nos mostra, com ampla documentao, o papel fundamental das comu-
nidades que precederam os governos na histria dos eua. Ele armava
que desde o incio, as comunidades existiam antes da constituio de
governos, para cuidar das necessidades pblicas e para impor deveres
aos cidados. Essa ordem cronolgica, na qual as comunidades prece-
derem os governos, era impensvel na Europa, mas foi normal na Am-
rica.
Uma outra caracterstica dessas comunidades era o nomadismo.
Elas eram comunidades sem endereo xo. Boorstein as chamava de
comunidades transitrias (transient communities) ou comunidades de
passagem. interessante notar que essas autonomias espacial e tem-
poral so consideradas como um dos aspectos mais caractersticos das
comunidades virtuais. Essas e outras coincidncias nos levam a pensar
que, no por acaso, a maior parte dos profetas (e divulgadores) das
comunidades virtuais venha dos eua, onde a tradio comunitria con-
tinua viva e onipresente
20
.
18
Sobre a ideia de fronteira e sobre seu papel na formao das pequenas comuni-
dades, ver F. J. Turner (1953). Na introduo da edio italiana, M. Calamandrei cita W. P.
Webb: A fronteira no uma linha de barreira, mas uma rea que convida a entrar. Em ou-
tras palavras, a fronteira um espao innito. um espao a ser conquistado com a ecincia
operacional das pequenas comunidades e no das grandes agremiaes.
19
D. J. Boorstein (1965, p. 65).
20
Neste contexto utilizo a expresso comunitarismo para me referir ao fenmeno his-
trico e cultural no qual a comunidade considerada como a forma mais convel de agremia-
o social. Gostaria de esclarecer que o comunitarismo aqui analisado no se confunde com o
1. O ciberespao um espao democrtico? 29
Apesar de tudo, que que bem claro, no estou sugerindo que as
comunidades virtuais sejam um fenmeno explicvel apenas no contex-
to da tradio comunitria norte-americana. Por outro lado, seria equi-
vocado desprezar a inuncia que essa tradio exerceu no fenmeno
em anlise. No h dvida que a tradio comunitria, com sua rejeio
ao Estado (ou ao governo) e sua conana na livre e espontnea asso-
ciao entre indivduos, deixa implcita a ideia na qual a democracia
direta seja a nica forma genuna de democracia. Essa ideia calorosa-
mente acolhida pelos promotores das comunidades virtuais.
Democracia direta ou indireta?
importante recordar que o tema das comunidades virtuais no
pode ser separado de uma questo muito mais ampla: a ambiciosa hi-
ptese de uma alternativa telemtica ao nosso modo de entender e de
vivenciar a democracia. A diatribe entre os que apoiam a democracia
direta e os defensores da democracia indireta, identicada como a in-
termediao representativa, ou seja, parlamentar, uma constante na
histria do pensamento poltico. O foco da discurso se concentra,
substancialmente, no modo de se conceber a soberania popular.
Por ocasio do nascimento das grandes naes-estado modernas,
o modelo de democracia direta perdeu, por motivos prticos e de ges-
to, muito de sua credibilidade. Esse modelo era inspirado, como j
dissemos, nas cidades-estado da Grcia antiga. Salta aos olhos a sua
impraticabilidade quando se considera a ordem de grandeza: a tica, na
antiga Grcia, era uma regio de 2.500 km
2
com 500.000 habitantes. O
advento das naes-estado propiciou um formidvel aumento de escala
que inviabiliza comparaes: os eua possuem 9.372.614 km
2
e uma
populao de mais de 250 milhes de habitantes.
Alm disso, sabemos que o modelo de democracia direta, como
era praticado por Pricles, foi fortemente idealizado. Na realidade, a
democracia grega era menos direta e at menos democrtica do que
se imaginou durante sculos. As recentes contribuies de alguns pes-
quisadores, em particular as do dinamarqus M. H. Hansen
21
, foram
decisivas nesse sentido. Hoje parece cada vez mais claro que a famosa
denio de democracia feita por Pricles, no seu discurso fnebre cita-
do por Tucdides, tinha apenas um carter programtico.
A descrio da constituio ateniense feita por ele, apesar dos
notveis melhoramentos introduzidos por Aristides e, posteriormente,
pelo prprio Pricles, no conrmada pela realidade da polis. A cons-
comunitarismo atualmente explicado pela losoa moral (A. MacIntyre, M. Sandel, M. Walzer
e Ch. Taylor) e pela sociologia (R. Mangabeira Unger). Isso no signica que esse comunitaris-
mo, com seu contnuo apelo aos valores da comunidade, deva ser considerado completamen-
te estranho em relao ao outro tipo de comunitarismo que estamos discutindo.
21
M. H. Hansen (1985, 1987 e 1991).
30 Cultura, Sociedade e Tcnica
tituio, segundo Pricles, era feita de modo que os direitos civis sejam
garantidos no a poucas pessoas, mas maioria delas... em relao s
questes particulares, h igualdade perante a lei; quanto gesto pbli-
ca, no que tange administrao estatal, medida que cada uma vem
conceituada setorialmente, no se dar preferncia pela classe social do
gestor, mas pelo seu mrito
22
.
Basta um rpido exame daquela constituio tal como foi descrita
por Aristteles ou por um pseudo-Aristteles, como sugerem alguns
autores para nos darmos conta do quanto a realidade da polis era
distante do ideal de democracia postulado por Pricles. A constituio
surge como uma formidvel mquina, na qual a participao direta dos
cidados cava fortemente condicionada por uma srie de instncias
de mediao e de controle. As duas referncias ideais de Aristides e de
Pricles, a isonomia (igualdade perante a lei) e a isegoria (liberdade
de expresso e de opinio) parecem obstaculizadas e deturpadas.
Se verdade que ocasionalmente havia alguma participao di-
reta dos cidados, tambm verdadeiro que esse direito era exclusivo
de uma minoria. Apenas os homens adultos residentes em tica, que
representavam 15% da populao, eram reconhecidos como cidados.
O restante escravos, mulheres e mestios eram excludos da partici-
pao na vida pblica
23
.
Isso no impediu que o ideal de democracia ateniense, como pro-
ttipo da democracia direta, fosse novamente proposto pelos tericos
do ciberespao. Havia que se legitimar historicamente a democracia
da rede. Essa tendncia de miticar o modelo democrtico grego, em
verso ciberespao, muito difundida nos eua, o que no nos surpre-
ende. No se pode esquecer que Thomas Jefferson, um dos fundadores
da nao americana, imaginava uma democracia direta, de explcita
inspirao grega.
A bem da verdade, os tericos do ciberespao chegaram a Pri-
cles atravs de Jefferson. E vice-versa. Isso leva a uma espcie de dupla
idealizao: a idealizao da democracia direta de Pricles ao lado do
ideal democrtico de Jefferson. Como j foi visto anteriormente, o al-
cance do modelo grego foi amplamente relativizado. E o mesmo est
acontecendo com o modelo de Jefferson, pois percebemos suas ambi-
guidades e contradies com frequncia
24
.
22
Tucdides (1985, p. 325).
23
Quando se questiona a natureza no democrtica da sociedade grega, o lugar comum
o de uma sociedade na qual a liberdade e a participao dos cidados eram garantidas pela
escravido. A explorao macia dos escravos liberava os cidados das obrigaes do traba-
lho. Parcialmente verdadeira, essa interpretao estereotipada serviu apenas para esconder um
fato de igual importncia: na sociedade grega no eram apenas os escravos os que trabalha-
vam. Lavradores e artesos tambm gozavam dos direitos da cidadania, mas suas condies
de trabalho no diferiam muito daquelas dos escravos. Sobre este tema, ver E. Meiksins Wood
(1988) e K. Polanyi (1977).
24
No debate atual sobre a contribuio do ciberespao na realizao de uma democracia
1. O ciberespao um espao democrtico? 31
Mesmo desconsiderando essas avaliaes de natureza histrica,
ca registrado que Jefferson frequentemente celebrado como uma es-
pcie de heri precursor (avant la lettre) da democracia telemtica.
sob essa ptica que se proclama um retorno a Jefferson. Isso signi-
ca, na prtica, restaurar o suposto evangelho populista-libertrio de
Jefferson. Ou seja: retorna-se sua viso de uma democracia direta e
descentralizada, na qual a intermediao do governo e do parlamento
deveriam se restringir a um mnimo
25
.
Na poca de Jefferson, um projeto assim to ambicioso vinha
considerado como utopia. Contribua para isso a pobreza dos meios de
comunicao disponveis. Hoje, as coisas seriam radicalmente diferen-
tes com o advento dos meios de comunicao digital. As novas tecnolo-
gias da informtica seriam capazes, pelo menos em teoria, de permitir
a efetiva realizao do velho sonho da democracia direta. Para os pro-
fetas do ciberespao, as redes estariam em condies de repropor, em
bases concretas, a tradio jeffersoniana. Uma tradio amarelecida,
mas no desaparecida, e que corresponde imagem norte-americana
de democracia
26
, intimamente ligada grande tradio comunitria
norte-americana, anteriormente evocada.
Descrevendo o programa da organizao no governamental
Electronic Frontier Foundation eff, D. Burstein e D. Kline escreve-
ram: A eff ressaltou uma abordagem jeffersoniana do ciberespao.
Para os lderes da eff isso signica defender a concepo das redes
interativas em forma de um modelo aberto e no do modelo vi-
giado... no ciberespao, o jeffersonianismo signica imprimir uma
forte caracterstica de defesa da liberdade de expresso e da proteo
das liberdades individuais contra... as empresas e o governo e, de modo
geral, impedir que o governo possa se transformar na polcia da Infoes-
trada
27
.
direta, so frequentes os apelos crticos tradio jeffersoniana. Ver M. Surman (1994) e R.
Barbrock e A. Cameron (1996). No ensaio desses dois ltimos, pesquisadores da Universidade
de Westminster, h uma profanadora tomada de posio contra a gura histrica de Jefferson
e a tendncia de se fazer dele o grande precursor do programa poltico do ciberespao.
25
Jefferson, na trilha de Locke, considerava intangvel o princpio da centralidade do
povo e do cidado. Sua posio contrastava com daqueles que, como Hamilton e Madison,
procuravam limitar o poder das maiorias. Enquanto Jefferson propunha uma democracia po-
pulista, direta e antiestatal, Hamilton e Madison preferiam uma repblica que exaltasse o
papel das minorias e da intermediao representativa. Hoje se sabe que esta era uma verso
oleogrca sem valor das duas correntes ideolgicas. Entre o populismo do primeiro e o elitis-
mo dos segundos, existiram recprocas concesses, que esto na base hbrida da democracia
norte-americana. Ver R. Dahl (1956 e 1984).
26
W. Lippmann (1921).
27
D. Burstein e D. Kline (1995, p. 337). Um dos fundadores da eff, M. Kapor (1993)
escreveu: A vida no ciberespao parece se desenvolver exatamente como Thomas Jefferson
teria desejado: fundamentada sobre a liberdade individual e empenhada no pluralismo, na
diversidade e na comunidade.
32 Cultura, Sociedade e Tcnica
Do ponto de vista de um justo esprito democrtico, difcil no
estar de acordo com argumentos to amplos. As diculdades comeam
quando examinamos os detalhes. Admitindo que as redes sejam aber-
tas, temos a certeza de que sempre conseguiremos neutralizar os vi-
gilantes? E mais: quem seriam esses vigilantes? Devemos atribuir o
papel de vigilantes exclusivamente aos sujeitos diretamente oriundos
das empresas e do governo? Seriam eles que atuariam explicitamente
para restringir a nossa liberdade de expresso e invadir nossa privaci-
dade? No seria mais realista admitir que, ao lado dessa categoria de
vigilantes, existiria uma outra sutilmente ligada precedente, condi-
cionando igualmente a nossa liberdade e a nossa privacidade, mas de
uma forma implcita e no explcita?
A rigor, entidades (ou agentes) de socializao e de aculturao
como a famlia, escola, igreja, partidos polticos, sindicatos, associaes
e por que no? , os meios de comunicao, no desempenhariam o
papel de vigilantes indiretos do nosso comportamento? Do mesmo
modo, o controle social no se exerceria atravs dos valores, prefern-
cias, desejos, gostos e preconceitos inculcados nessas entidades?
Um tema de grande interesse emerge com clareza de todas essas
questes. Rero-me existncia de dois tipos de vigilantes: os visveis
empresas e governos e os invisveis. Se aceitarmos integralmente a
tese de que devemos combater apenas os vigilantes visveis, facilmente
identicveis, acabaramos por acreditar que conseguiramos neutrali-
zar esse tipo de vigilncia. Bastariam umas poucas medidas ou artif-
cios tcnicos e legais para garantirmos nossa liberdade de expresso e
protegermos a nossa privacidade.
Com isso, no desejo diminuir a importncia de tais medidas,
mas alertar contra uma verso muito simplicada dos fenmenos em
anlise. Uma verso mais elaborada deveria considerar tambm os vigi-
lantes invisveis ou menos visveis. Resumidamente, ns mesmos somos
vigilantes dos outros, cmplices inconscientes de um sistema difuso de
vigilncia recproca. Uma vigilncia que ocorre tanto pela nossa ten-
dncia de nos autocensurarmos, quanto pela nossa tendncia de censu-
rar os outros, quando eles manifestam valores que no coincidem com
os nossos.
A rede sem um centro
Neste ponto, defrontamo-nos com um tema que , talvez, o mais
estimulante entre aqueles em discusso sobre o ciberespao. Os tericos
sustentam com argumentos muito persuasivos que, em virtude de sua
natureza interativa, a rede telemtica exclui a existncia de um ponto
focal. Inexistiria um centro de controle, organizado hierarquicamente,
de onde partiriam mensagens destinadas a uma periferia passiva, indo-
lente, conformada. O argumento superconhecido: na rede tudo seria
centro e periferia ao mesmo tempo. No existiria uma sede privilegiada,
1. O ciberespao um espao democrtico? 33
a partir da qual se poderia exercer uma gesto global dos uxos comu-
nicativos
28
.
primeira vista pode-se dizer que existe algo de verdade nisso
tudo. Porm, quando se examina esse algo de forma absoluta, fora de
qualquer contexto, ocorre uma postura de prudente perplexidade. De
modo geral, com as devidas ressalvas, pode-se dizer que no existe re-
almente um centro na rede. Mas no se pode dizer que esteja exclu-
da, por princpio, qualquer forma de controle sobre os usurios. Cer-
tamente existe a suspeita, ou melhor, a certeza de que algumas formas
de controle mesmo sendo diferentes daquelas tradicionais estejam
presentes na rede.
Normalmente, quando se fala do desaparecimento do centro na
rede, recorrem-se s metforas do Panptico de Bentham e do Big Bro-
ther de George Orwell. Em resumo, o advento da rede contribui para
nos liberar daquelas ideias de centralizao de poder, expressas nessas
metforas
29
.
Parece til aprofundar a anlise dessas metforas. Gostaria, pri-
meiramente, de ocupar-me do Panptico
30
. Ele um modelo de constru-
o de penitenciria, que vai muito alm da tentativa de se encontrar
uma soluo ideal para o problema especco da vigilncia dos presidi-
rios. O Panptico uma grande metfora do poder absoluto. Um poder
que, a partir de um ponto central, capaz de exercer vigilncia absoluta
sobre tudo e sobre todos.
28
Cf. A arguta exposio de B. Latour (1991) sobre a relao local-global nas redes
tcnicas.
29
A teoria na qual o advento da rede sinalizaria o m do poder central de controle lem-
bra muito a hiptese de J. Baudrillard do m do sistema panptico. Expondo seu raciocnio
sobre a sociedade hiper-realista (ou le rel se confond avec le modle), Baudrillard escreve:
Assim no existe mais a instncia de poder, a instncia emissora o poder algo que circula,
do qual no se consegue mais identicar a fonte, um ciclo no qual as posies de dominante
e de dominado so intercambiveis, em uma alternncia contnua, que o m do poder na
sua denio clssica (1981, p. 52 n. 7). T. Eagleton tomou dura posio contra a tese de
Baudrillard: O cinismo de esquerda de um Baudrillard vergonhosamente cmplice daquilo
em que o sistema desejaria acreditar: que tudo agora funciona por si, independentemente do
modo pelo qual as questes sociais so moldadas e denidas na experincia popular (1991,
traduo italiana, p. 68). No que tange metfora do Big Brother, gostaria de citar, a ttulo
de exemplo, um trecho de um editorial do The Economist (1995): A multiplicao dos canais
de comunicao criar a anttese de um mundo orwelliano no qual o Big Brother te observa
(...). O Big Brother achar impossvel vigi-lo em meio a toda informao que passa atravs
dos os, dos cabos e das ondas.
30
A ideia do panptico, como sabido, foi desenvolvida por J. Bentham em uma srie de
cartas, mais precisamente 21, enviadas a partir de 1786 da Rssia para um amigo na Inglater-
ra e publicadas em um volume em 1791, junto com dois tomos escritos posteriormente sobre
o mesmo argumento. Trata-se de um modelo de arquitetura carcerria elaborado por Bentham
com a colaborao de seu irmo Samuel J. Bentham (1971).
34 Cultura, Sociedade e Tcnica
inevitvel expor, mesmo de forma resumida, as caractersticas
fsicas mais evidentes e bem conhecidas do Panptico de Bentham. Es-
pero que isso possa facilitar-nos a tarefa de identicar novos elementos
de avaliao da tese anti-Panptico dos tericos do ciberespao. Ben-
tham descrevia o Panptico desta forma: a residncia do guardio ou
inspetor est situada no centro do edifcio circular. As celas dos presos
so dispostas em um anel no permetro externo, orientadas radialmente
em direo ao centro.
Uma caracterstica muito importante que as janelas da residncia
so dotadas de persianas. Isso impede que os presidirios possam saber
se e quando o guardio est presente. O controle imposto ao prisioneiro
, ao mesmo tempo, real e virtual. real porque o preso se sente vigiado
e seu comportamento consequncia disso. Mas tambm virtual, visto
que o guardio pode no estar no seu posto, ainda que o vigiado no
tenha essa certeza.
Fazendo uma analogia um tanto banal, diria que o dispositivo de
controle do Panptico muito semelhante ao do cartaz Cuidado com
o co, colocado no porto de algumas casas. A existncia ou no de
um co de guarda no muda a funo intimidadora do cartaz em rela-
o ao eventual invasor. No Panptico, defrontamo-nos com a mesma
astcia de controle: um recurso tcnico que torna intercambiveis o real
e o virtual. Para Bentham, este era o aspecto essencial do seu projeto.
Tudo gira em torno do fato que se pode ver sem ser visto, o que per-
mite uma aparente onipresena do inspetor, mas sem que isso impea
a extrema facilidade de sua real presena
31
.
M. Foucault
32
, em 1975, contribuiu para uma interpretao se-
melhante do Panptico de Bentham. Deve-se recordar que houve, sobre
o mesmo tema, um importante texto do psicanalista lacaniano J. -A.
Miller
33
. Ele, como Foucault, enfatizava o aspecto visual no sentido
mais geral de observvel da relao vigilante-vigiado. Esse aspecto,
como veremos, crucial em Bentham, assim como em relao ao tema
que estamos discutindo
34
.
A metfora do Big Brother no tem um signicado muito diferen-
te daquela do Panptico. Ambas tm como referncia um poder coer-
31
M. Boovic (1995) sobre o trabalho de C. K. Ogden (1932) demonstrou recentemen-
te como o tema da relao real-virtual no Panptico recorda o Fragment on Ontology, um
apaixonante texto do mesmo Bentham, no qual desenvolvida uma teoria sistemtica das
entidades ctcias.
32
M. Foucault (1975).
33
J, -A. Miller (1975).
34
Ver M. Jay (1993). No mbito dos aspectos sociais da informtica, a metfora do
Panptico utilizada no contexto de um discurso geral do poder, mas tambm em referncia
a situaes muito concretas. Por exemplo, em relao ao problema do controle e da vigilncia
no local de trabalho. Cf. S. Zuboff (1988), A. F. Westin (1992), G. T. Marx (1992) e M. Levy
(1994). Sob uma ptica diversa, cf. R. Spears e M. Lea (1995).
1. O ciberespao um espao democrtico? 35
citivo central. Big Brother, como sabido, o apelido do personagem
do romance 1984 de George Orwell (1949). Nele, o Big Brother exerce
um poder invasivo e impiedoso numa sociedade feita sua imagem e
semelhana. Um poder exercido por meio de multimdia, atravs do
qual todas as pessoas so submetidas a um controle absoluto
35
.
Alguns dos expoentes do ciberespao esto convencidos de que,
aps a chegada da rede, nenhum tipo de vigilncia ser possvel, na
prtica. Ao contrrio, preveem o m de todas as formas de vigilncia.
Nesse cenrio, ningum poder estar de olho nos outros.
Sabemos bem que estar de olho nos outros sempre foi um passo
obrigatrio para se ter algum sob controle. Dizem que, uma vez eli-
minada a existncia de um locus central de controle, de onde se olha, se
vigia, se espia e se inspeciona a nossa vida quotidiana (e tudo o que isso
acarreta), desapareceriam todas as formas de controle que nos zeram
subservientes vontade coercitiva dos poderes manifestos e ocultos
da qual no poderamos nos libertar.
Seria verdade, como se arma, que o ciberespao decreta o m
histrico do Panptico e do Grande Irmo como ideais de poder absolu-
to? crvel que estejamos chegando ao limite crtico imaginado por He-
gel no qual essa substncia indivisa da liberdade absoluta se eleva ao
trono do mundo sem que poder algum lhe possa opor resistncia?
36
No existiria o risco, do qual Hegel tinha conscincia, ao se en-
tronizar um tipo no muito preciso de liberdade absoluta, de se
empossar um novo tipo de poder absoluto, mascarado de liberdade
absoluta?
Perguntar o leitor: como esta longa digresso sobre o Panptico
e o Big Brother poder nos ajudar a entender o que existe de verdadei-
ro (e de no verdadeiro) no ciberespao? Entendemos o ciberespao
como a negao do poder centralizado? Seria uma forma de oposio
ao sistema de poder que encontra no Panptico e no Big Brother duas
ecientssimas metforas?
35
O arcabouo institucional disposio do Big Brother era constitudo por quatro
principais elementos: o Ministrio da Verdade (responsvel pela adulterao dos fatos), o
Ministrio do Amor (responsvel pela tortura dos dissidentes), o Ministrio da Paz (res-
ponsvel por provocar a guerra) e o Ministrio da Abundncia (responsvel pela carestia).
A imagem da face do Big Brother nos teles, onde quer que fosse exposta, era sempre acom-
panhada da legenda O Big Brother est de olho em voc (The Big Brother is watching you).
Orwell escreve, com um renamento adicional emprestado do Panptico de Bentham: Ob-
viamente no existe nenhum modo de saber com exatido em que momento ele est olhando.
Um outro recurso era a Novilngua, idioma criado para impedir qualquer autonomia de
pensamento. Sobre a Novilngua de Orwell na cincia dos modernos cf. G. Girello (1994,
p. 369-370).
36
G. W. F. Hegel (1964, p.450).
36 Cultura, Sociedade e Tcnica
A teia e o labirinto
Como sabido, em portugus escolheu-se a palavra rede como
traduo do ingls web, que no est de todo errado. Mas web em in-
gls tambm (e principalmente) teia. E exatamente nesse sentido
que a palavra utilizada na gria internacional da informtica. O world
wide web (www) seria nada mais nada menos que uma teia global.
Uma rede de todas as redes que se estende por todo o planeta. Se
levamos a srio essa analogia, parece evidente que existe grande seme-
lhana entre a teia informtica e a teia de aranha, ou seja, entre a
teia de bra ptica e a teia de aranha tecida em seda.
Sabemos do risco dessa analogia, mas no exageraremos na sua
comparao. Ela poder ser til para nossa argumentao. Deixo bem
claro que a comparao entre dois fenmenos aos quais, por princ-
pio, se atribui um certo grau de anidade formal ou estrutural, no
pode consistir somente em buscar os pontos em comum. Devem-se bus-
car tambm os aspectos que no tm em comum. O olhar para as
semelhanas, de que falava Aristteles, tambm o olhar para as
diferenas
37
. Descobrir semelhanas implica evidenciar diferenas, e
vice-versa.
Quais seriam os traos semelhantes e quais os diferentes na com-
parao entre a rede informtica e teia de aranha? A pergunta, ao
contrrio do que se poderia imaginar, no irrelevante. Consideremos,
por exemplo, a mais bvia semelhana. Sabemos que a rede e a teia
de aranha tm uma coisa em comum: nehuma delas uma criao ex
nihilo, ou seja, do nada. Assim como a teia de aranha projetada,
construda e gerenciada por uma Aranha, difcil imaginar uma
rede telemtica sem algum que desenvolva uma funo equivalente
da Aranha. Ou seja, algum que a projete, que a construa e que a
gerencie.
Por motivos j discutidos, essa interpretao menosprezada pe-
los fanticos pelo ciberespao. Eles foram (e so), paradoxalmente, os
mais impetuosos promotores da rede telemtica, na sua concepo de
teia de aranha global. bem verdade que eles no armam pois
seria absurdo que as redes telemticas sejam criadas por gerao es-
pontnea. Mas levantam algumas objees.
Eles sustentam, por exemplo, que diferentemente do que acon-
tece na teia de aranha, na rede, no se pode falar de uma e s uma
Aranha que, de uma privilegiada posio central, projeta, constri e
gerencia a totalidade da rede. Em resumo, enquanto a analogia com a
teia de aranha aceitvel, o mesmo no se pode dizer da prpria Ara-
nha. Segundo dizem, a Aranha seria suprua. Consideram que as trs
funes anteriormente citadas so (ou deveriam ser) desenvolvidas por
uma incerta interao entre os usurios da rede, distribudos capilar e
homogeneamente por todo o planeta.
37
Cf. I. A. Richards (1936, p.86).
1. O ciberespao um espao democrtico? 37
A Aranha , ao lado do Panptico e do Big Brother, a terceira
metfora que os estudiosos do ciberespao rejeitam em meios termos.
As trs metforas tm em comum a centralidade, a invisibilidade e a
personalizao do poder de controle. Observando atentamente, porm,
a Aranha uma metfora bem mais resistente que as outras duas, plano
lgico. Enquanto o Inspetor e o Big Brother so personagens relativa-
mente abstratos e longnquos, a Aranha , obviamente, um sujeito que
aparece funcionalmente ligado teia. E a relao da Aranha com a teia,
goste-se ou no, inevitvel.
O elenco das metforas possveis em torno da rede no acaba
aqui. Temos de incluir mais uma, citada com frequncia pela literatura
principalmente a jornalstica sobre o ciberespao. Rero-me anti-
qussima metfora do labirinto
38
. Porm, quando os comentaristas do
ciberespao falam do labirinto no tanto como um sistema de mean-
dros com o Minotauro no centro. aquela variao mais heterodoxa
de labirinto que Umberto Eco, inspirando-se em Gilles Deleuze e Flix
Guattari, chamou de rizoma
39
.
Existem dois tipos tradicionais de labirintos: o de sentido ni-
co, tendo um nico caminho para conduzir ao centro; e o labirin-
to maneirista ramicado, contendo caminhos falsos. Umberto Eco
prope um terceiro tipo: o rizoma, descrito como a rede innita,
onde cada ponto pode conectar-se a um outro ponto e a sucesso das
conexes no tem limites tericos, pois no h centro nem periferia: em
outras palavra, o rizoma pode proliferar-se innitamente
40
.
No podemos nos esquecer da contribuio narrativa e potica
de Jorge Luis Borges ideia de um labirinto rizomtico. No seu cur-
tssimo conto Os dois reis e os dois labirintos, Borges apresenta um
rei rabe descrevendo o seu labirinto, que ele contrape ao labirinto
clssico de um rei babilnico. No meu labirinto, diz o rei rabe, no
existem escadas, nem cansativos corredores a serem percorridos, nem
muros que te impeam o caminhar
41
. O labirinto descrito nada mais
que o deserto, ou seja, um lugar subjetivamente privado de espao e
tempo. A mesma abordagem rizomtica encontra-se no poema Labi-
38
Uma outra metfora, que tambm agrada aos prossionais da informtica, aquela
que compara a rede ao sistema nervoso central. Infelizmente, para economizar na expo-
sio, sou obrigado a exclu-la de minha anlise. Ocupei-me do assunto em meu livro Il futuro
della modernit (O Futuro da Modernidade), 1987, p. 141. Cf. H. Miyakawa (1985, p.47) e
G. O. Longo (1996, p. 80-89).
39
G. Deleuze e F. Guattari (1980). Esses dois lsofos franceses assim denem o rizo-
ma: Um rizoma um caule radiciforme, absolutamente distinto das razes e das radculas.
Os bulbos e os tubrculos so rizomorfos... cada ponto de um rizoma pode ser conexo a
qualquer ponto, e deve s-lo. muito diferente da rvore ou das razes que xam um ponto, e
uma ordem (p.13).
40
U. Eco (1984, p. x). Para uma anlise sistemtica do labirinto, ver as importantes
obras de P. Santarcangeli (1967 e 1984) e de H. Kern (1981). Cf. P. Rosentiehl (1979).
41
J. L. Borges (1974, traduo italiana, v. i, p. 873 e 874).
38 Cultura, Sociedade e Tcnica
rinto: No haver nunca uma porta / Ests dentro / E o alccer abarca
o universo / E no tem nem anverso nem reverso / Nem externo muro
nem secreto centro
42
.
Aqui se coloca uma questo crucial: com a eliminao das emble-
mticas guras do Big Brother orwelliano, do Inspetor benthamiano e
da Aranha telemtica ocorrer tambm a abolio de todas as formas de
controle? Seria admissvel a hiptese de que um labirinto rizomtico
possa nos conduzir ao Trono do Mundo, citando ainda Hegel, onde
reinaria eternamente a liberdade absoluta? Ser essa a to almejada rea-
lizao da democracia ideal ou, como parece temer Hegel, o advento de
um perodo conturbado, com surgimento de um novo autoritarismo? E
ainda: e se as funes atribudas no passado a um nico Inspetor ou a
um nico Big Brother ou a uma nica Aranha fossem conadas, no fu-
turo, a milhes e milhes de usurios de uma rede rizomtica? Quem
poderia garantir que os usurios no fariam apenas o papel do vigrio,
ou seja, de um sutil representante indireto dos detentores tradicionais
do poder e, por isso, menos visveis do que antes?
A resposta supercial a essas questes que as dvidas postas so,
no nal das contas, a expresso de uma substancial falta de conana
no papel democrtico dos atores sociais, em particular, dos usurios da
rede. Avaliaes desse tipo podem ser muito esquemticas. Contudo,
fazem aluso a questes que, por sua relevncia para o futuro da demo-
cracia, no podem ser tratadas supercialmente.
Elas se referem ao tema j citado, relacionando a democracia di-
reta com a democracia comum. Esse tema obviamente est ligado mo-
dalidade de participao dos cidados em uma sociedade democrtica.
Democracia direta e autonomia
Gostaria de voltar ao tema da democracia e autonomia. Inicial-
mente apresento, em linhas gerais, as razes histrico-loscas da ideia
de democracia direta. Como j discutimos, a ideia de democracia direta
remonta ao controverso modelo da democracia grega, reproposta por
Jefferson no sculo xviii, em termos no menos controversos. Mas os
princpios fundamentais dessa ideia devem ser procurados, entre outros,
nas crticas de Locke democracia parlamentar, em que ele vislumbra
42
J. L. Borges (1974, traduo italiana, v. ii, p. 279). A sugesto que a teia de aranha (!)
seja uma alternativa ao labirinto incrivelmente atual em Borges (1974 traduo italiana, v. i,
p. 870). Existe ainda uma incrvel representao de um objeto misterioso chamado Aleph:
Fechei os olhos, abri-os. Ento vi o Aleph... Na parte inferior do degrau, direita, vi uma
pequena esfera furta-cor, de quase intolervel fulgor. A princpio, julguei-a giratria; depois
compreendi que esse movimento era uma iluso produzida pelos vertiginosos espetculos que
encerrava. O dimetro do Aleph seria de dois ou trs centmetros, mas o espao csmico es-
tava a, sem reduo de tamanho (O Aleph 1949, Editora Globo 1999, traduo de Flvio
Jos Cardoso).
1. O ciberespao um espao democrtico? 39
uma propenso congnita ao abuso e corrupo. E ainda, o mesmo
Locke exalta o papel dos indivduos no processo democrtico, at o
ponto de reconhecer-lhes o direito revolta (ou revoluo) contra os
indignos representantes
43
. A mesma desconana em relao represen-
tao e a mesma ilimitada f nos indivduos tambm est presente em
Rousseau
44
.
Atrs dessas posies est o tema da autonomia. Devemos a Kant
uma guinada decisiva no modo de se discutir esse argumento, com sua
explcita (e apaixonada) defesa da plena autonomia de julgamento mo-
ral (e poltico) dos seres humanos. Na sua resposta pergunta O que
o iluminismo?
45
, Kant convida homens e mulheres a se liberarem do
estado de menoridade (Unmndigkeit), desvencilhando-se dos tuto-
res e do humilhante jugo da tutela (Joch der Unmndigkeit). Em outro
texto, Kant teoriza a sua famosa autonomia da vontade (Autonomie
des Willens) que denida como aquela expresso da vontade que
se torna a prpria lei (independentemente de considerar os escopos do
querer), em contraposio heteronomia da vontade, na qual No
a vontade que deve ser dada como lei, mas sim os escopos que trans-
formam em lei as vontades pela sua relao com ela
46
.
Todos esses assuntos so amplamente conhecidos, mas, por uma
razo que veremos adiante, pareceu-me importante rememor-los, para
o objetivo do nosso discurso. Eles so a base da atual ideia de demo-
cracia. Ao mesmo tempo, porm, contm uma evidente nfase no papel
autnomo dos atores sociais. Esse papel pode ser visto, na tica atual,
em contraste com a instituio da democracia representativa. De certa
forma, eles podem parecer como antecipaes de algumas propostas,
como a da democracia online, que hoje procuram radicalizar a ideia de
democracia direta.
Emerge aqui uma questo particularmente complexa. No exis-
tem dvidas que um elemento essencial da democracia aceitar que
todos os indivduos adultos sejam capazes (e tenham o direito) de par-
ticipar ativa e livremente dos processos decisrios referentes aos seus
interesses e aos da comunidade, independentemente de gnero, raa,
nvel de renda ou de instruo. Isso, em substncia, signica que todos
os cidados, sem excees, devam ser considerados igualmente capaci-
tados para avaliar, julgar e gerir tais processos. o que Dahl chamou de
o princpio forte de igualdade
47
.
Todas as vezes que se tentou enfraquecer (ou relativizar mais que
o devido) esse princpio, o conceito de democracia (e a democracia em
si) tornou-se nebuloso. Na prtica, no existe democracia que consiga
sobreviver quando, luz de experincias negativas, reproposto aquele
43
J. Locke (1801, p. 470-471).
44
J. -J. Rousseau (1964, p. 428-430).
45
I. Kant (1968, p.53).
46
I. Kant (1956, p. 74 e 75).
47
R. A. Dahl (1989, p. 31) Cf. do mesmo autor (1982).
40 Cultura, Sociedade e Tcnica
conceito de estado de menoridade do qual falava Kant. Nesse estado,
os cidados so considerados crianas, pouco conveis, que necessitam
de permanente tutela. Em resumo, trata-se do governo dos guardies
platnico.
Apesar de tudo, inegvel que a democracia tenha tido sempre,
nos seus recnditos, problemas ainda sem respostas convincentes. Es-
tes constituem o ncleo temtico central da losoa poltica desde o
sculo xvii e que so as grandes questes: a relao entre autonomia e
autoridade, entre liberdade e igualdade, entre liberdade individual e o
estado
48
.
H uma crtica que arrisco a fazer aos atuais expoentes da lo-
soa poltica. Estou inclinado a pensar que, com poucas excees, eles
no tenham ainda sabido (ou desejado) perceber que a democracia on-
line traz elementos de novidades no secular debate sobre a relao entre
o fundamento ideal e o funcionamento concreto da democracia. No se
pode ignorar que a repblica eletrnica ressuscita algumas das velhas
contradies da democracia, de modo mais agudo que no passado. Se
antes era possvel encontrar solues mais ou menos plausveis para
essas contradies por exemplo, a pequena consolao do princpio
de Winston
49
o novo modelo alternativo que est se congurando
to insidioso que seria irresponsvel no confrontar os seus aspectos
tericos e prticos.
Digo insidioso, pois trata-se, talvez pela primeira vez na histria,
de um modelo com a base ideolgica se apoiando em um complexo
tecnolgico as tecnologias digitais de sosticao sem precedentes.
Por sua formidvel capacidade de penetrao, um complexo que per-
mite modicar radicalmente, ao menos em teoria (mas no somente), a
conformao da nossa sociedade. E isso sem que esteja totalmente claro
se tais mudanas seriam desejveis ou no. A meu ver, este o desao
terico que os estudiosos de losoa poltica deveriam considerar prio-
ritariamente.
Como vimos h pouco, um dos pressupostos bsicos da democra-
cia a autonomia dos cidados, ou seja, o direito a exercer livremente a
prpria autonomia como atores sociais. Os lsofos da poltica, ou pelo
menos aqueles de indiscutveis convices democrticas, sempre susten-
taram a intangibilidade desse princpio
50
. Ele se identica totalmente
48
Estes problemas j estavam presentes em Plato, Aristteles, Santo Agostinho e So
Toms de Aquino. Foram retomados por Hobbes, Spinoza, Locke, Hume, Montesquieu, Vol-
taire, Rousseau, Bentham, Mill, Marx e Sidgwick. E, depois, por Dewey, Schumpeter, Kel-
sen, Schmitt e, mais recentemente, por Rawls, Arrow, Luhmann, Nozick, Taylor, MacIntyre,
Dworkin, Unger, Berlin, Sen, Harsanyi, Williams, Habermas e Bobbio. No atual estado do
debate sobre a losoa poltica, existe uma vasta literatura. Frequentemente, os temas discu-
tidos no so facilmente separveis daqueles prprios da losoa moral.
49
Por princpio de Winston entende-se a famosa boutade atribuda a Winston Chur-
chill: A democracia o pior sistema de governo, excluso de todos os demais.
50
Um exemplo esclarecedor sobre o assunto a veemente defesa da autonomia por parte
1. O ciberespao um espao democrtico? 41
com o que Voltaire chamava o o poder de escolher livremente aquilo
que lhe parece bom (pouvoir de se dterminer soi-mme faire ce que
lui parat bom)
51
.
O tema eivado de aspectos pouco claros, tanto em nvel concei-
tual quanto no prtico. No mnimo, so menos claros do que normal-
mente se supe. Quase sempre a autonomia examinada em funo da
relao que se estabelece entre os cidados, ciosos da prpria liberdade
de autonomia, e a parte oposta, que busca limitar essa autonomia. Em
resumo, h constante embate entre os cidados, de um lado, e o poder
do outro.
Existe ainda outro problema que raramente aparece nas reexes
sobre o tema: os cidados e o poder no so dois compartimentos es-
tanques. Deve-se considerar que os cidados so indivduos cuja iden-
tidade fortemente moldada pelos condicionamentos diretos ou indi-
retos das instituies do poder. Assim, os cidados fazem parte de um
sistema de poder. Em outras palavras, no se pode atribuir uma espcie
de imaculada autonomia, ou um purssimo estado de inocncia
aos cidados
52
.
No se pode deixar ao acaso essa realidade em qualquer discurso
sobre a autonomia dos cidados. Goste-se ou no, a nossa autonomia
se coloca em um contexto em que a heteronomia inexorvel.
J assinalamos o papel desempenhado pelas instituies que fa-
zem socializao e aculturamento: a famlia, a escola, as igrejas, os par-
tidos, as associaes e a mdia. Dizamos: essas instituies nos incutem
os valores, as preferncias, os desejos, os gostos, as crenas e os precon-
ceitos que condicionam as nossas escolhas pessoais e pblicas.
de S. Veca, perspicaz intrprete do neocontratualismo rawlsiano: Quem tentar ou conseguir
me impedir de fazer o que desejo, viola o pressuposto da teoria do valor moral da escolha.
Naturalmente, exceto nos casos de um despotismo obtuso ou caliguliano, a violao e a in-
terferncia sero acompanhadas da mesma ladainha de motivos e justicativas, ou melhor, de
racionalizaes: que ns no somos os melhores intrpretes dos nossos verdadeiros interesses,
que existe algum mais sbio, mais prudente e mais bem informado do que ns que sabe
o que melhor para ns. Em outras palavras, as razes e as justicativas, ou melhor, as ra-
cionalizaes alegadas fazem parte do familiar e recorrente argumento paternalista, seja este
reproposto pela igreja, pelos partidos, por gurus, pelas elites teocrticas ou tecnocrticas, pe-
los militares ou por aguerridas milcias publicitrias, por programas de televiso mais a leitura
matinal do jornal do burgus, concordando com Hegel (1990, p.66).
51
Voltaire (1961, p.161).
52
Nesta ordem de ideias, G. Sartori (1995) forneceu uma verso muito articulada do
problema. Ele escreve: As opinies no so inatas nem esguicham do nada so o fruto
dos processos de formao. De que modo, ento, as opinies se formam ou so formadas?
(p. 183). E mais adiante: Quem faz... a opinio que se torna pblica? (p. 188). Com base
em uma reinterpretao do famoso modelo em cascata (cascade model) de K. W. Deutsch,
Sartori responde: todos e ningum. (Uma tese por acaso muito semelhante quela ante-
riormente exposta, sobre os estudiosos do ciberespao, para os quais o poder na rede estaria
em toda parte e em nenhuma parte). Diante dessa diculdade em identicar concretamente
42 Cultura, Sociedade e Tcnica
Naturalmente um equvoco certo hipostasiar essa assuno, no
sentido losco. Basta pensar nas simplicaes do pensamento do
lsofo alemo Herbert Marcuse nos anos 1960 e 1970. As nossas as-
sunes culturais e sociais nos foram impostas (ou sugeridas) de fora
e do alto, ou seja, dos mecanismos utilizados pela ideologia e pela
cultura dominantes. Mas no somos uma caixa preta passiva, na
qual no haveria nenhuma diferena entre a informao de entrada
(input) e a informao de sada (output), como gostariam os anti-
mentalismos radicais.
Seria uma reedio, em termos diferentes, do velho embate teol-
gico (agostiniano) sobre o livre arbtrio? No se descarta a ideia. Mas,
a partir de Kant, sabemos que, por sorte, o determinismo sobre o nosso
comportamento no total. No existem dvidas de que ns, no pro-
cesso de metabolizao dos ensinamentos inseridos de forma oculta
ou evidente em nossa alma somos capazes de reelabor-los ou ain-
da de modic-los. E, no raramente, de modic-los contrariando os
ensinamentos recebidos.
No por acaso, essa viso laica e de livre arbtrio, apresenta alguns
pontos controversos. E os questionamentos suscitados no so despre-
zveis. Eles atacam frontalmente a questo da autonomia. Se uma parte
de ns respeitadora e outra desrespeitosa das regras da sociedade em
que vivemos, como podemos avaliar o grau da nossa real autonomia?
Dito de outro modo: em que sentido e em que medida somos obedien-
tes, dceis e obsequiosos executores das regras estabelecidas e em que
medida somos livres para decidir com plena autonomia? Colocando de
forma ainda mais simples: em que senso e em que medida somos verda-
deiramente autnomos?
53
Nessa tica, torna-se til recordar o convite que nos faz Schumpe-
ter: sermos realistas nas nossas avaliaes do que acontece na democra-
cia, no confundindo a democracia ideal com a real. Alguns estudiosos,
entre os quais Dahl
54
, denunciaram justamente os riscos existentes na
posio de Schumpeter, sobretudo na sua desconcertante teoria da rela-
o excludosincludos na sociedade democrtica. Em Schumpeter, to-
davia, existem outros aspectos sobre os quais devemos reetir. Ele teve
o mrito de ter enfrentado o tema da autonomia, chamando a nossa
quem (ou o que) responsvel pelo processo formativo da opinio pblica, Sartori deduz que
a opinio pblica pode muito bem ser considerada autntica: autntica porque autnoma, e
certamente autnoma o suciente para fundar a democracia como governo de opinio. Devo
dizer, porm, que aqui Sartori arrisca passar das premissas para concluses nada convincentes.
53
A. K. Sen, examinando um aspecto essencial da questo da igualdade se perguntou:
Por que a igualdade? Igualdade do qu? (1992). A mesma pergunta, com razovel aproxi-
mao, pode ser mudada para: Por que a autonomia? Autonomia do qu?. Como acontece
com a igualdade, a verdade que somos autnomos em relao a algumas (poucas) coisas e
no somos em relao a (muitas) outras.
54
R. A. Dahl (1989), p. 121-123, 128-130). Sobre o realismo poltico de Schumpeter, ver
D. Zolo (1992).
1. O ciberespao um espao democrtico? 43
ateno para o papel dos aparelhos de socializao e de aculturamento
como fatores de heteronomia.
Permito-me citar integralmente um famoso trecho do Capitalis-
mo, socialismo e democracia:
Por necessidade prtica, somos obrigados a atribuir, vontade
do indivduo, uma independncia e uma qualidade racional que
so absolutamente irrealistas. Para que a vontade do cidado per
se seja considerada um fator poltico digno de respeito, essa von-
tade deve, em primeiro lugar, existir. Ou melhor, deve ser algo
mais do que um conjunto indeterminado de motivos vagos, circu-
lando frouxamente em torno de slogans e percepes errneas. O
homem precisaria ter convices sobre aquilo que deseja defen-
der. Essa clara vontade precisaria ser complementada pela capa-
cidade de observar e interpretar corretamente os fatos que esto
ao alcance de todos, e selecionar criticamente as informaes re-
levantes em cada caso. (...) O cidado modelo teria de fazer tudo
isso sozinho e sem se deixar inuenciar por grupos de presso
ou propaganda. As vontades e inuncias impostas ao eleitorado
evidentemente no podem ser aceitas como condies vlidas ao
processo democrtico. (...) Os economistas, ao aprenderem a ob-
servar mais cuidadosamente os fatos, comearam a descobrir que,
at mesmo nos aspectos mais comuns da vida diria, os consumi-
dores no correspondem ao modelo geralmente descrito nos ma-
nuais econmicos. De um lado, suas necessidades aparecem bem
denidas, e as aes provocadas por essas necessidades, prontas
e racionais. Por outro lado, os consumidores so to sensveis
inuncia da publicidade e outros mtodos de persuaso que
os produtores muitas vezes parecem querer orientar mais do que
serem orientados por eles. A tcnica da publicidade particular-
mente instrutiva neste sentido
55
.
Esse trecho do livro de Schumpeter, publicado em 1942 (prova-
velmente uma reelaborao de textos escritos nos anos 1930), expressa
uma postura polmica adotada pelo autor naquela poca
56
, contrapon-
do-se aos expoentes da doutrina clssica da economia. Schumpeter
adotou uma posio enrgica contra a tendncia de se considerar os
cidados completamente autnomos nas suas preferncias e nas suas
escolhas.
Considero que essa postura do Schumpeter ainda continua bas-
tante atual. Mudou o modo de trat-la. Anteriormente, a abordagem
ao tema era prevalentemente econmica e agora losca. O aspecto
privilegiado passou a ser o da compatibilidade (ou no) entre necessida-
55
J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democracia (Editado por George Allen e
Unwin Ltd., traduzido por Ruy Jungmann). Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961.
56
Cf. E. Salin (1950).
44 Cultura, Sociedade e Tcnica
de e liberdade. Em certo sentido, o tema da autonomia retorna s suas
origens (a Hobbes, Locke e, principalmente, a Hume, Bentham e Mill).
Mas agora a pesquisa focada, de um lado, nos seus aspectos lgicos,
semnticos e epistemolgicos
57
. Do outro, sobre a utilidade, a justia
(ou equidade), a igualdade e a qualidade de vida
58
. Alguns desses pres-
supostos so categorizados no emergente embate entre neoutilitaristas e
neocontratualistas.
Em ambos os casos, apesar do indubitvel renamento dos ins-
trumentos de anlise utilizados, o problema da autonomia aborda-
do de forma supercial. Note-se que utilizo a palavra autonomia na
acepo anteriormente introduzida. Ou seja, liberdade negativa dos
cidados
59
relaciona-se a eventuais vnculos e coeres impostas pelo
poder vigente (liberdade de expresso, liberdade de imprensa, liberdade
de associao, entre outras). tambm a autonomia que depende do
grau de liberdade que podemos (ou no) gozar em relao ao sistema
de valores que este mesmo poder nos impe.
Mesmo considerando que esta ltima forma de autonomia possa
parecer o oposto da precedente, uma espcie de liberdade positiva, a
bem da verdade, s uma variante da liberdade negativa.
F. A. Hayek (1960) assinalou que a perda da nossa liberdade no
ocorre apenas quando somos submetidos a uma limitao coercitiva da
nossa vontade. Isso ocorre da mesma maneira quando a limitao no
coercitiva, isto , quando exercida atravs de meios suaves de so-
cializao e aculturamento. Ainda que exista uma substancial diferena
(que Hayek parece no ter compreendido sucientemente) entre ser si-
camente privado da liberdade de querer e ser persuadido a pensar e, em
consequncia, querer de um determinado modo e no de outro.
O tema tem uma estreita relao com a to discutida liberdade
57
Nesta rea de pesquisa, so importantes as contribuies de g. e. m. Anscombe, D.
Davidson, G. H. von Wrigth e J. R. Searle. Trata-se de contribuies que, a grosso modo, reto-
mam a anlise de muitas questes levantadas por Moore, Wittengstein e Austin (por exemplo,
Anscombe e von Wright), alm das propostas por Brentano e Austin (por exemplo, Searle) e
outras ainda por Quine (por exemplo, Davidson). Certos aspectos da teoria de Searle sobre
a intencionalidade (1983) so de especial interesse para o nosso argumento. Examinando o
problema da relao causalidadeintencionalidade, Searle faz uma distino muito prtica en-
tre a rede de estados intencionais (network of intentional states) e o contexto de capacidade e
de prticas sociais (background of capacities and social practices). Ou seja, entre um universo
intencional e outro pr-intencional.
58
No pretendo com isso referir-me exclusivamente s crticas feitas por alguns expoen-
tes do atual utilitarismo (por exemplo, J. C. Harsanyi, 1976 e 1988) teoria da justia de
John Rawls (1971 e 1993), mas a todas as tomadas de posio oriundas da obra desse estudio-
so. Sem excluir aqueles que se recusam a posicionarem-se como utilitaristas ou contratualistas
(por exemplo, R. Nozick, 1981 e 1993).
59
Notoriamente, o primeiro a fazer a distino entre liberdade negativa (liberdade
para) e liberdade positiva (liberdade de) foi Hegel (1965, p. 413). Essa distino foi adota-
da, com algumas modicaes, por I. Berlin (1969).
1. O ciberespao um espao democrtico? 45
de conscincia. Essa liberdade de conscincia foi objeto, no passado,
das mais variadas interpretaes. Ela frequentemente entendida como
liberdade para expressar publicamente as prprias ideias e credos, livre
das interferncias e de impedimentos externos. No por acaso a liber-
dade de culto religioso, por exemplo, comumente defendida em nome
da liberdade de conscincia. Por outro lado, ela compreendida tam-
bm no sentido de uma independncia subjetiva do pensamento, como
a liberdade de pensar por conta prpria, como a liberdade que Leibniz
identica com o poder de seguir a razo (pouvoir de suivre la raison)
60
.
Mas as coisas no so to simples. A introduo do conceito de
falsa conscincia (falsche Bewutsein), pelo marxismo, contribuiu
para complic-la. Engels, em sua famosa carta a Mehring, escreveu: A
ideologia um processo elaborado conscientemente pelo pensador, po-
rm com falsa conscincia. Os marxistas tiveram ideias bem claras do
que seria uma falsa conscincia caracterizada como alienao, es-
tranheza em relao prpria realidade, reicao, entre outras mas
deixaram muito vago o que seria uma verdadeira conscincia. Expli-
caram bem o que seria a conscincia ideolgica, mas foram omissos em
explicar a conscincia no ideolgica.
Supondo que tal distino seja defensvel, necessrio reconhe-
cer que ela tem grandes implicaes para o tema da liberdade. evi-
dente que a liberdade de conscincia no pode ser evocada unicamente
como prerrogativa de uma presumvel verdadeira conscincia, mas
tambm como um direito que deve ser garantido falsa conscincia.
No apenas como um privilgio exclusivo da conscincia autntica,
conforme Heidegger
61
, mas como um direito que deve ser estendido
tambm conscincia inautntica. Negar essa assuno pode levar
como de fato leva a cancelar ou a tutelar a liberdade daqueles que
julgamos portadores da falsa conscincia. E tudo em nome de uma
verdadeira conscincia, que obviamente seria sempre a nossa e so-
mente a nossa.
O problema, todavia, reside quase sempre na inegvel ambiguida-
de do conceito da verdadeira conscincia. Ele apresentado como uma
espcie de conscincia primordial, cuja perversa consequncia seria a
falsa conscincia, uma fuga ilusria (ou sublimada) diante das condi-
es histricas adversas (o capitalismo).
Uma ulterior complexidade foi acrescentada, atribuindo-se a
propriedade de reversibilidade ao fenmeno. A verdadeira consci-
ncia, deixada de lado momentaneamente, por causa das condies
adversas (o capitalismo) poderia ser recuperada quando as condies
favorveis (o socialismo) fossem restabelecidas, permitindo superar a
falsa conscincia.
60
G. W. Leibniz (1994, p 80).
61
Para uma severa crtica s noes de autenticidade (Eigentlichkeit) e inautentici-
dade (Uneigentlichkeit) de Heidegger, ver Th. W. Adorno (1964).
46 Cultura, Sociedade e Tcnica
No nal das contas, goste-se ou no, depara-se com a pergunta
de sempre: os seres humanos podem ser considerados verdadeiramente
livres nas suas aes, enquanto sujeitos agentes, admitindo-se que so,
em maior ou menor grau, predeterminados nos seus desejos e crenas?
E, se a resposta for positiva, devemos forosamente considerar que as
nossas aes so livres em termos absolutos? Ou mais concretamente:
devemos admitir que a nossa liberdade de agir no depende de fatores
endgenos ou exgenos que, conforme a natureza de nossa ao, pos-
sam deixar mais ou menos efetivo (ou plausvel) o exerccio da nossa
liberdade? E se no for assim, como me parece razovel supor, isso
signica que o nosso agir sempre livre, da mesma maneira e na mesma
medida? No seria mais justo pensar que o nosso agir, mesmo livre, pos-
sa ser mais ou menos livre para exprimir-se em formas e modalidades
diversas?
Repblica eletrnica
Creio que se possa lanar luz sobre essas questes, caso elas sejam
enfrentadas de forma no genrica como no passado e sim no contexto
dos problemas levantados no mbito de uma hipottica repblica ele-
trnica. Nesse sentido, inicialmente, devem-se examinar as caractersti-
cas dessa hiptese. A repblica eletrnica (tambm chamada nos pases
de lngua inglesa de teledemocracy, wired democracy, video democracy,
electronic democracy e push button democracy) pressupe um cenrio
com informatizao dos procedimentos e dos comportamentos operati-
vos, atravs dos quais os cidados exercem o seu direito democracia
62
.
Rero-me vasta gama de tcnicas que os cidados podem utili-
zar para participar dos processos eletivos dos seus governantes e repre-
sentantes em todos os nveis. Existem tambm aquelas que se aplicam
elaborao ou planejamento das decises pblicas. Concretamente,
pode-se citar o processo de voto nas eleies federais, estaduais e muni-
cipais, referendos diversos e ainda as votaes corriqueiras da atividade
parlamentar. Isso sem excluir as vrias tcnicas de sondagem de opinio
em tempo real, bem como aquelas que permitem a interao direta en-
tre os cidados e seus representantes. As tcnicas at aqui relacionadas
pertencem rea que chamaremos de comunicao poltica
63
.
Considero que esse tema da comunicao poltica ocupe uma
posio central no programa (ou programas) da repblica eletrnica.
Existe ainda outro tema, o da informatizao do sistema burocrtico do
estado, que no pode ser, absolutamente, menosprezado. Reinventar
62
O termo repblica eletrnica consensual, sobretudo aps a publicao do livro The
electronic republic de L. K. Grossmann (1995). Este livro foi precedido de um excelente
ensaio de D. Ronfeldt (1991), no qual eram teorizados uma cyberdemocracia e um estado
cybercrtico.
63
Para uma discusso geral sobre este tema, cf. F. Ch. Arterton (1987).
1. O ciberespao um espao democrtico? 47
o governo o ecaz slogan que D. Osborne e T. Gaebler
64
cunharam
para promover esse ambicioso projeto. preciso levar em conta que
existe, em todos os pases democrticos industrializados, uma profunda
crise de conana e de credibilidade por parte dos cidados em relao
ao que chamamos genericamente estado ou governo. Essa quebra
de conana tem vrios motivos. Dentre eles, talvez o mais importan-
te, que os cidados toleram cada vez menos a burocracia estatal, o
exasperante formalismo dos procedimentos, a obtusa centralizao, a
inecincia impune, a rigidez das normas e o desperdcio irracional de
recursos.
Alguns autores procuraram explicar as razes histricas da atu-
al degradao do desempenho das estruturas pblicas usando vrios e
persuasivos argumentos. Segundo D. Tapscott (1995, p. 161), o sistema
organizacional predominante na burocracia estatal foi inuenciado pela
organizao tpica das empresas industriais do sculo xix. Estas base-
avam-se no modelo de comando e controle centralizador e hierarqui-
camente verticalizado, como ainda persistem em certas organizaes,
a exemplo das foras armadas. Nos anos 1920, as empresas industriais
comearam a renovar e passaram a adotar o modelo multidivisional
descentralizado (A.D, Chandler, 1962), mas a burocracia estatal con-
tinuou ligada ao vetusto modelo original
65
.
A repblica eletrnica baseia-se em duas reas programticas. De
um lado, adota a proposta de informatizao da comunicao poltica
e, de outro, a informatizao dos sistemas administrativos do estado.
Existe ainda uma terceira rea, resultante de uma sobreposio parcial
(ou acavalamento) das duas precedentes.
64
D. Osborne e T. Gaebler (1992).
65
O modelo original, como sabido, foi desenvolvido em condies muito diferentes
das atuais, como relembram David Osborne e Ted Gaebler (op. cit. p.15): Foi desenvolvido
em uma sociedade de ritmo lento, onde as mudanas aconteciam lentamente (...) em uma era
de hierarquias, em que somente as pessoas do vrtice da pirmide possuam sucientes infor-
maes para a tomada de decises (...) em uma sociedade de pessoas que trabalhavam com as
mos e no com a mente (...) em um tempo de mercado massicado, quando a maior parte dos
americanos tinha desejos e necessidades semelhantes (...) quando havia fortes laos entre as co-
munidades locais bairros e cidades intimamente ligados (...). Hoje tudo isso foi jogado fora.
Ns vivemos em uma poca de extraordinrias mudanas (...) em um mercado global, que
exerce uma enorme presso competitiva sobre as nossas instituies econmicas (...) em uma
sociedade da informao, em que as pessoas tm acesso informao to rapidamente quanto
seus lderes (...). Em tal ambiente, as instituies burocrticas pblicas e privadas desen-
volvidas durante a era industrial, tornam-se obsoletas. O atual ambiente requer instituies
extremamente exveis e adaptveis (...) instituies que sejam sensveis aos seus usurios (..),
que sejam comandados por lderes em vez dos chefes, que sejam dirigidas por persuaso e
incentivos em vez das ordens (...) que sejam capazes de potencializar os cidados em vez de
simplesmente servi-los. Mas a obstinada resistncia em aceitar o novo desao est levando
a uma progressiva calcicao das artrias que nutrem a democracia. Esse fenmeno foi
chamado de demosclerose por J. Rauch (1995).
48 Cultura, Sociedade e Tcnica
Na tica da repblica eletrnica, existem dois ambiciosos programas de
modernizao: reinventar o governo e reinventar a poltica. Eles
so considerados interdependentes e, portanto, inseparveis.
No plano terico, tudo isso poderia ser visto como uma tentativa
de racionalizar o funcionamento global da nossa sociedade com a ajuda
das tecnologias informticas. Isso asseguraria maior participao de-
mocrtica dos cidados e tambm maior ecincia do sistema gestor da
administrao pblica. Se fosse assim, no existiriam objees
66
. Con-
tudo, existem divergncias. No programa destinado a reinventar o go-
verno possvel encontrar linhas de convergncia e de possvel acordo,
mas no se pode dizer o mesmo do programa que pretende reinventar
a poltica.
A bem da verdade, existem importantes divergncias, at mesmo
entre os defensores da repblica eletrnica. As posies so basicamen-
te duas: de um lado esto aqueles para os quais informatizar a comu-
nicao poltica signica propiciar uma participao mais direta dos
cidados. O objetivo disso seria o reforo (e no um enfraquecimento)
da democracia representativa. De outro lado, esto os que pensam de
forma muito mais radical. Para estes, informatizar a comunicao pol-
tica signica criar condies para alcanar, em um futuro que imaginam
muito prximo, uma verdadeira alternativa democracia representa-
tiva. O primeiro programa visa melhorar a democracia existente e, o
segundo, subvert-la.
Examinemos esse ltimo modo de enxergar a repblica eletr-
nica. Nos eua, Ross Perot o pitoresco bilionrio texano, candidato
derrotado nas eleies presidenciais de 1992 apresentou a mais instru-
tiva viso da repblica eletrnica durante sua campanha eleitoral. Ele
pregou uma rejeio explcita do governo, do parlamento e da poltica
em geral, ou seja, daqueles de Washington. Esse modelo, teorizado de
modo confuso (e em parte praticado) por Perot, cou conhecido como
cidadela eletrnica (electronic town hall)
67
.
66
supruo recordar aqui, por ser muito bvio, os efeitos indubitavelmente positivos
da telemtica nos servios pblicos prestados aos cidados. Considero improvvel que algum
incluso quem escreve seja capaz de demonstrar o contrrio, ou seja, que a informatizao
dos servios pblicos no possa contribuir, direta ou indiretamente, para melhorar a qualidade
e o desempenho do servio pblico. Basta pensar, a ttulo de exemplo, na possibilidade de
se obter, atravs do teclado e em tempo real, certides de registro civil e servios de sade
(marcao de consultas, de exames, de internaes). Mas tambm na possibilidade de acesso
s informaes que os cidados tm necessidade. Rero-me, por exemplo, consulta ao Dirio
Ocial (leis, concursos etc.) dos atos e documentos referentes s deliberaes federais, estadu-
ais e municipais, dos projetos de lei e do seu respectivo trmite parlamentar, alm das sentenas
judiciais.
67
Para estudo da electronic town hall de Ross Perot, ver P. F. Hanter (1993). Fre-
quentemente, no debate americano sobre Perot, utilizam-se as expresses electronic town hall
e electronic town meeting como sinnimos. Como notou S. Vicari (1993), so duas coisas
diversas. A primeira tem um signicado mais restrito. A segunda, mais amplo.
1. O ciberespao um espao democrtico? 49
Certamente Ross Perot no foi o primeiro a postular uma demo-
cracia direta que, atravs dos meios de comunicao de massa, tentasse
enfraquecer as atuais estruturas do estado liberal-democrtico. Os au-
tores de best sellers, Alvin Tofer e John Naisbit
68
foram, com alguns
anos de antecedncia, muito mais explcitos que Perot. Na verdade, es-
ses dois futurlogos foram muito alm de Perot. Eles chegaram ao c-
mulo de propor uma drstica mudana da Constituio dos eua, como
pr-requisito para possibilitar uma democracia eletrnica direta. Essa
democracia, na opinio deles, deveria basear-se no absoluto repdio a
toda e qualquer forma de representao. Em resumo: uma democracia
plebiscitria de uxo contnuo.
Essa proposta pode parecer excntrica, mas encontrou outros se-
guidores. Por exemplo, o ultraconservador Newt Gingrich, porta-voz
da Cmara dos Deputados considera-se um pupilo de Tofer, sendo um
inimigo declarado de qualquer tipo de representao. H pouco tempo,
Gingrich confessou que sua concepo poltica foi, desde o incio, forte-
mente inuenciada pela ideia de uma democracia antecipatria
69
.
A bem da verdade, atualmente o prprio Tofer apresenta uma
verso bem moderada da democracia direta, muito distante daquela por
ele exposta no Choque do futuro (1970) e em A terceira onda (1980).
Isso, talvez, procurando evitar que o antiparlamentarismo excessivo
daqueles textos possa colocar diculdades ao parlamentar Gingrich.
Acrescente-se ainda a necessidade de se manter distncia de Ross Perot.
Escrevem A. e H. Tofer
70
: No se trata aqui de cidadelas eletrnicas
na forma tosca apresentada por Ross Perot. Agora so possveis proces-
sos democrticos muito mais sutis e sosticados. E no uma questo
de democracia direta versus democracia indireta, de representatividade
versus no representatividade. Muitas solues criativas podem ser in-
ventadas para combinar as democracias direta e indireta.
A forma tosca de Perot, apesar de sua rudeza e dos aspectos
caricaturais, nos permite compreender melhor que em Tofer a subs-
tncia poltica da retrica de uma democracia eletrnica direta. Pelo
menos aquela expressa por Perot, mas tambm por Tofer, Gilder e
at Gingrich, a despeito das diversas variaes do modelo. O slogan
preferido de Perot (e tambm de Tofer e de muitos outros) encontre
as pessoas (go to the people). No caso especco de Perot, esse slogan
68
Ver A. Toer (1971 e 1980) e J. Naisbit e P. Aburdene.
69
No prefcio de um livro de A. e H. Tofer (1995, p.16), Gingrich escreveu: Eu co-
mecei a trabalhar com os Tofer no conceito de democracia antecipatria no incio dos anos
1970. Eu era um jovem professor assistente no West Georgia State College e estava fascinado
pela interseo da histria com o futuro, que a essncia da poltica e do governo. Segundo
Tofer (1971, p. 478 e 479) democracia antecipatria signica ir diretamente ao encontro
das pessoas (go to the people) e perguntar-lhes qual o tipo de mundo no qual gostariam de
viver daqui a 10, 20 ou 30 anos. Esse contnuo plebiscito sobre o futuro nada mais seria,
sempre segundo Tofer, que um macio e global exerccio de democracia antecipatria.
70
A. e H. Tofer (1995, p. 98).
50 Cultura, Sociedade e Tcnica
assume uma conotao de extrema virulncia populista, chamando o
povo para mobilizao contra tudo e contra todos, ou seja, contra os
polticos, burocratas, parlamento, lobistas e impostos.
Porm, alguns observadores no esto convencidos que Perot
seja um bom exemplo. Argumenta-se que esta uma viso equivocada,
porque as tecnologias que utiliza so muito elementares (quase exclusi-
vamente as chamadas de televiso). O verdadeiro desao terico seria
uma cidadela eletrnica que utilizaria a vasta gama de tecnologias
baseadas no teleputer
71
.
J tentamos estabelecer anteriormente as semelhanas e as diferen-
as entre o sistema comunicativo vigente, baseado na televiso, e aquele
vindouro, baseado no teleputer. Creio ter demonstrado que existem as
descontinuidades, mas tambm as continuidades. E que estas ltimas,
sob a ptica dos problemas que estamos discutindo, no so absolu-
tamente secundrias. Pessoalmente, considero que, muitas das crticas
lanadas s mdias tradicionais, nos ltimos 50 anos, continuam valendo
para as novas mdias (new media)
72
.
Gostaria de citar um ensaio do cientista poltico italiano G. Sartori
(1989)
73
que, a meu entender, muito signicativo. Nesse texto, faz uma
anlise extremamente lcida daquilo que ele chama de videopoder.
Ele faz aluso, especicamente, ao poder poltico e cultural da televiso.
Contudo, ca muito claro que a esmagadora maioria das crticas feitas
por ele televiso pode ser transferida, sem esforo, ao teleputer. Sarto-
ri, por exemplo, denuncia o mito no qual a televiso, derrubando todas
as barreiras, favoreceria o nascimento da aldeia global. Na realidade,
a aldeia global no seria, ao contrrio do que acreditava McLuhan, uma
aldeia que se torna global, mas um globo de se torna aldeia, um globo
composto de uma mirade de pequenas ptrias. Resumindo: o global
esconderia o local.
Essa observao, verdadeira para a televiso, ainda mais contun-
dente para o cenrio de um ciberespao global, que poderia ser criado
pelo teleputer. Um outro exemplo: segundo Sartori, a televiso tem a
tendncia de comprimir, ou seja, a fazer desaparecer o enquadramen-
to e a explicao dos fatos apresentados, por falta de tempo. Isso de-
monstrado pelo recurso das frases de efeito sempre mais curtas (sound
bite) e a limitao (at a eliminao) dos comentaristas (talking heads).
Encontramos essa tendncia, com caractersticas ainda mais agu-
das, em todas as formas de comunicao ligadas ao teleputer.
71
P. F. Hanter (op. cit).
72
Sobre a relativizao do contraste televisoteleputer, articialmente dramatizado por
G. Gilder (cf. nota 4) ver D. Burstein e D. Kline (1995, p. 194-219).
73
Cf. N. Bobbio (1995). Em sua anlise, Bobbio foi alm da televiso, procurando
confrontar-se ainda com as implicaes polticas do computador. Nesse contexto, ele fala de
computocracia e julga pueril a ideia de conar ao computador o exerccio do voto dos
cidados.
1. O ciberespao um espao democrtico? 51
Populismo e populismo informtico
As diversas concepes da repblica eletrnica apresentam mui-
tas caractersticas em comum, independentemente do carter tosco ou
sosticado, tecnologicamente atrasada ou avanada. Uma delas, e tal-
vez a principal, que todas adotam, de uma maneira ou de outra, um
conceito populista de democracia.
Nos discursos sobre a democracia, encontrados na rede, existe
sempre uma explcita referncia aos valores do populismo. Mas esse po-
pulismo no se baseia em um corpo de doutrina unitrio. Em verdade,
existem pelo menos trs grandes tradies populistas: a dos fazendeiros
americanos, a do anrquico russo e a do caudilho latino-americano. En-
tre essas tradies, por razes bvias, a primeira delas exerce inuncia
direta sobre o ideal poltico do ciberespao.
Sob ponto de vista histrico, nos eua, o populismo surge intima-
mente ligado ao comunitarismo, fenmeno j explicado anteriormen-
te. a tese sustentada por R. Hofstadter (1969) e P. Worsley (1969).
Segundo Worsley, o populismo russo um movimento que nasceu do
senso de solidariedade da elite intelectual ao sofrimento dos campone-
ses. Diferentemente do populismo russo, o norte-americano no um
movimento para o povo, mas um movimento do povo. Na cultura
populista (e revolucionria) russa, de Herzen a Lenin, foi sempre a eli-
te, ou seja, uma vanguarda iluminada que guiou a mobilizao das
massas. Na cultura americana, ao contrrio, nega-se o papel de guia
elite, e apoia-se na espontaneidade dos indivduos (e dos grupos) para a
formao da vontade coletiva
74
.
claro que nos eua o antielitismo no goza hoje (nem pode go-
zar), da mesma credibilidade que gozava na poca dos primeiros fa-
zendeiros. Parece-me supruo recordar que as coisas mudaram radi-
calmente. Seguramente, uma democracia vinda da base (bottom up)
continua a ser postulada, talvez com a mesma nfase daquela poca,
reetindo um dos aspectos mais evidentes da sociedade norte-america-
na. Tal imagem, porm, cada vez menos realista. De fato essa imagem
no se coaduna com um pas onde todas as elites industrial, nancei-
ra, militar, tecnocrtica e burocrtica exercem um poder superior
(top-down) praticamente ilimitado. Dentro das prprias fronteiras e
alm delas.
Qual a vantagem de se repropor um populismo exagerado no
contexto atual? Por que reprop-lo, em verso eletrnica, com a preten-
so de fundar uma democracia direta que, em teoria, deveria banir de-
nitivamente a inuncia de qualquer tipo de elite? Independentemente
da exequibilidade desse ambicioso projeto, inegvel que ele exprime
tacitamente uma pesada averso aos sistemas em que elites onipotentes
exercem inuncia em tudo.
Essa constatao no nos exime da obrigao de questionar o
74
Sobre o conceito de elite, ver T. B. Bottomore (1964).
52 Cultura, Sociedade e Tcnica
alcance efetivo dessa averso. Em outras palavras: o populismo infor-
mtico, imaginado como uma alternativa radical ao elitismo vigente,
realmente o que pretende ser? Em primeiro lugar, surge a seguinte ques-
to: em que medida o cenrio de uma democracia na rede pode de
fato trazer (ou no) elementos novos na velha disputa entre populismo
e elitismo? E, se trouxer, quais so esses elementos? So perguntas que
no devem ser relegadas a um segundo plano, pois a contenda entre po-
pulismo e elitismo inclui aspectos de interesse crucial para a democracia.
Entre eles, alguns dos mais signicativos j foram colocados em evidn-
cia, como a questo da autonomia e, portanto, da liberdade positiva
ou negativa dos cidados.
V. Pareto, G. Mosca e R. Michels discutiram no passado a im-
possibilidade de se lutar contra as oligarquias polticas. Mesmo que o
elitismo no possa ser examinado nesses termos, parece evidente que o
surgimento de um novo tipo de populismo o informtico torna ne-
cessrio um reexame crtico do elitismo. Essa retomada, a meu ver, deve
partir necessariamente de um substancial enriquecimento do conceito
de elite. E isso porque as elites e suas obras no podem ser circunscritas
a um s setor. Elas fazem sentir seu poder condicionante e sua inuncia
em todos os lugares, at mesmo se manifesta o mais forte antielitismo.
Atualmente, o populismo no mais se apoia nas tecnologias da
era pr-industrial, mas em avanadas tecnologias da informao e das
telecomunicaes. Nesse contexto, o que se pode entender por elitismo?
Seriam os representantes das elites industriais e tecnocientcas que li-
deram o desenvolvimento dessas tecnologias?
75
Antes de mais nada, elitismo e populismo devem ser considerados
como dois modos antagnicos de se entender a democracia. Ou seja,
so dois programas com diferenas substanciais sobre o papel a ser atri-
budo cidadania na gesto democrtica da sociedade. De um lado, os
populistas temem o domnio autoritrio das elites. De outro, os elitistas
temem um excesso de democracia.
O neoconservador norte-americano J. Bell
76
, a despeito da sua
explcita simpatia por um elitismo vigoroso, forneceu uma descrio
muito objetiva e bem prtica dos dois programas em questo. Escreve
Bell: Populismo o otimismo acerca da capacidade das pessoas em
tomar decises sobre a prpria vida. Elitismo o otimismo acerca da
75
No tanto o grau de independncia, certamente elevado, do elitismo em relao ao
populismo que aqui nos interessa. Procuramos estabelecer, como antecipado, em que medida
o programa radicalmente antielitista do populismo informtico pode encontrar amparo na
realidade. Para descobrir, um caminho a trilhar talvez o mais tradicional perguntar so-
bre o poder vinculante, direta ou indiretamente, que as multinacionais da informao e das
telecomunicaes exercem sobre as formas de usufruir da rede utilizadas pelos usurios. A
questo descobrir o que no de todo difcil em vista do exposto como os interesses de
tais empresas condicionam o comportamento comunicativo dos usurios. Ou seja, como os
proprietrios dos meios condicionam as mensagens.
76
J. Bell (1992, p. 3).
1. O ciberespao um espao democrtico? 53
capacidade de uma ou mais elites tomar decises, procurando ajudar
as pessoas. Populismo um pessimismo acerca da capacidade das elites
em tomar decises que ajudem as pessoas. Elitismo um pessimismo
acerca da capacidade das pessoas em tomar decises que ajudem a si
mesmas.
As concepes de Bell so de natureza bastante subjetiva. Anal,
tudo se concerne a vises otimistas e pessimistas do populismo e do eli-
tismo. Pode-se admitir que os aspectos subjetivos sejam parte relevante
do problema. Alm disso, as posturas favorveis ou contrrias ao po-
pulismo ou ao elitismo devem incluir questes de outra natureza. Essa
discusso, a bem da verdade, no nova na histria do pensamento
poltico ocidental. Contudo, nos ltimos tempos assumiu uma particu-
lar atualidade. Contribui para isso, de um lado, a exploso de diversas
formas de populismo a partir de 1968. Do outro lado, houve o reapare-
cimento de um neoconservadorismo elitista cada vez mais aguerrido.
As coisas, porm, no so to simples. Na sociedade atual difcil
manter separados populismo e elitismo, pois no se trata de dois com-
partimentos estanques. Existe uma relao de dependncia recproca
entre populismo e elitismo, ainda que sutil. Em uma sociedade liberal
democrtica, as elites so obrigadas, pelo menos na retrica, a apro-
priar-se de alguns discursos prprios do populismo. Nos dias de hoje,
nenhuma elite que disponha de um poder efetivo pode se permitir ao
luxo de exaltar abertamente os prprios privilgios. Nem demonstrar
desgosto ou desprezo por aqueles que no gozam de tais privilgios
77
.
Desse modo, o elitismo v-se obrigado a imitar o populismo.
Pode parecer que a dramatizao do contraste populismo-elitis-
mo sirva apenas para desviar a ateno dos reais problemas da demo-
cracia. A conana na capacidade de julgamento dos cidados, como j
discutimos, um dos pressupostos fundamentais da democracia. Mas
da a acreditar, como fazem os populistas, que esta capacidade por si
s seja capaz de levar a escolhas corretas, sempre e de qualquer modo,
um grave erro. Por outro lado, acreditar piamente como fazem os
elitistas que seus expoentes possam sempre fazer as melhores escolhas,
igualmente errado
78
.
O maior problema atual no tanto o elitismo, mas o populis-
mo. Sobre o elitismo j sabemos quase tudo. Sobre o populismo, ao
contrrio, necessrio fazer alguns esclarecimentos. Procurei mostrar
que o aspecto mais evidente do populismo a tendncia congnita de
acreditar que os cidados sejam infalveis em suas escolhas. Na prtica,
esta postura leva, frequentemente, exaltao demaggica do que cha-
mamos o povo.
A ideia de povo, entretanto, no neutra. Quem invoca o povo
77
Existem certamente algumas elites institucionais dispostas a reconhecer publicamente
sua averso em relao aos negros, aos judeus, aos hispnicos, aos homossexuais ou s mulhe-
res, e a teorizar publicamente o seu dio pelas classes populares.
78
Sobre a relao elitesexpoentes, cf. Maldonado (1995, p. 33 e seguintes).
54 Cultura, Sociedade e Tcnica
est pensando principalmente naqueles que, certamente, poderiam con-
rmar (ou legitimar) suas prprias opinies, e no naqueles que lhe so
adversos. Por essa ptica, as pessoas se identicam principalmente com
aqueles que tm algo em comum, como pas, cidade, raa, gnero, turma
ou hobby, ou ento com aqueles que compartilham a prpria religio,
ideologia ou partido. No me parece exagerado dizer que o populismo,
com o seu apelo retrico s pessoas, em ltima anlise, tambm uma
forma de elitismo: ele inclui determinadas pessoas e exclui outras.
O populismo informtico no exceo. Ele se caracteriza pelo
modo muito particular de se dirigir s pessoas. O populismo informti-
co se declara a servio de todas as pessoas, sem excluir ningum. Mas
a verdade outra. Atrs de uma enganosa comunicao telemtica uni-
versal, o que se impe, na realidade, a ideia de povo com a acepo
restritiva de meu povo.
Existe, porm, uma diferena. Os outros populismos agem em um
amplo espectro, recorrendo frequentemente mobilizao das massas.
O tradicional demagogo populista procura, por exemplo, atravs das
reunies em praa pblica, um contato direto com os seus seguidores
potenciais ou seus bajuladores. O populista informtico, ao contrrio,
essencialmente um intimista. Ele opera solitariamente, connado em
um ambiente quase sempre apertado e isolado, absorto em frente ao
computador. Nunca se expe ao contato direto, face a face, com seus
interlocutores distantes e inalcanveis. Essa modalidade de interao
gera problemas de grande interesse para o debate acerca do cenrio da
democracia eletrnica.
Identidade e multiplicidade de papis
A democracia telemtica apresenta outros problemas. H um as-
pecto inquietante, relacionado com a identidade individual. Nos progra-
mas de relacionamento na rede, constata-se, cada vez mais com maior
frequncia, usurios escamoteando a prpria identidade para assumir
falsas identidades
79
. Uma estudante de 18 anos faz-se passar por um ve-
lho pugilista aposentado. Um advogado do interior torna-se um regente
de orquestra. Um homem casado vira um solteiro convicto. Um padre
islands transforma-se em uma prostituta lipina.
Esses travestis informticos, como se v, podem pregurar situa-
es de indubitvel comicidade involuntria (ou voluntria). No causa
espanto que isto seja utilizado como um engenhoso tipo de jogo virtual.
Centenas de milhares de acionados, jovens e nem to jovens, praticam
o jogo das falsas identidades como uma divertida forma de entrete-
nimento ou tambm como uma forma articial de compensar certas
carncias individuais, como um rapaz pobre que se transmuta em um
milionrio.
79
Sobre falseamento da prpria identidade, ver J. Starobinski (1961).
1. O ciberespao um espao democrtico? 55
Esse fenmeno pode ter implicaes que ultrapassam os limites
acima expostos. Isso ocorre, sobretudo, no mbito das comunicaes
social e poltica. Por exemplo, um grupo de pessoas que trocam opi-
nies em tempo real sobre assuntos referentes a importantes decises
coletivas usando o programa irc Internet Relay Chat. Tudo pode ser
feito sem revelar a identidade real ou simulando (ou usurpar) uma iden-
tidade diferente.
Na gria da informtica, a relao coloquial que se tornou pos-
svel atravs de um canal irc foi denominada bate-papo (chat). No
senso comum, bate-papo considerado dilogo entre pessoas de ma-
neira ftil, supercial, inconclusiva e, s vezes, maldosa. Essa caracte-
rstica tambm est presente no bate-papo informtico. legtimo
supor que seus efeitos possam ser devastadores, especialmente quando
o objeto de discusso for a poltica.
O bate-papo pode transformar a poltica como mostra a experin-
cia televisiva em matria de incmodo e desprezo pelos cidados.
O bate-papo pode ocorrer entre pessoas que interagem dis-
tncia, sem um contato visual e ocultando a prpria identidade. Nesse
caso, estamos diante de uma forma de comunicao muito distante da-
quilo que se pode chamar de comunicao efetiva. Principalmente se
o objeto de discusso envolver decises de grande importncia para a
vida democrtica, como a eleio presidencial. Nesse caso, os cidados
no deveriam conar apenas no bater-papo. Precisariam, isto sim, de
uma vasta discusso pblica sobre as decises a serem tomadas.
Tocamos aqui em um ponto crucial da nossa reexo. Acredito
que o bate-papo informtico no seja uma forma convel para a
comunicao poltica. Isso torna obrigatrio explicar detalhadamente
os motivos dessa ausncia de credibilidade. Para esse objetivo neces-
srio examinar, mesmo que rapidamente, uma temtica recorrente na
tradio sociolgica contempornea. Rero-me ao modo pelo qual os
atores sociais participam operativamente dos processos comunicativos
da sociedade. Aqui se torna inevitvel fazer referncia teoria dos
papis
80
. Muitos consideram, com razo, que essa teoria tem pouca
anidade com os atuais interesses da pesquisa sociolgica. No h d-
vida que ela perdeu a importncia que j teve no tempo em que a escola
funcionalista reinava de modo absoluto na sociologia
81
. Creio que os
80
Normalmente, considera-se que G. Simmel (1910) e G. H. Mead (1934) tenham for-
necido os esquemas de interpretao sobre os quais a teoria sociolgica dos papis foi poste-
riormente desenvolvida. Nesse sentido, foram importantes, entre outros, R. Linton (1936) e R.
Dahrendorf (1958). Ver tambm, principalmente pelas crticas a essa teoria, H. Popitz (1968),
D. Claessens (1970), U. Gerhardt (1971) e F. Haug (1972). E ainda J. Habermas (1984, p. 187
e 1991, p.13) que levanta importantes objees sobre a teoria clssica dos papis, no tanto
pelo que esta sustentou, mas pelo que negligenciou. E, entre estas, segundo Habermas, a mais
grave foi no ter enfrentado a questo da competncia interativa entre os papis.
81
A crtica ao funcionalismo clssico, na viso de T. Parsons e de sua escola, teve
um impulso quando C. G. Hempel (1959) denunciou, por uma ptica neoempirista, a sua
56 Cultura, Sociedade e Tcnica
socilogos, com poucas excees, tenham tido muita pressa em releg-
la ao esquecimento.
Com efeito, percebemos que os argumentos recorrentes entre os
estudiosos da teoria dos papis reaparecem agora, com nuances diver-
sas, nas obras dos estudiosos da losoa moral
82
. So argumentos que
giram em torno das seguintes questes: o que uma pessoa? Ou melhor,
em que consiste a identidade de uma pessoa? Qual a ligao entre o Eu
e o Outro?
Luciano e Shakespeare
83
armam que a nossa vida apenas um
palco, no qual somos levados a interpretar mltiplos papis, simultnea
e sequencialmente, alguns conitantes entre si. Se tal proposio for
verdadeira, como se explicaria o fato de que, entre as tantas mscaras
que somos obrigados utilizar, algumas nos caem to bem? Algumas de-
las cam to adequadas que preferimos perder a prpria cara em vez
da mscara como observa sarcasticamente Luciano
84
. Ou ainda mais
explicitamente: se representamos simultaneamente uma multiplicidade
de papis, como e por que um desses papis, por um determinado lapso
de tempo, predomina sobre os outros, passando a ser determinante para
caracterizar a nossa identidade?
Na atual fase de desenvolvimento da sociedade industrial avana-
da (que alguns chamam de ps-moderna, mas que prero deni-la em
termos de hipermodernidade)
85
, as pessoas tm uma enorme tendncia
de mudar muitas vezes de identidade no decorrer de suas vidas. Como
se explica a dinmica desse fenmeno? Quais so os fatores que o de-
sencadeiam? Quais so seus efeitos sobre o conceito de pessoa e sobre
os processos formativos da personalidade?
insustentabilidade cientca. N. Luhmann (1970) procurou superar as crticas de Hempel, com
resultado incerto. Desenvolveu uma nova verso de funcionalismo: o neofuncionalismo. En-
quanto o funcionalismo clssico seria, segundo Luhmann, uma teoria estrutural-funcional
(strukturell-funktionale Theorie), o seu neofuncionalismo seria, ao contrrio, uma teoria fun-
cional-estrutural (funktional-strukturelle Theorie) dos sistemas sociais. A primeira evidencia a
estrutura e a segunda a funo (v. i, p. 113-139). Sobre o neofuncionalismo de Luhmann,
ver a introduo de D. Zolo na edio italiana de Illuminismo sociologico de Luhmann (1970).
Outra crtica ao funcionalismo clssico foi a acusao de conservadorismo, por muitos
no compartilhada, como, por exemplo, em R. K. Merton (1949, traduo italiana, v. i, 1971,
p. 149 e seguintes).
82
Fao referncia, como exemplo, a lsofos como B. Williams (173) e Ch. Taylor
(1989).
83
a ideia, intuda na antiguidade por Luciano (1992, v. i, p. 442-443), que Shakespeare
(1982, p. 520-521), em um famoso passo de uma sua comdia, contribuiu para transformar
em um lugar comum: que todos somos atores na vida, chamados a representar, no um, mas
vrios papis.
84
Luciano (1992, v. ii, p. 160-161).
85
As questes relativas modernidade (moderno, modernizao, ps-moderno, e ou-
tros) foram amplamente discutidas por mim no ensaio Il futuro della modernit (1987).
1. O ciberespao um espao democrtico? 57
Essas perguntas so antigas em todas as pocas os pensado-
res se confrontaram com perguntas dessa natureza. Todavia, foi com
o nascimento do individualismo moderno que elas tornaram-se mais
opressoras. Pela primeira vez (ou quase), o Eu no deve ser escondido
ou camuado atrs de um muro de eufemismos. Em Montaigne, o Moi
(Eu) vivido como a descoberta de um novo territrio, como o emergir
de um novo mundo a ser explorado. Mas a arrebatadora irrupo do
Eu na cultura ocidental comporta, simultaneamente, uma reavaliao
do Outro. O problema da relao do Eu com o Outro se situa, ines-
peradamente, no centro de um novo horizonte de reexo. No uma
relao entre duas realidades imutveis e simples, mas entre duas reali-
dades mutveis e complexas. Entre essas duas realidades que se moldam
reciprocamente, no existe um Eu sem um Outro, e vice-versa. E mais:
pode-se dizer que, em cada Eu, esto presentes diversos Eu. Para con-
tinuarmos na metfora teatral, cada Eu deve ser visto como uma cena
na qual so interpretadas diversas partes, em um complexo jogo entre
essas partes. Essa a ideia sustentada pela teoria sociolgica dos papis:
cada pessoa portadora de diversos papis.
A despeito das muitas reservas que podem ser colocadas sobre
a teoria dos papis, ela nos prope uma descrio muito adequada ao
que realmente ocorre nos processos construtivos da nossa identidade. E
tambm das relaes da nossa identidade com a identidade dos outros.
Pode ser til, neste ponto, recordar a importante contribuio
terminolgica de R. K. Merton. Nos passos de R. Linton (1936), mas
superando muitas de suas ambiguidades, Merton explica as noes de
status, conjunto de status (status-set), papel e conjunto de pa-
pis (role-set). Para Merton (como para Linton), status a posio
ocupada por determinados indivduos em um sistema social, enquanto
o papel corresponde s manifestaes de comportamento, conforme as
expectativas atribudas pela sociedade quela posio
86
.
Merton, diferentemente de Linton, atribui um conjunto de pa-
pis a cada status. Por outro lado, sempre segundo Merton, cada in-
divduo ocupa diversos status e, assim, conclui-se que cada indivduo
cumpre, de fato, uma multiplicidade de papis.
Pela tica exclusivamente descritiva que nos interessa, veremos
agora como se manifestam, concretamente, os papis na vida quotidia-
na dos atores sociais. Entre os estudiosos do tema, existe o consenso de
se agrupar os papis em trs grandes categorias: os papis primrios
ou basilares (me, pai, av, lho, irmo, irm, sobrinho, entre outros),
os papis culturais (italiano, europeu, judeu, membro de um partido
poltico, de uma sociedade lantrpica, pacista, ambientalista, torce-
dor de determinado time de futebol etc.) e os papis sociais (mdico,
advogado, professor, bispo, atriz, estudante, industrial, artista de tv,
dona de casa, ator de lme porn, mendigo, sindicalista, chefe, empre-
gado, operrio, lavrador etc.). Cada indivduo exerce papis diferentes
86
R. K. Merton (1949, traduo italiana, v. ii, p. 684) Cf. R. Linton (1936).
58 Cultura, Sociedade e Tcnica
em cada uma das trs categorias. So papis frequentemente conitan-
tes entre si
87
.
Surge ento uma pergunta: por que a reabilitao da teoria dos
papis importante para o nosso tema? Habermas sustenta que a demo-
cracia pressupe um racional agir deliberativo entre os atores sociais.
Se aceitarmos esta tese qual retornaremos mais adiante a questo
da multiplicidade dos papis que desempenhamos torna-se crucial.
Isso se torna particularmente claro quando se trata de tomar de-
cises coletivas sobre algum assunto de grande interesse pblico. Neste
contexto, a possibilidade de haver um acordo racional melhora quando os
atores se sentam mesa de negociao desempenhando um nico papel.
Mas trazendo consigo todos os papis que, mesmo contraditoriamente,
fazem parte de suas identidades. Desta forma, o embate no mais entre
dois ou mais antagonistas, cada qual de posse do seu papel, o que neste
caso seria, portanto, destinados a um confronto sem alternativas.
Durante as negociaes somos constantemente obrigados a mu-
dar o nosso objetivo, embora se conservem as nossas preferncias. Isso
ocorre, segundo J. C. Harsanyi (1978), devido nossa avaliao dos
custos de oportunidade, ou seja, as vantagens ou as desvantagens
das vrias alternativas. Elas podem nos obrigar a escolher um objetivo
diferente daquele que imaginvamos (e ainda imaginamos) como o mais
desejvel. Por um lado, um comportamento sem dvida incoerente,
visto que renunciamos a um objetivo que julgamos prefervel. Por outro
lado, ao contrrio, existe uma coerncia, pois, pelo menos no plano ide-
al, continuamos is convico de que o objetivo inicial o melhor.
O tema da coerncia (ou da incoerncia) de nossas escolhas est
no centro da inamada controvrsia sobre o neoutilitarismo. recor-
rente no somente entre aqueles que so favorveis perspectiva neou-
tilitarista, mas tambm entre aqueles contrrios a ela, ou aqueles que
colocam fortes dvidas em relao a ela
88
.
Mesmo no sendo meu propsito intervir nessa delicada con-
trovrsia, entendo que este tema tenha ligao direta com a tese que
sustento. Vejamos: se considerarmos que cada indivduo portador de
diversos papis, ca difcil de refugar ideia de que cada indivduo
possa exprimir, por princpio, vrias preferncias. As implicaes te-
ricas (e prticas) de tal eventualidade no devem ser menosprezadas.
Os custos de oportunidade podem me desaconselhar a uma escolha
que, sob a tica do meu papel particular, seria a mais desejvel. Por
outro lado, eu posso fazer outra escolha que, pela tica de um dos meus
outros papis, igualmente desejvel. Por esse raciocnio, o problema
da coerncia (e da incoerncia) no se verica em um campo restrito de
87
Esta multiplicidade de papis e seus conitos so, em grande parte, vindos de fora. Eles
so o resultado das diversas expectativas que os outros tm em relao a ns mesmos. Isso
explica por que, hoje, to difcil sustentar o discurso da liberdade do sujeito (A. Touraine,
1997, p. 10).
88
Cf. B. Williams (1982) e A. Sen (1982).
1. O ciberespao um espao democrtico? 59
escolhas, entre duas ou trs alternativas, mas em um vasto espectro das
escolhas possveis
89
.
Por consequncia, o cenrio de decises exige que os papis de-
sempenhados por cada um dos atores sociais sejam reais. Exige uma
real colaborao e uma real interao face a face entre os atores
sociais. Quando a mtua colaborao torna-se ausente como no caso
da interao telemtica a democracia ca fortemente ameaada. E isso
se agrava ainda mais quando os interlocutores assumem papis ctcios
no jogo telemtico. Eles renunciam prpria identidade e, com isso,
rica dinmica da prpria multiplicidade de papis.
Pessoa e identidade online
Aps essa longa digresso sobre a identidade e sobre ritualizao
da teoria dos papis, podemos dar mais um passo no aprofundamento
da questo da identidade online e de sua relao com a democracia.
Gostaria de discutir algumas das ideias de Sherry Turkle no livro Life
on the screen: identity in the age of the Internet
90
(A vida na tela: a iden-
tidade na era da Internet). A autora analisa a questo da identidade e
do role-playing games (rpg) na Internet, usando abordagem lacaniana.
Alm de Lacan, demonstra evidente inuncia de outros intelectuais,
em grande parte franceses: Lvi-Strauss, Foucault, Derrida, Baudrillard,
Deleuze, Guattari, Piaget, Erikson e, obviamente, Freud. O mrito indis-
cutvel deste livro a tentativa de aprofundar temticas ainda inditas
na copiosa, trivial e repetitiva literatura sobre o universo da Internet.
O conceito central de Turkle a da natureza composta do Eu,
ou seja, da identidade. Como vimos anteriormente, trata-se de um con-
ceito que se insere tanto na teoria dos papis (tradicional ou atualiza-
da), como na atual losoa moral
91
. Encaixa-se naquelas correntes psi-
canalticas que divergem da viso de Jung de uma unidade arqutipa
do Ego. Em linhas gerais, possvel concordar com esse conceito, mas
o mesmo no se pode dizer do seu uso.
Baseando-se em uma vasta experincia de observao do com-
89
Alguns estudiosos da teoria dos jogos fazem distino entre jogos estticos (carac-
terizados por uma nica fase de jogo) e jogos dinmicos (nos quais alguns atores sociais
corrigem suas estratgias durante o curso do jogo), (M. Chiapponi, 1989, p. 144). Quando os
atores sociais estiverem envolvidos na situao em que tenham de decidir em meio a um vasto
espectro de opes, podem estar operando na categoria dos jogos dinmicos.
90
S. Turkle (1995). Da mesma autora, docente de Sociologia no mit, cf. (1984 e 1992).
Ver ainda P. McCorduck (1996) e o seu retrato na ocasio da publicao de Life on the screen.
91
Eu sou muitos, declarou S. Turkle em uma entrevista (1996). Aludia ao fato, j dis-
cutido, que cada um de ns pode exprimir muitas identidades, visto que assumimos diversos
papis. Mas ela se referia possibilidade oferecida a cada um de ns para exprimir, na Inter-
net, mltiplas identidades apcrifas. Ou seja, a possibilidade de sermos ainda muitos mais do
que normalmente nos permitido ser.
60 Cultura, Sociedade e Tcnica
portamento (prprio e alheio), no uso das tecnologias interativas e nos
e-mails, Turkle prope uma teoria alternativa s posies utpicas, uti-
litrias e apocalpticas que caracterizam o novo estilo de vida (New way
of life) eletrnico.
A alternativa apresentada pela pesquisadora na verdade, uma
quarta via obviamente digna de ser tentada, mas no creio que Turk-
le, a pesquisadora norte-americana, tenha sucesso na empreitada. Exa-
minando bem, a posio por ela defendida mais uma combinao da
outras trs posies apresentadas (utpicas, utilitrias e apocalpticas)
do que propriamente uma nova alternativa. A meu ver com um agra-
vante, neste caso, as doses distribudas a cada uma delas so nitida-
mente desequilibradas. Em seu ensaio prevalece a posio utpica, a
posio utilitria raramente aparece. E, se por apocalptico entendemos
a expresso de dvidas e perplexidade sobre o novo estilo de vida, a po-
sio apocalptica aparece ainda mais limitada na sua teoria, parecendo
ser apenas uma obrigao de cit-lo, presumo, que seja apenas para
esquivar-se de uma possivel acusao de conformismo.
bem verdade que a posio utpica percebida por Turkle no
igual postura quase naif de Nicholas Negroponte, diretor do mit Me-
dia Lab, endeusado profeta de um sublime mundo digital do futuro. O
utopismo de Turkle, como o de Negroponte, fundamentado na crena
comum de que a cybercultura, ao aplicar as tecnologias informticas,
provocar uma profunda mutao das condies de vida do planeta, e
essa mutao ocorrer primeiro no mbito das relaes interpessoais.
De acordo com esse ponto de vista, a telemtica deveria contribuir para
uma verdadeira emancipao das nossas relaes interpessoais. Com
isso, em um futuro prximo, seramos cada vez mais profcuos, livres e
intensos.
No momento, porm, isso apenas um apaixonante cenrio de
utopia positiva no qual ecoa, mais uma vez, a velha losoa de pro-
messas. Cria-se novamente a fantasia de sublimes mundos possveis
que nas promessas j estariam nossa disposio. Seria um retor-
no s meta-narraes, que J. -F. Lyotard considerou denitivamente
superadas na histria? Tudo isso faz pensar que sim e no h nada de
escandaloso nisso. Anal de contas, a despeito de tudo o que pensam
os mestres dos orculos do ps-estruturalismo e do ps-modernismo,
difcil renunciar s grandes promessas do futuro. Por outro lado, essa
convico no signica aceitar placidamente cada grande promessa. A
experincia histrica, principalmente a das ltimas dcadas, cada vez
mais nos recomenda sobriedade nos vaticnios e prudncia diante dos
prognsticos. Pricipalmente quando anunciam a iminente chegada de
sublimes mundos possveis.
No livro de Tuckle, alm da tentao utopista, no faltam con-
tribuies de grande interesse. Citarei apenas dois exemplos: sua l-
cida anlise da relao transparncia-opacidade no desenvolvimento
dos computadores pessoais e as suas reexes sobre os pressupostos
loscos da inteligncia articial emergente. Nota-se, porm, que
ela geralmente no consegue se liberar das elucubraes lacanianas. Ela
1. O ciberespao um espao democrtico? 61
est convicta, e no parece ter a menor dvida, que existe algo como
uma autoestrada unindo diretamente Lacan a Internet. uma ideia,
admitamos, bem temerria.
Concordo que alguns temas de Lacan, reinterpretando Freud,
possam ser teis para a temtica da identidade no contexto que estamos
discutindo. Em um livro anterior
92
, a autora tratou de Lacan com algu-
mas interpretaes muito originais. Nesse texto j estavam presentes
os embries de alguns temas que agora so retomados com maior pro-
fundidade. Uma questo, porm, permanece em aberto: a ubiquidade
fantasmagrica das pessoas e a troca incessante das identidades na
Internet. Elas deveriam ser consideradas um fator positivo nas relaes
interpessoais? As ideias de Lacan contribuiriam realmente para susten-
tar essa tese, como ela defende? Tenho grandes dvidas a respeito.
Na medida em que possvel entender o raciocnio normalmente
paradoxal e ambguo de Lacan, parece evidente que ele jamais tenha
sido favorvel identidade-fantasma. Em Lacan o Eu seguramente
uma construo imaginria, mas na relao com o Outro, tambm
imaginrio, que o Eu (e o Outro) se torna real. Como indica com exa-
tido, pelo menos uma realidade pela metade. No existe um sujeito
sem o Eu, arma. E h ainda a questo do Outro. Este discurso do
Outro no o discurso do Outro abstrato... do meu correspondente, e
nem mesmo simplesmente do meu prisioneiro, o discurso no qual Eu
estou integrado. Eu sou um dos elos da corrente
93
.
Quando se l sobre as relaes interpessoais na Internet, em Turk-
le e outros, abordando questes de identidades trocadas entre pesso-
as apcrifas, entre falsos Eu, vm memria algumas importantes
metodologias teorizadas (e praticadas) pela psiquiatria clnica e pela
psicopatologia ociais e ainda pela psicanlise. Turkle, no por acaso e
de modo recorrente, se ocupa dos efeitos diagnsticos e eventualmente
teraputicos desse tipo de relao. Em sua anlise, ela se apoia em tes-
temunhos, mais ou menos condenciais, das experincias concretas de
muitas pessoas particularmente ativas nesse campo. Conta ainda com o
testemunho pessoal da prpria autora.
Normalmente, trata-se de pessoas que ngem ter uma identidade
sexual que no (ou presume-se que no seja) a sua prpria (gender-
swapping). Por exemplo: um homem que assume a identidade de uma
mulher ou vice-versa. Ou ento um heterosexual que assume a identi-
dade de um homosexual, ou vice-versa. s vezes, possvel perceber
um Eu ideal (nem sempre), na escolha de um falso Eu. Sem esse
expediente, a pessoa jamais teria a coragem de tornar explcita essa
transmutao aos olhos de outros, quanto mais aos seus prprios. No
92
S. Turkle (1992). No prefcio desta 2 edio, (a 1 de 1978) Turkle faz um balano
da poltica psicanaltica dos anos 1990. Nesse texto, ela insiste na importncia da crtica
ao Ego de Lacan, e sustenta que a ideia de decentered self, que dela resulta, hoje mais
importante que nunca.
93
J. Lacan (1978, p. 112). Cf. Freud (1940).
62 Cultura, Sociedade e Tcnica
restam dvidas que, nesses casos, como em muitos outros, o analista
possa obter elementos cognitivos de grande interesse.
Nesse contexto, a tela do computador parece se transformar numa
realidade substitutiva do div da psicanlise clssica, cuja funo era a
de evitar uma relao direta e frontal, olhos nos olhos, entre o analista e
o analisado. A prova seria o fato de que, na Internet, a interface entre os
usurios, na modalidade escrita-leitura, exclui paradoxalmente o verda-
deiro face a face. Isso reforado nos casos em que os interlocutores se
apresentam escondidos atrs de uma falsa identidade. Ao lado do div
onde se deitava o paciente, no passado, sempre existia o analista em dis-
creta (ou quase) escuta. Na relao online qual ser a atual modalidade
de observao (ou de participao) do analista?
claro que o analista pode, agora, desenvolver sua funo de
duas maneiras: apresentando-se como tal ou ento escondendo, como
os outros, a sua verdadeira identidade e a natureza do seu papel. Neste
ltimo caso, a sua liberdade de interveno muito limitada devido
necessidade de permanecer el a uma identidade que no a sua. No
primeiro caso, a sua presena explcita como analista pode suscitar
apreenso, desconana e at averso. A situao diferente quan-
do existe uma adeso espontnea de um certo nmero de pessoas em
participar de uma terapia de grupo online. O que se reprope algo
semelhante ao teatro teraputico (psicodrama e sociodrama), desen-
volvido nos anos 1930 pelo psiclogo romeno J. L. Moreno
94
. Foi uma
experincia que, aps um perodo de grande asceno nos eua, caiu
em desuso, pela grande complicao dos instrumentos cenogrcos que
utilizava. A Internet, hoje em dia, possibilitaria um teatro teraputico
muito mais sosticado.
No me compete julgar o valor do diagnstico (ou terapia) de
uma relao online entre pessoas com distrbios psquicos. A mim inte-
ressa principalmente o fato de que os canais da Internet, com as mesmas
caractersticas de anonimato, possam ser utilizadas e isso j est acon-
tecendo como frum de discusso que tem como objetivo a formao
de escolhas polticas.
Estou convencido, e insisto no argumento, que um genuno frum
poltico s possvel quando os participantes mergulham pessoalmente
na discusso. Tem de haver um confronto face a face entre eles. Um
frum entre factoides, fantasmas, pessoas que no so quem dizem ser,
no e nem pode ser um frum poltico
95
.
94
J. L. Moreno (1953).
95
As vantagens (e algumas desvantagens) da negociao poltica direta (to deal in Per-
son), foram apresentadas por Francis Bacon no seu breve texto On Negotiation (1936).
1. O ciberespao um espao democrtico? 63
Um jogo?
Dizem que eu levo muito a srio a questo das falsas identidades
no ciberespao. Existem pessoas que consideram isso apenas um jogo.
E mais: um jogo inofensivo. R. Caillois
96
, em um famoso ensaio, valeu-
se do termo mimetismo para denir o jogo do travestimento. Desde
crianas frequentemente brincamos de ser outro: super-homem, moci-
nho, bandido, soldado, mame, mdico, enfermeira. E tambm uma
mquina: um avio em voo acrobtico ou um carro de corrida. E ainda
um animal: um cavalo a galope ou um leo rugindo. As crianas, po-
rm, sabem que no verdade, que s brincadeirinha. Parece que o
mesmo vlido para os atores. Em um agudo estudo sobre a sociologia
do ator, J. Duvignaud sustenta a tese, j presente em Paradoxe sur le
comdien de Diderot, que o bom ator no aquele que consegue identi-
car-se totalmente com o papel que representa. Contrariamente ao que
se acredita, aquele que sabe interpret-lo com um relativo distancia-
mento, sem deixar-se envolver mais que o necessrio, de forma fria e
calma, dizia Diderot
97
.
De qualquer forma, crianas e atores esto conscientes que a sua
fantasia transitria. Quando o jogo ou a representao terminam,
eles tiram as mscaras e retomam, sem nenhum trauma, s prprias
identidades.
Existem, porm, fantasias em que as coisas acontecem de forma
diferente. Em alguns casos, a falsa identidade vivida, pelo prprio
sujeito e pelos outros, como se fosse a verdadeira identidade. Em outras
palavras, a troca absoluta. Os exemplos so muitos: no contexto de
uma cultura totmica, o feiticeiro torna-se idntico ao totem. Seja esse
totem um javali, um falco ou uma coruja. E em alguns casos famosos
da psiquiatria: os esquizofrnicos que pensam ser Marilyn Monroe, Na-
poleo ou Jesus Cristo.
No estou tentando dizer que a esquizofrenia esteja espreita no
jogo das falsas identidades na Internet. Mas tambm no descarto essa
possibilidade. O fato que a prtica da falsicao de identidade en-
volve um grande nmero de pessoas. Isso me leva a supor que ela possa
favorecer o nascimento de uma espcie de comunidade autnoma, des-
provida de qualquer ligao com a realidade. O risco que o jogo acabe
se transformando em alguma coisa inquietante: uma tenebrosa e nada
ldica comunidade de espectros. Essa hiptese no me parece arbitr-
ria. Seria uma comunidade cujos membros so persuadidos, em diferen-
tes graus, que suas identidades postias seriam as suas reais identidades.
A loucura a dois (follie deux), identicada pela psiquiatria no sculo
xix, seria ampliada para loucura de muitos, uma loucura amplamente
compartilhada.
96
R. Caillois (1967).
97
J. Duvignaud (1965). Cf. D. Diderot (1959).
64 Cultura, Sociedade e Tcnica
As minhas observaes podem parecer sombrias, com razo, mui-
to pessimistas. Mas achei necessrio apresent-las desse modo para con-
trastar com a sugesto, a meu ver muito otimista, de tratar esta questo
de leve, como se fossem inocentes jogos dos nerds de garagem.
O problema que mais me preocupa que a tendncia de se pegar
leve, banalizando o fenmeno, possa tirar nossa ateno de uma pro-
posta que nada tem de ldica. uma proposta dos que querem fazer
deste jogo enganador um novo tipo de frum poltico, um novo instru-
mento ainda mais revolucionrio de democracia direta.
Neste cenrio, a discusso pblica sobre os grandes temas polti-
cos, sociais e culturais do nosso tempo seriam canalizadas para os ri-
dos circuitos onde transitam majoritariamente indivduos sem face. So
indivduos protegidos pelo anonimato. Diparam breves textos, mais ou
menos cifrados, sobre os mais variados (e complexos) temas: pena de
morte, Aids, aborto, eutansia, fecundao articial, casamento gay,
direitos dos negros, trfego urbano, destruio do meio ambiente, ter-
rorismo, e por a vai.
Trata-se seguramente de um equvoco, se o objetivo for o de for-
talecer a democracia. Atores sociais radicalmente despersonalizados,
obrigados a se exprimir em um limitado repertrio de frases pr-fa-
bricadas so a negao de um correto entendimento do exerccio da
participao democrtica. Penso que a discusso pblica de temas de
grande relevncia para a coletividade deve obrigatoriamente assumir a
forma de um confronto aberto de mulheres e homens com suas identi-
dades reais. Ou seja, de cidados que se encontrem, se desencontrem e
se renam manifestando autenticamente as suas individualidades.
Democracia e fragmentao do Eu
Ultimamente, no mbito da psicologia e da sociologia anglo-sa-
xnica, houve vrias tentativas de examinar alguns aspectos inquietan-
tes da nossa sociedade. Rero-me, em particular, aos trabalhos de K. J.
Gergen e R. J. Lifton. Esses estudiosos abordam o tema da fragmen-
tao do Eu, hoje em dia muito discutido. Eles colocam as mesmas
interrogaes formuladas pela teoria dos papis, anteriormente citadas,
porm, com arcabouo conceitual diferente. Gergen descreve a frag-
mentao do Eu nos seguintes termos: Esta fragmentao das concep-
es do Eu, corresponde a uma multiplicidade de relaes incoerentes e
desconexas. Tais relaes nos conduzem a uma innidade de direes,
convidando-nos a interpretar uma variedade de papis at o ponto em
que o conceito do Eu autntico acaba por desaparecer
98
.
98
K. J. Gergen (1991, p. 7). Diga-se de passagem, que a fragmentao do Eu no se
refere apenas pluralidade dos papis presentes em cada sujeito. Mas tambm da pluralidade
dos discursos que dele derivam, visto que cada papel se identica com um determinado
discurso. Ou seja, cada papel fala de uma maneira diferente. um fenmeno percebido por
1. O ciberespao um espao democrtico? 65
O tema da fragmentao do Eu tambm foi discutido por Lif-
ton. Ele criou o conceito do Eu proteico, em referncia a Proteu, o
deus dos mares na mitologia grega. Proteu, segundo Homero, era capaz
de assumir as mais diversas formas. Lifton, porm, discorda frontal-
mente daqueles que pregavam o desaparecimento do Eu: Eu devo me
afastar daqueles estudiosos do ps-moderno e de outros, que atribuem
multiplicidade e uidez no desaparecimento do Eu, em uma completa
incoerncia entre seus vrios elementos. Quero sustentar o oposto: a
referncia a Proteu supe a busca pela autenticidade e signicado, um
interrogar-se sobre a forma do Eu
99
. Por essa mesma linha interpreta-
tiva, j trilharam R.D. Laing (1959), P. Berger (1973), J. Elster (1986) e
A. Giddens (1990).
A abordagem adotada por Giddens muito relevante para o nos-
so tema porque faz resenha das consequncias da atual radicalizao
da modernidade. Giddens analisa uma caracterstica essencial da nos-
sa poca: a tendncia desagregao e enfraquecimento das instituies
sociais:
Observando pelo lado concreto da vida quotidiana, isso sig-
nica uma espcie de perda do tradicional senso de lugar. Ou
seja, quase sem perceber, as pessoas so expulsas do contexto
onde ocorriam as relaes sociais no mundo pr-moderno. O re-
sultado disso uma distncia cada vez maior objetiva e subjeti-
va entre pessoas e entre as pessoas e as instituies. o fenme-
no do distanciamento espacial-temporal que se exprime como
o esvaziamento do tempo (empting of time) e o esvaziamento
do espao (empting of space).
Partindo de autores como G. Simmel, M. Horkheimer, A. Gehlen,
N. Luhmann e J. Meyrowitz, Giddens desenvolve um cenrio onde o
vnculo das pessoas com as instituies seria sem face (faceless), ou
seja, impessoal. So vnculos que se baseiam principalmente na crena
(trust) das pessoas sobre a idoneidade dos sistemas competentes. Ele
se refere aos sistemas abstratos nos quais as pessoas, modernamente,
conam a tarefa de proteg-las dos riscos, garantindo-lhe segurana.
a nossa conana em um sistema competente que nos permite viajar
de avio na (quase) certeza de chegar ao destino. Giddens sustenta que
se esta a inegvel (e irrenuncivel) vantagem de tal conana. A des-
vantagem a despersonalizao dessa conana.
O preo que se paga por essa segurana ontolgica uma vul-
nerabilidade psicolgica cada vez maior. A conana nos sistemas abs-
M. Bachtin nas suas reexes sobre a natureza polifnica dos romances e dos personagens
de Dostoievski (1963, p. 44 e seg.) e, em particular, na sua teoria dos gneros do discurso
(1988, p. 245 e seg.). Agradeo a Patrizia Nanz por ter chamado pessoalmente a minha aten-
o para a contribuio de Bachtin para o argumento. Ver tambm P. Nanz (1993).
99
R. J. Lifton (1993, p. 8-9).
66 Cultura, Sociedade e Tcnica
tratos no oferece a mesma graticao psicolgica da conana nas
pessoas. No obstante, Giddens parece convencido que a ameaadora
autoevoluo da modernidade a metfora dele possa interrom-
per seu curso alucinado e mudar bruscamente de rota.
Isso deveria acontecer graas a uma congnita reexibilidade do sis-
tema que permitiria um incessante repensar, um revericar e um repro-
jetar os seus processos
100
.
Em resumo, o sistema da modernidade seria dotado de anticorpos
capazes de eliminar os prprios efeitos colaterais perversos. A tendncia
de desagregao seria contraposta por uma tendncia contrria de
reagregao e os vnculos impessoais cederiam espao aos vnculos
pessoais (facework). Giddens, porm, no muito explcito ao explicar
como essa autorregulao espontnea aconteceria na prtica. No h
dvida de que a globalizao em curso fez surgir, por toda parte, viru-
lentas reaes de regionalismos. Mas, deduzir, a partir desses eventos,
uma lei sobre o comportamento sistmico da modernidade parece-me
muito arriscado
101
.
A anlise feita por Giddens, em certos aspectos, muito parecida
com a de Gergen e Lifton. E seguramente muito ligada realidade que
todos ns temos diante dos nossos olhos. Nesse ponto, os accionados
pela democracia direta online logo enxergam uma gritante conrmao
de suas teses. No mundo globalizado, os valores das instituies, cul-
turas locais e identidade das pessoas, parecem seriamente ameaados.
Nessa congurao de mundo, a comunicao em rede seria aquela que
melhor atende a estas novas exigncias.
H algo de verdade nisso. Mas o que no verdadeiro, em ab-
soluto, que a comunicao em rede no possa ter uma outra funo,
diferente daquela que lhe determinada. Ou seja, deve suplantar a fun-
o de contribuir cada vez mais para desagregar as instituies, fazer
desaparecer os valores locais e a tornar vs as identidades das pessoas.
Plasticidade individual e tubulncia sistmica
Pode ser til, neste ponto, retomarmos o tema da identidade. Ou
melhor, da no identidade. um tema central, como j assinalamos, nas
100
Salvo engano, o primeiro a introduzir a ideia de reexibilidade na sociologia foi
N. Luhmann (1970, p. 93). Ele fala de mecanismos reexivos. Para Luhmann, os meca-
nismos se tornam reexivos quando so aplicados a si mesmos. O conceito mais especco
de modernizao reexiva, no sentido de uma permanente confrontao (cujo objetivo
a autorregulao) entre os resultados da modernidade e os seus princpios fundamentais, foi
introduzido por U. Beck (1986). Mais desenvolvimentos e especicaes podem ser vistos em
U. Beck, A. Giddens e S. Lash (1993) e em U. Beck (1993). Apesar dos esforos desses intelec-
tuais, o conceito continuou ainda muito vago e de difcil compreenso.
101
Para algumas observaes crticas sobre as ideias de Giddens aqui expostas, ver A.
Touraine (1992, traduo italiana, p. 309 e 310).
1. O ciberespao um espao democrtico? 67
cogitaes dos tericos do ciberespao. Foi correto ressaltar, como ze-
ram Gergen, Lifton e Giddens, que a sociedade moderna, em seu recente
desenvolvimento, surge como uma potente geradora de mutaes. Elas
podem, de fato, desestabilizar a atual congurao geral das funes.
Especula-se que algumas funes at ento insubstituveis prin-
cipalmente aquelas sociais e culturais estejam sendo trocadas por ou-
tras, que dez anos atrs eram desconhecidas. Como pode-se perceber,
esse um fato que se relaciona diretamente com a dinmica da identida-
de das pessoas. No um fato que deva ser discutido em um modo abs-
trato, e sim no contexto concreto da peculiar turbulncia sistmica da
atual fase do capitalismo. uma turbulncia na qual os efeitos se fazem
sentir primordialmente no nvel dos indivduos. Mas atingem tambm
o macrossistema. uma turbulncia que desorganiza completamente os
parmetros de referncia e de orientao das pessoas. Abala as certezas
existenciais e coloca em dvida o direito (sempre muito ilusrio) de se
construir a prpria biograa no jogo da vida.
Quais seriam as causas desse estado de turbulncia? Obviamente
so muitas e das mais variadas espcies. Ressalto, para o nosso discurso,
apenas duas causas que me parecem mais relevantes. A primeira a es-
colha estratgica de uma globalizao forada. Nela, o capitalismo per-
segue o ambicioso desejo de estabelecer um domnio planetrio, em um
contexto de concorrncia superaquecida e com relativa indiferena pelos
custos sociais e ambientais. A segunda seriam as consequncias, cada
vez maiores, do impacto do desemprego advindo das novas tecnologias
sobre o mercado de trabalho global. Especialmente as tecnologias que
eliminam postos de trabalho, substituindo a mo de obra por robs.
Dois fatores contribruiram para desnudar de forma dramtica
aquilo que j se sabia h tempos: no mundo moderno a identidade das
pessoas ser sempre submetida aos inconstantes vnculos e condicio-
namentos do mercado de trabalho. Na nossa sociedade, querendo ou
no, o mercado de trabalho tende a se congurar como um verdadeiro
mercado de identidades. Nesse aspecto, admitamos, Marx no estava
errado. A sua ideia de que atrs da mercantilizao das coisas existe
sempre a mercantilizao dos seres humanos
102
, ou seja, a ideia da rei-
cao (Verdinglichung)
103
, parece ter uma conrmao denitiva.
Diante desta perspectiva, a natureza composta e articulada, ou
seja, fragmentada das nossas identidades, no deve mais ser vista
como uma fraqueza. Ela um recurso que nos permitiria enfrentar as
ameaas implcitas na situao em que se obrigar cada nao a repen-
sar o papel das pessoas no processo social
104
.
Para continuar a desenvolver esse raciocnio, pode-se fazer a
seguinte pergunta: o que se deve entender por repensar o papel das
102
K. Marx (1962, p. 46 e seguintes).
103
G. Lukcs (1970, p. 170 e seguintes).
104
J. Rofkin (1995) cf. J. Brecher e T. Costello (1994).
68 Cultura, Sociedade e Tcnica
pessoas no processo social? A resposta, a princpio, pode ser muito
simples, at banal: considerando-se a alarmante reduo dos empregos,
que j atinge quase todos os nveis da fora de trabalho, recomenda-se
s pessoas que se preparem para a mobilidade, ou seja, que estejam
prontas a abandonar identidades com menor valor para assumir outras
com mais valor. Ou seja: trocar um cargo por outro, mais valioso.
Essa troca de identidades pessoais pode ser uma demanda autnti-
ca e no apenas um paliativo enganoso de natureza transitria. Acredito
que a concepo de mudana das identidades pessoais ao longo da vida
no seja necessariamente contrria da viso dinmica da identidade
que, como vimos anteriormente, uma das contribuies mais inovado-
ras da psicologia e da sociologia contemporneas.
Quando se analisa mais atentamente, a tradicional viso esttica
da identidade era bastante misticadora, pois considerava a identidade
das pessoas ao menos daquelas pessoas que se julgavam livres de dis-
trbios psquicos como uma coisa homognea, compacta e imutvel
no tempo. Isso signica que as pessoas deveriam permanecer sempre
coerentes com algo originalmente pressuposto. Essa viso ideal, est-
tica e idlica exclua o princpio que de a identidade pudesse resultar
das labutas e dos conitos dirios. justamente nesse sentido que os
moralistas de todas as pocas, com certa dose de candura, descreviam o
arqutipo da pessoa s, da identidade completa e feliz. Para eles, s era
simplesmente a pessoa capaz de viver em harmonia com ela mesma e
com os outros. Na verdade, essa pessoa no existe e, se existisse, seria
qualquer coisa menos s. Isso no signica que a busca contnua da
harmonia, da superao do nosso conito inerente, com ns mesmos
e com os outros, no seja parte essencial dos processos formadores da
nossa identidade pessoal.
Por outro lado, a questo da dinmica da identidade, da sua plas-
ticidade e versatilidade estruturais, no est relacionada apenas com o
problema urgente da realocao dos recursos humanos no trabalho. Ela
ocupa tambm uma posio central na discusso atual sobre democra-
cia em face das novas tecnologias.
Quando digo, como armei anteriormente, que os cidados de-
vem participar da discusso pblica com tudo que faz parte (e caracte-
riza) sua individualidade, rero-me sobretudo ao conjunto dos traos
presentes em cada indivduo e que fazem dele um agregado de subi-
dentidades heterogneas. Na verdade, tenho certeza de que o carter
composto da nossa identidade, com os diferentes (e conitantes) traos
que fazem parte dela, so obrigatrios na dialtica democrtica.
Muitos exegetas da democracia eletrnica pensam de maneira
diversa. Eles aderem, com a paixo prpria dos netos, s teorias,
atualmente em voga, que celebram a uidez do real, a imaterialidade do
mundo e a virtualidade dos sujeitos sociais. Mas depois, em sua prti-
ca concreta de navegantes da Internet, manifestam uma viso bastante
antiquada. Para eles, o ideal do ator social democrtico corresponde
imagem de um sujeito com uma personalidade nica, portador de uma
1. O ciberespao um espao democrtico? 69
nica etiqueta, e somente uma, intrprete aquiescente de uma identida-
de estereotipada.
Esse modelo distancia-se, portanto, da viso dinmica da identi-
dade. Esse ator social concebido pelos internautas no existe na realida-
de. Ele criado articialmente. Nascem assim aquelas guras espectrais
apcrifas, as identidades falsas, as quais j nos so familiares h muito
tempo. E isso no tudo. Faz-se, apologia do modo de comunicar-se
usando essas identidades inefveis a conversao via teclado - que
abriria possibilidades inditas democracia. No entanto, isso no cr-
vel, porque a interao com uso de identidades falsas corresponde a um
modelo comunicativo contrrio aos interesses da democracia direta
ou indireta. Na verdade, no crvel um modelo que falsica grotes-
camente a natureza do ator social, sobre o qual, nada de certo se pode
saber, e que renuncia a saber qualquer coisa de certo sobre os outros.
Em poucas palavras: sujeitos totalmente articiais.
Podem-se apontar certas coincidncias, mesmo que discutveis,
entre esta realidade e aquela que J. Rawls previu no contexto da sua
teoria da posio originria. Rero-me ao famigerado vu de ig-
norncia. Levantar essa analogia tem seus riscos. O principal deles
aquele do qual o prprio Rawls j nos advertira em vrias ocasies: le-
var ao p da letra a ideia do vu de ignorncia que, em suas prprias
palavras, dar como real uma situao puramente hipottica, um
artifcio expositivo.
De qualquer maneira, ser til recordar brevemente o conceito de
vu de ignorncia. Para Rawls, os princpios da justia so escolhi-
dos sob um vu de ignorncia. Isso signica, na prtica, que ningum
conhece o seu lugar na sociedade, a sua posio ou o seu status social.
Ningum sabe a parte que lhe determina o acaso na subdiviso dos do-
tes naturais, da inteligncia, da fora e assemelhados. Todos, portanto,
ignoram as prprias concepes do bem e as prprias propenses psi-
colgicas especcas (1972, traduo italiana, p. 28). Substancialmen-
te, trata-se de anular tudo aquilo que est presente em ns, capaz de
impedir uma posio originria de igualdade. Estou propenso a acre-
ditar que este trabalho de anular as prprias identidades no seja to
diferente daquele que se verica no ciberespao. Ali os atores escondem
as prprias identidades at que desapaream por completo. Em ambas
as situaes, ningum sabe (ou deveria saber) nada sobre si mesmo ou
sobre os outros.
No excluo que colocar no mesmo plano essas duas formas de
anular possam suscitar muita discusso. No se pode desprezar o fato
de que existam diferenas essenciais entre as duas situaes. Cito a mais
bvia: enquanto o vu de ignorncia destina-se nobre busca da
equidade na justia, nada disso ocorre no jogo de trocas de identi-
dade do ciberespao. Por outro lado, necessrio admitir que algumas
dessas diferenas so mais aparentes que reais. Sustenta-se, por exem-
plo, que no ciberespao a anulao da prpria identidade ocorre quan-
do se assume uma identidade apcrifa. Isso no acontece na anulao
proposta por Rawls.
70 Cultura, Sociedade e Tcnica
Tenho grandes dvidas a esse respeito. Pergunto-me: quando se
conclui o trabalho de anulao de todas as contingncias particulares
no vu de ignorncia, qual a natureza da identidade que resta?
O sujeito transcendental que resultaria dessa anulao no seria, sob
certos aspectos, uma outra identidade igualmente apcrifa? No cibe-
respao, como sabido, a simulao de uma identidade diferente no
signica renunciar prpria identidade. Dito de outra forma, a pessoa
continua sempre sabendo quem , na realidade.
Por essa ptica, j se manifestou o temor de que esta vantagem
poderia ser utlilizada para manipular os outros, em funo dos prprios
interesses
105
. Em teoria isso possvel, mas desde que todos os outros se
apresentem com a prpria identidade. Normalmente, porm, isso no
ocorre, pois os outros tambm escondem a prpria identidade, mesmo
sabendo quem realmente so. O mesmo se verica, por explcita esco-
lha programtica, no vu de ignorncia. E Rawls est perfeitamente
consciente disso. Rawls arma (1993, traduo italiana, p. 41): Quan-
do simulamos... estar em posio originria, o nosso pensamento no
nos vincula a uma especca doutrina metafsica do Eu. Da mesma for-
ma que o fato de intepretar um papel em um drama, por exemplo, o de
Macbeth ou de Lady Macbeth, no nos obriga a crer que um rei ou uma
rainha estejam lutando desesperadamente pelo poder poltico. Algo se-
melhante vlido para a interpretao de um papel genrico
106
.
O mstico e poeta espanhol Juan de la Cruz aconselhava a clau-
sura s freiras: Agradea por no ser conhecida nem por ti nem pelos
outros
107
. No tenho dvidas que a total renncia ao conhecimento
de si e aos outros possa ser o caminho certo para iniciar as freiras en-
clausuradas na experincia da vida mstica. Mas no o caminho mais
indicado para formar cidados ativos e participantes da vida pblica.
Mas por que importante conhecer a si mesmo e aos outros em
uma democracia? Se isso no ocorrer, quais so as consequncias para
a democracia? Uma resposta pode ser encontrada em alguns esquemas
interpretativos contidos na teoria do agir comunicativo de J. Haber-
mas
108
. Em sua complexa teoria, derivada de uma reviso crtica de
Peirce, Weber, Bhler, Sctz, Wittgenstein, Austin e Searle, o lsofo
alemo faz uma distino entre o agir estratgico que visa alcanar
105
Agradeo a Marco Santambrogio por ter-me feito notar este risco.
106
Esta lembrana de Rawls ao ator e a sua interpretao de um papel muito esclarece-
dora sobre a verdadeira natureza da sua teoria da posio originria e do real funcionamen-
to do vu de ignorncia. (Sobre a relao transitria do ator com seu papel ver no subttulo
anterior Um jogo? as minhas consideraes a respeito). Para outros (e opositores) pontos de
vista sobre a posio originria em Rawls, cf. B. Barr (1973), R. Dworkin (1975), B. Barber
(1975), J. C. Harsanyi (1977), M. J. Sandel (1982), T. M. Scanlon (1982), J. Habermas (1983,
1991 e 1992) e S. Veca (1982, 1985 e 1996).
107
Juan de la Cruz (1990, p. 84).
108
J. Habermas (1981). Cf. o captulo Habermas e as aporias do projeto moderno no
meu ensaio Il futuro della modernit (1987).
1. O ciberespao um espao democrtico? 71
um determinado objetivo e um agir comunicativo que visa transmi-
tir uma informao ou conhecimento.
Para Habermas, esta ltima modalidade de ao fundamental
na vida democrtica. Em resumo, ele sustenta que uma democracia, se
quer continuar a s-la, deve no somente tutelar, mas tambm promo-
ver o agir comunicativo pblico. Um agir que privilegie a deliberao
racional, particularmente nos casos em que mais atores so chamados
a decidir sobre questes polmicas. Por outro lado, o agir comunicativo
de Habermas muito mais do que acidental. Ele imagina um cenrio no
qual os interlocutores conseguem alcanar a unidade no mundo objeti-
vo apesar da subjetividade de seu contexto de vida, graas s convices
elaboradas de forma racional, superando as prprias concepes que
anteriormente eram apenas subjetivas
109
. Esse cenrio remete a uma
situao ideal, visto que os interlocutores demonstram estar de posse
daquela competncia comunicativa essencial em uma tica democr-
tica do discurso
110
.
No seu raciocnio, Habermas se refere principalmente a dois
construtos categoriais: o do mundo da vida (Lebenswelt) que vem de
Husserl e Schtz
111
e aquele dos atos lingusticos (speech acts) oriun-
do diretamente da lingustica de Austin e indiretamente da losoa da
linguagem de Wittgenstein
112
. Essas duas vertentes da teoria do agir co-
municativo de Habermas so muito importantes para o nosso tema.
Vejamos os motivos. Antes de mais nada, vamos tentar esclarecer o di-
fcil conceito do mundo da vida. Esse conceito, como demonstram as
vrias verses (frequentemente contraditrias) que nos forneceu Hus-
serl, um dos mais complexos da tradio fenomenolgica. Ao mesmo
tempo um dos mais estimulantes.
O tema do mundo da vida foi introduzido no mbito da ree-
xo sociolgica por A. Schtz. Na prtica, a partir de ontologia social
do mundo da vida
113
de Husserl, ele chegou ontologia natural do
mundo da vida. Simplicando seu raciocnio, com todos os riscos ine-
rentes, pode-se dizer que, para Schtz o mundo da vida aquele setor
da realidade no qual os humanos atuam em sociedade (no em solido),
109
J. Habermas (1981, p.28, traduo italiana, p. 64 e 65).
110
No que concerne ideia da competncia comunicativa ver J. Habermas (1971 p.
101, 1976 p. 175, 1984 p. 187). O tema tem uma grande relevncia na sua pragmtica
universal (1976). Segundo Habermas a competncia comunicativa de um sujeito-agente
medida na sua capacidade de respeitar o fundamento da validade do discurso (Geltungbasis
der Rede), o que na prtica signica satisfazer pelo menos quatro requisitos: sentido (Verstn-
digung), verdade (Wahreit), honestidade (Wahrhaftigkeit) e preciso (Richtigkeit).
111
Sobre a noo de Lebesnwelt em Husserl cf. R. Welter (1986). Sobre a mesma noo
em Habermas, cf. U. Matthiesen (1985).
112
Cf. J. L. Austin (1962) e L. Wittgenstein (1953 e 1970). Sobre os atos lingusticos
em particular, ver M. Sbis (1978 e 1989).
113
R. Welter (op. cit. p.9) Cf. F. Fellmann (1983, p. 41) e I. Srubar (1988).
72 Cultura, Sociedade e Tcnica
levando quotidianamente a sua existncia
114
. Nesse sentido, o conceito
de mundo (social) da vida confunde-se com o do mundo (social)
quotidiano. Como diz Schtz, um mundo composto, no apenas a
nossa experincia com a natureza, mas tambm o mundo social e cultu-
ral em que nos encontramos
115
.
No mundo da vida est presente a sociedade. Mas uma so-
ciedade, digamos, um pouco especca. No a sociedade abstrata das
instituies e das normas, mas aquela muito concreta que emerge da
nossa vida cotidiana. Em resumo, uma sociedade que inclui nossas ex-
perincias do dia a dia, de forma natural, espontnea e imediata.
Alguns intelectuais consideraram o jogo da vida apenas como
uma nova verso, losocamente mais sosticada, da velha e cansada
sociedade civil. Contudo, graas a Schtz e a Habermas, ela encon-
trou um forte estmulo reexo sociolgica e losca sobre o agir
comunicativo, em particular, pelo assunto que aqui estamos tratando.
Schtz destaca: apenas no quotidiano mundo da vida pode-se criar
um ambiente comunicativo comum.
116
Em seguida, Habermas comple-
menta: anal de contas, o agir comunicativo depende de contextos
situacionais, que por sua vez representa um olhar (Ausschnitte) sobre o
mundo da vida dos participantes
117
.
Como se v, tanto em Schtz como em Habermas, emerge com
clareza que um agir comunicativo ideal supe a existncia de um abiente
no qual os atores tm a possibilidade de interagir com (ou em funo de)
seu mundo cotidiano. A meu ver isso signica algumas coisas bem es-
peccas: a) que os atores possam agir juntos, sicamente, e em recpro-
ca visibilidade; b) que os atores possam expor publicamente, sem temo-
res ou apreenses de qualquer tipo, as motivaes pessoais que esto na
base de seus julgamentos e de suas escolhas; c) que existam as condies
capazes de garantir as mesmas oportunidades a todos os atores partici-
pantes, por exemplo em termos do tempo disponvel, para exprimir as
prprias ideias e para argumentar em defesa das prprias ideias.
Este , certamente, um modelo ideal do agir comunicativo demo-
crtico. Na realidade, porm, nem todos esses requisitos podero ser
respeitados ao mesmo tempo e na mesma medida
118
. Mas uma coisa
certa: esse modelo, mesmo sendo uma verso menos ambiciosa, situa-
se no extremo oposto ao modelo de comunicao interpessoal online.
Nesse ltimo, nega-se a presena fsica e a recproca visibilidade. Es-
conde-se a prpria identidade e dicilmente existe uma oportunidade
equnime de manifestao.
114
A. Schtz e Th. Luckmann (1979, p.25). Cf. A. Schtz (1971).
115
O mundo da vida de Schtz pode parecer, por certos aspectos, muito semelhante
vida cotidiana do marxista H. Lefebvre. Ver H. Lefebvre (1947).
116
A. Schtz e Th. Luckmann (1979, p.25).
117
J. Habermas (1981, p. 376).
118
Tais requisitos no levam em conta que, aps a chegada da imprensa, do rdio e da te-
leviso, o tradicional interagir entre presentes cedeu cada vez mais espao para o interagir
1. O ciberespao um espao democrtico? 73
Aparentemente, poder-se-ia considerar a comunicao interpes-
soal online como a primeira tentativa de se contrastar a colonizao
de uma parte do sistema social do mundo da vida. Isso se deve sua
presumida natureza direta e independente das instituies. Em resumo:
pela primeira vez, o mundo da vida teria encontrado seu meio de
comunicao mais adequado.
Trata-se, porm, de uma aparncia enganadora. Por motivos j
apresentados, na comunicao interpessoal online estamos realmente
no grau zero do mundo da vida.
O uso online da linguagem
A respeito do uso online da linguagem posso adicionar alguns
elementos de avaliao. Para esse objetivo, parece-me apropriado re-
tornar ao segundo dos construtos categoriais levantados pelo discurso
de Habermas sobre o agir comunicativo. So os atos linguistcos de
Austin (1962). Como sabido, Austin props a sua famosa distino
entre o ato de dizer alguma coisa (ato locutrio), o ato de atribuir uma
determinada fora ao dizer alguma coisa (ato ilocutrio) e o ato de fa-
zer algo com o dizer alguma coisa (ato perlocutrio), ou seja, o efeito
causado pelo que se disse. Os exemplos que Austin d para cada um
desses trs atos so: a) ato locutrio: ele disse que...; b) ato ilocutrio:
ele sustenta que...; c) ato perlocutrio: ele me convenceu que....
Procurando limitar seu campo de pesquisa, Austin especica que seu
interesse restrito a um uso srio da linguagem, e no a um uso no
srio. Utilizando-se de uma inslita metfora emprestada da botnica,
ele chama o uso no srio de estiolamento da linguagem
119
. Ele se
refere aos enunciados performativos particularmente vazios ou nulos
(holow or void) como... aqueles proferidos por um ator no palco, ou
inseridos em uma poesia, ou expressos em um solilquio.
Essa contraposio entre um uso srio e no srio da lingua-
gem suscitou grande espanto entre os estudiosos. Cito, por exemplo, as
dvidas expressas por P. F. Strawson, relativas provocatria tese de
Austin. Nela, os atos ilocutrios no poderiam ocorrer em um contexto
de uso no srio ou de estiolamento da linguagem. No gostaria
de adentrar nesse argumento deliciosamente tcnico. Mas obrigo-me a
entre ausentes. O problema foi analisado no contexto de uma teoria autopoitica do sistema
das mdias por N. Luhmann (1996). Segundo o lsofo alemo, as espordicas tentativas
dos atores no presentes de interagir como se estivessem presentes (por exemplo, atravs de
telefonemas dos espectadores durante as transmisses de rdio ou TV) servem apenas para a
reproduo do sistema das mdias e no para o contato do sistema com o seu ambiente. Para
uma minha crtica ideia de Luhmann sobre a relao sistema ambiente, ver o ensaio Il futuro
della modernit (1987, p. 161 e 162).
119
O estiolamento o complexo de alteraes sofridas pelas plantas que vegetam em
ausncia de luz.
74 Cultura, Sociedade e Tcnica
destacar a importncia que essa tese pode assumir no mbito temtico
da conversao online. E, com isso, a desconsiderar as reservas sobre a
tese de Austin, apresentadas pelos especialistas.
Austin obviamente no pde conhecer o atual desenvolvimento
da informtica e das telecomunicaes porque faleceu em 1960. Apesar
disso, creio que a conversao online possa ser vista como o melhor
exemplo daquele uso linguistco especco, do qual um enfastiado Aus-
tin se distanciava. Esse um exemplo seguramente mais apropriado do
que os citados por ele prpio, sobre o uso da linguagem no palco, na
poesia ou em um solilquio.
evidente que o uso da linguagem no irc, mud, bbs ou e-mail
feito de modo abusivo. Diria Austin que um uso parastico. E as
causas so muitas. Antes de mais nada, trata-se de uma comunicao
entre escrevedores e no entre falantes. Ou mais exatamente entre
falantes que no falam entre si, mas que, atravs do teclado do com-
putador, enviam reciprocamente breves mensagens escritas.
Fernand de Saussure ensina que a escrita apenas uma represen-
tao da lngua, e no a prpria lngua
120
. Esse princpio fundamental
da lngustica moderna no compartilhado por todos sem restries
121
.
Ao contrrio, alguns o rejeitam sem meios termos. E, entre eles, obri-
gatrio recordar J. Derrida, que na sua sugestiva (e frequentemente in-
compreensvel) prosa de arte, exalta uma total autonomia da escrita
e, polmico, denuncia aquilo que ele chama de fonologocentrismo
da lingustica.
Discursos desse tipo, a despeito do seu eventual fascnio parali-
terrio e paralosco, so estranhos ao nosso tema. Nosso mbito se
concentra primeiramente nos aspectos semntico-pragmticos da comu-
nicao interpessoal. Nessa tica, mensagem escrita e linguagem sero
analisadas separadamente. A menos que se queira fazer dessa anlise
um confronto que visa estabelecer, por exemplo, uma maior ou menor
pertinncia comunicativa de um meio em relao a outro. A questo
de grande importncia. Pessoalmente estou convencido de que o dilo-
go escrito quese sempre semanticamente menos incisivo que o falado.
Fique claro, porm, que no pretendo colocar em discusso o va-
lor do dilogo escrito como meio de comunicao, de expresso e de
conhecimento. Isso seria, no mnimo, insensato. Na prtica, signicaria
120
F. de Saussure (1955, p.45).
121
Alguns estudiosos, mesmo admitindo que a escrita no uma lngua, negam que ela
seja apenas uma representao, um sistema grco de notao. Concorda com esse ponto de
vista, por exemplo, G. R. Cardona (1987), que atribui escrita uma condio relativamente
autnoma. Ele critica, a meu ver justamente, a tendncia dos linguistas de identicar a escrita
apenas como escrita alfabtica. J a sua tese implcita, de que todos os sistemas grcos devem
ser considerados como escrita, na minha opinio, bem menos convincente. No restam dvi-
das que existem sinais e sistemas grcos fora da escrita (en dehors de la criture). Como disse
M. Cohen (1953). Acerca dos sistemas grcos como artefatos comunicativos, cf. G. Anceschi
(1981).
1. O ciberespao um espao democrtico? 75
desprezar a importncia que teve, durante muitos sculos, a escritura
dialgica no campo da literatura, da losoa e da cincia e nas corres-
pondncias entre as pessoas
122
. Meu propsito outro: quero exprimir
minhas dvidas sobre a validade apenas daquela especca forma de
escrita dialgica utilizada na conversao online. Uma escrita conden-
sada, sucinta e essencial e altamente estereotipada. Por sua indigncia
semntica, ela eviscera as fraquezas prprias de toda comunicao que
ocorre entre escrevedores e no entre falantes
123
.
Mas quais seriam essas fraquezas? A principal o modo como
diz Austin no srio de utilizar (e de representar) a linguagem. Um
modo no qual os enunciados performativos so proferidos em circuns-
tncias anmalas. Sem a sustentao de convenes conveis, o re-
sultado que os atos ilocutrios no dispem daquela fora (a fora
ilocutria) que deveria permitir-lhes cumprir sua funo.
A pobreza ilocutria, porm, no a nica fraqueza da escrita on-
line. A esta decincia deve-se ainda acrescentar uma paralisante pobreza
expressivo-apelativa
124
, que no se origina de uma falta, como se poderia
inicialmente imaginar. Paradoxalmente, ela deriva de um excesso de ele-
mentos com uma funo expressivo-apelativa. O fenmeno explicado
pela natureza particular dos elementos destinados a cumprir tal funo.
No texto das obras teatrais, ao lado das falas dos personagens,
aparecem breves frases entre parnteses que servem para orientar a lei-
tura. Elas explicam o sentido e a fora (e indiretamente o signicado)
do que ser dito. Utilizo os termos sentido, fora e signicado de acordo
com a terminologia de Frege
125
. Frases desse tipo so acompanhados
por elementos expressivos-apelativos que complementam a fala (tom
122
No dilogo, especicamente no dilogo socrtico, ver as esplndidas pginas escri-
tas por M. Bachtin (1968, p. 143-146).
123
No se pode omitir o fato de que estas novas realidades nos surpreendem, sob o as-
pecto lingustico. T. de Mauro tem razo, quando acena para a urgente necessidade de uma
ciberlingustica telemtica (1996, p. 113). Entre as vrias tarefas que seriam destinadas a
este novo ramo da lingustica, seria prioritrio o estudo da peculiar estrutura narrativa dos
produtos hipertextuais. M.C. Taylor e E. Saarinen (1994) observaram que alguns textos de
Derrida em particular Glas apresentam grande analogia com os hipertextos. No h dvi-
das de que a tecnologia eletrnica favorece a produo de textos desconstrudos, no sentido
derridiano, podendo-se armar a mesma coisa, talvez com maior propriedade, sobre os textos
de James Joyce e de Arno Schmidt. Armam Taylor e Saarinen, que O texto ideal e coerente,
contendo clara estrutura com princpio, meio e m, encontra-se na tecnologia impressa. O
texto eletrnico no costuma ser coerente e no tem uma estrutura narrativa explcita
composto apenas do meio, intermedirio.
Para uma crtica ao desconstrucionismo de Derrida, ver T. Maldonado (1990).
124
O grande linguista austraco Karl Bhler (1934, p. 28 e 29), considerado o precursor
de Austin pela sua teoria do Sprechakt (Ato do discurso) e da Sprechhandlung (Ao do dis-
curso), dividiu o universo das funes lingusticas em trs reas: a expresso, o apelo e a
representao.
125
G. Frege (1892, 1892-1895 e 1969).
76 Cultura, Sociedade e Tcnica
de voz, expresso facial, gesticulao, entre outros) que esto ausentes
no texto. A ttulo de exemplo: com evidente ironia, com um tom
de amigvel reprovao, com falsa gentileza, dando um murro na
mesa, saindo de cena com arrogncia.
Na conversao online existem ainda frases de teor e funes se-
melhantes. Com uma diferena: elas no esto em uma posio margi-
nal, em uma espcie de coluna de anotaes. Elas aparecem vistosa-
mente incorporadas ao texto. So frases pr-fabricadas, lugares comuns
semanticamente pobres que tornam virtualmente impossvel qualquer
articulao lgica das mensagens. So a expresso de uma deplorvel
tendncia ao empobrecimento e banalizao da linguagem.
Outro exemplo nos dado pela moda entre os hackers de utilizar
um sistema grco de smbolos, conhecido na gria cyber como smiley
faces. A coisa em si no tem grande importncia e muitos consideram
apenas uma brincadeira. Eu, ao contrrio, penso que muito signica-
tiva. Vejamos o porqu.
O sistema em questo utiliza um procedimento, muito conhecido
entre os historiadores da escrita, de combinar sinais pertencentes a di-
versos sistemas para produzir um sitema novo. No caso especco, so
os sinais do sistema de pontuao (ponto, dois pontos, vrgula, ponto e
vrgula, parntese, ponto de exclamao, ponto de interrogao, entre
outros) e sinais do sistema alfabtico (letras). Nasce, assim, um sistema
grco ideogramtico no qual os smbolos tm um carter pictogrco.
Na esmagadora maioria, eles lembram vagamente carinhas
126
.
O escopo desses smbolos no somente o do reforo expressivo-
apelativo, mas tambm eis uma outra importante diferena o de com-
pactar e de restringir ao mximo os elementos do discurso. Isso em nome
de uma preocupao obsessiva, em parte tecnicamente motivada, de se
reduzir as mensagens at o osso. A tendncia dominante no universo
da informtica comprimir, comprimir e comprimir ao mximo. Da o
uso e o abuso das abreviaes nos textos, usando-se frases pr-fabricadas
e/ou de smbolos grcos. Mas o preo que se paga por isso altssimo.
O grande lingusta dinamarqus L. Hjelmslev, estudando o pro-
blema das abreviaes escreveu: a abreviao constitui uma parte
constante e essencial na economia do uso da linguagem se pensamos
em termos como irado e mandou bem que dispensam maiores co-
mentrios. Se reduzimos apenas ao registro das relaes, acabaremos
muito provavelmente... s registrando combinaes grcas
127
.
Alguns autores defendem essa natureza combinatria da conver-
126
Podem ser reconhecidas como tais, lendo a sequncia linear esquerda direita como
se fosse de cima para baixo: (:-i) sorriso sarcstico; (:-ii) com raiva; (:d) gargalhada; (:o) gri-
to; (:-/) dvida; (:-c) totalmente incrdulo; (:-s) incoerncia, e muitas outras. Cf. C. Petrucco
(1995, p. 345-351). interessante notar que as carinhas so tambm chamadas em ingls
de emoticons (emotions-icons). Ver Emoticon (1966) e Glossary of Internet Terms (1966). Ver
tambm The Whole Smiley Face Catalog (1996) e Smiley Dictionary (1996).
127
L. Hjelmslev (1961, traduo italiana, p. 101).
1. O ciberespao um espao democrtico? 77
sao online. No faltam ainda aqueles que, insistindo nessa linha, che-
gam at a incomodar a ars combinatoria de Leibniz. Outros, ao contr-
rio, exaltam as vantagens que esta pode trazer para a conciso, ou seja,
pela drstica eliminao de tudo que supruo em um texto. Aqui
pode-se apelar para o racionalismo de Descartes. Entretanto, as coisas
colocadas dessa forma esto longe da realidade.
O resultado desse reducionismo estenogrco no um raciocnio
mais conciso em um estilo expositivo mais lmpido e sbrio. apenas
um depauperamento de contedos referenciais. Os interlocutores en-
contram-se mergulhados em um rio de siglas, de carinhas, de abrevia-
turas e de neologismos. O fato curioso que esse sistema de smbolos,
apresentado como um novo recurso de comunicao, est a servio de
mensagens de uma trivialidade e de um vazio deseperadores.
Isso no causa espanto. As construes cheias de grias, quando
ultrapassam um certo limite, deixam de favorecer e passam a atrapa-
lhar uma livre e signicativa comunicao
128
. E isso ocorre por duas
razes: a) porque a gria funciona como um certicado de origem,
um distintivo que identica um determinado grupo, congregao ou
seita. Em resumo, uma senha para os iniciados. A gria contribui para
aumentar, cada vez mais, a distncia entre aqueles que a dominam, ou
seja, os iniciados, os admitidos, e aqueles que no o so, ou seja, os ex-
cludos, os barrados; b) porque a gria se apresenta como um fator de
autopiedade e de autolimitao
129
. Normalmente, os seus accionados
no conseguem renunciar ao fascnio nominalista existente em cada
gria. Em outras palavras, a tentao de acreditar que basta nominar
diferentemente as coisas para conhecer essas coisas. Isso sem perceber
que atrs da pirotecnia dos novos termos comumente se escondem con-
ceitos anacrnicos, j descartados, do pensamento cientco ou los-
co. Esses equvocos exercem uma inuncia negativa nos estudos sobre
128
importante notar que no pretendo discutir toda a terminologia especializada em
uso no campo das cincias e da tecnologia. Grosso modo, pode-se dizer que tal uso se justica
pela necessidade de evitar, entre os especialistas, equvocos que poderiam surgir do uso de
vocbulos da lngua natural.
129
A tendncia ao hermetismo dos iniciados est presente em todas as manifestaes do
folclore da contracultura cyber. Frequentemente, esse hermetismo no se exprime tanto na
(real) diculdade por parte de quem no iniciado em decifrar com agilidade os cdigos uti-
lizados. A ideia a de desencorajar qualquer outra forma de acesso estranha a estes cdigos.
Basta dar uma olhada nas revistas e folhetos que so publicados nesta rea. A primeira coisa
que surpreende a supremacia absoluta da paginao grca em detrimento da legibilidade
do texto. Tudo sacricado em funo de uma arte grca feita de forma absolutamente
autnoma. normal sermos obrigados a ler um texto em condies de legibilidade prxi-
ma de zero. Por exemplo, textos impressos em vermelho sobre um fundo verde, ou em azul
celeste sobre fundo prata, ou, ento, submetidos a audaciosos tratamentos grcos. Privado
da possibilidade de uma leitura que merea ser chamada de tal , o leitor sente-se como um
convidado indesejado e renuncia empreitada.
78 Cultura, Sociedade e Tcnica
a conversao online. E, ainda mais importante, sobre a maneira pela
qual ela praticada.
Outras modalidades de conversao online
Ao longo desta anlise, discuti, com insistncia, uma modalidade
especca de conversao online: aquela na qual os sujeitos renunciam
prpria identidade e assumem uma outra, ctcia. Espero ter demons-
trado que essa prtica coloquial no absolutamente adequada s exi-
gncias de um agir comunicativo pblico. Seria, porm, muito parcial e
at ilusrio reduzir a questo da relao telemtica-democracia exclusi-
vamente conversao online
130
.
Alm da modalidade escrita-leitura, na qual o escrevente e o leitor
se comunicam entre si permanecendo annimos, existe uma outra na
qual, atravs de vdeo e udio, os sujeitos so interlocutores no pleno
exerccio de suas respectivas identidades. Rero-me s diversas modali-
dades de videocomunicao: video-telefone, pc com funo video-tele-
fnica e rollabout. Por esses meios e em locais diferentes, os participan-
tes se veem e se ouvem, iniciando uma relao interativa em tempo real.
uma relao que, ao contrrio da precedente, se aproxima muito mais
de uma verdadeira conversa face a face.
bem verdade que a televiso j nos fornecia (e fornece ainda)
algumas formas muito rudimentais de interatividade. Os meios utiliza-
dos, porm, eram muito complicados e normalmente desencorajadores.
Na realidade faltava a esses servios a naturalidade tpica dos dilogos
das pessoas no dia a dia. A videocomunicao seguramente um passo
adiante nesse sentido. Mas os problemas permanecem. Eles aparecem
quando se preparam reunies virtuais que envolvem vrias sedes e mui-
tos participantes: so as chamadas teleconferncias. Nesse caso, existe a
presena no uxo da conversao de um diretor que decide a entra-
da e a sada dos interlocutores. Ou seja, ele determina a ordem das
intervenes. Ele um elemento de perturbao (e frequentemente de
imposio) que tolhe a espontaneidade e a criatividade de um livre agir
comunicativo.
Muitos linguistas, sociolinguistas e lsofos da linguagem tm
prestado muita ateno fala conversacional
131
. O centro de inte-
130
perfeitamente compartilhvel a observao de M. Calvo et al. (1996, p. 9) a respeito:
Por este ponto de vista, concentrar a ateno unicamente sobre algumas formas de interao
social como o chat e consider-las tpicas da comunicao interpessoal na Internet pode
revelar-se um equvoco. Somente quando se considera o quadro mais amplo representado pelo
conjunto das funcionalidades informativas e comunicativas da rede que compreendemos
plenamente seu alcance social. Menosprezar o chat, entretanto, seria um erro.
131
Cf. H. Garnkel (1972), E. Goffman (1971 e 1981), E. Schegloff e H. Sacks (1973), H.
Sacks et al. (1974), H. P. Grice (1975). Ver ainda F. Orletti (1994), L. Passerini, E. Capussoti
e P. Braunstein (1996).
1. O ciberespao um espao democrtico? 79
resse desses estudiosos foi sempre, com poucas excees, o face a face
dialogal entre sujeitos que interagem pela proximidade em um espao
real. O seguinte trecho da obra de G. M. Green (1989, traduo ita-
liana, p. 103-104) um exemplo esclarecedor do tipo de problema
enfrentado neste campo de pesquisa:
Talvez o aspecto da conversao interativa que majoritaria-
mente a distingue de outros tipos de produo do discurso seja a core-
ograa da passagem dos papis, do destinatrio ao falante e vice-versa.
Como far um destinatrio a para levantar-se para falar, assumindo o
papel de falante? Irromper ao nal de um enunciado, esperando que
o falante f tenha terminado? Se f no terminou, como se pode saber
quem poder falar? Seria uma questo de status e de diferena ou de
insistncia e de fo ra bruta? Se existir mais de um destinatrio,
como faro a, b e c para saber de quem a vez de falar? Considerando
que normalmente no estamos conscientes de ter de resolver esses pro-
blemas na conduo de uma conversao (banal ou ocial), coloca-se o
problema: como isso ocorre? Por que parece que a conversao ui em
um modo to fcil?
Essas questes j encontraram resposta bem convincentes, no m-
bito da pragmtica lingustica. So respostas que contemplam exclusi-
vamente a conversao interativa normal, ou seja, entre sujeitos reais
em interlocuo no espao real. A teleconferncia, porm, nos obriga
a enfrentar problemas que so iguais, mas ao mesmo tempo diferen-
tes, em relao a este tipo de conversao. Agora temos de lidar com
um face a face diagonal, que no se desenvolve em um espao real ou
com proximidade fsica. Desenvolve-se virtualmente e distncia. At
o momento no se conhecem tentativas de se fazer anlises rigorosas
desse novo fenmeno. Trata-se de um campo de pesquisa que dever
enfrentar problemas inditos, mas que no poder desprezar o acervo
de conhecimento acumulado no estudo da conversao normal.
No momento, resta-nos aguardar que os estudiosos da matria
possam em breve nos explicar a fala conversacional no novo contexto.
Isso ser decisivo para iluminar nosso raciocnio sobre as possibilidades
de se utilizar a videocomunicao no s no universo da gesto, da di-
dtica e dos projetos, mas tambm no mundo poltico.
Alm da utilizao convencional da rede, existem outros usos que
no recaem nessa categoria. Entre eles, os mais importantes so os da
comunicao tecnocientca e da transmisso-aquisio de dados de in-
teresse militar, industrial, nanceiro, administrativo e poltico. A meu
ver, podemos e devemos questionar muitos usos da rede. Exceto sobre
o fato de que ela um formidvel meio de informao e, como tal, co-
loca-se no centro do discurso sobre o saber. Pesquisadores e educadores
foram os primeiros a reconhecer a sua importncia e os primeiros a se
aproveitar disso. Se verdade que saber poder, os novos meios telem-
ticos de acesso ao saber assumem uma enorme e crucial importncia no
atual debate sobre o futuro do poder democrtico.
Nesse ponto percebo que so necessrios mais esclarecimentos.
Por exemplo: em que medida verdadeiro o discurso no qual mais in-
80 Cultura, Sociedade e Tcnica
formao igual a mais saber, e mais saber, por sua vez, equivale a mais
poder? primeira vista, a pergunta pode parecer meramente retrica,
visto que uma resposta positiva mais que previsvel. As coisas, porm,
no so to simples. difcil colocar em dvida, por ser muito bvio,
que o poder exige (e pressupe) o saber. No obstante, uma hipottica
cadeia de transitividade (mais informao = mais saber; mais saber =
mais poder) tem um elo fraco: a primeira equao. Pessoalmente acredi-
to que ela, ao contrrio da segunda equao, no convence. O aumento
do saber no pode ser explicado apenas pelo aumento da informao.
Como veremos adiante, o aumento do volume de informao circulante
se congura como um fator negativo para o aprofundamento do saber.
O que se ganha em extenso, perde-se em densidade.
E no s. Hoje em dia a informao frequentemente veicula
desinformao, ou seja, informao inexata, distorcida ou falsa. Uma
informao, percebe-se, feita de modo que no contemple o saber.
A menos que o conhecimento da desinformao, ao contrrio, sirva
como expediente que nos ajude a identicar a informao que no
desinformao.
Neste ltimo caso, zemos um uso neutro da palavra conhecimen-
to. Ou seja, consideramos, na prtica, que tanto a informao quanto a
desinformao, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal possam ser legiti-
mamente objeto de conhecimento. Isso nos obriga a examinar mais de
perto, entre outros, os aspectos terminolgicos implcitos nas noes de
conhecimento e de saber e da relao de ambos com a informao (e a
desinformao).
Primeiramente vem a pergunta: as noes de conhecimento e de
saber so intercambiveis? Mais concretamente: em cada assunto que
diz respeito a essas noes e sua relao com a informao, a palavra
saber pode substituir a palavra conhecimento (e vice-versa) sem alterar
o sentido do argumento? Grosso modo, eu diria que sim. Deve-se admi-
tir, todavia, que a relao informaoconhecimento muito mais dire-
ta que a relao informaosaber
132
. Eis por que admissvel falarmos
de conhecimento da desinformao. Ao contrrio, soaria no mnimo
curioso sustentar que o acmulo de desinformao poderia contribuir
para o enriquecimento do saber.
Embora ciente das nuances semnticas que diferenciam os dois
termos, gostaria de utiliz-los indistintamente, por comodidade expo-
sitiva, como se tratassem de sinnimos (ou quase). Isso simplica as
coisas e nos permite prosseguir sem os obstculos do nominalismo.
132
Isto porque nas lnguas neolatinas a ideia de saber (se se pensa no savoir francs e no
saber do espanhol) normalmente considerada mais rica e articulada que a de do conheci-
mento (connaissance e conocimiento). No ingls, como se sabe, knowledge ao mesmo tempo
saber e conhecimento. Cf. sobre a relao knowledge-information F. Machlup (1962, p. 7-8).
Sobre o mesmo argumento, ver tambm G. Martinotti (1992). O autor examina a ideia da
informao em relao aos trs tipos de saber: organizado ou culto, difuso ou popular, orga-
nizacional ou tcnico.
1. O ciberespao um espao democrtico? 81
Antes, porm, devo sugerir uma ulterior especicao terminolgica:
rero-me necessidade de se distinguir saber individual do saber social.
Trata-se de uma inevitvel exigncia de mtodo que tem como objetivo
dar consistncia ao discurso sobre o saber. Qualquer reexo sobre esse
tema, para no car em generelidades, deve reconhecer a existncia
de dois nveis estruturais distintos do saber: um nvel individual e um
social. Essa uma distino fundamental para o assunto que examina-
remos a seguir
133
.
Saber individual e saber social
Se desejamos indagar qual o signicado democrtico de um uso
operativo, ou seja, no conversacional da rede, imperativo manter
separados o saber individual do saber social na anlise. Embora exista
uma recproca contaminao entre um e outro, a cada um deles atri-
buda uma relativa autonomia. E isso pelo simples motivo que uma coi-
sa so os saberes individuais, os saberes de que cada um de ns dispe
como pessoa nica. Outra coisa so os saberes que uma sociedade (ou
cultura) desenvolve, acumula, institucionaliza no seu conjunto. Existe,
de um lado, o microssaber que os seres humanos utilizam na sua vida
cotidiana. Do outro lado, est o macrossaber, que aparece como um
vasto, abstrato e annimo cabedal de conhecimento.
Sob o ponto de vista hitrico, pode-se dizer que a distncia entre
o saber individual e o saber social vem aumentando com o passar do
tempo. No h mais dvidas que, antes do surgimento de formas insti-
tucionalizadas de diviso do trabalho, a distncia entre os saberes era
mnima. Ou melhor, o saber individual se identicava bastante com o
saber social. Em outras palavras, aquilo que se sabia coletivamente no
era muito diferente do que se sabia individualmente.
As pessoas das culturas ditas primitivas possuem um vastssimo
saber individual sobre a potencialidade e os riscos do ambiente em que
vivem. O saber social, normalmente conado ao feiticeiro, no subs-
tancialmente mais rico que o saber individual. As coisas mudam radi-
calmente quando examinamos as sociedades onde a diviso do trabalho
assumiu formas cada vez mais diferenciadas e articuladas. Nessas socie-
dades, a relao entre os dois saberes se inverte: o saber social desenvol-
ve-se notavelmente enquanto o saber individual tende a se empobrecer
e perder inuncia.
Com o advento da sociedade industrial, este fenmeno assumiu
contornos ainda mais dramticos. Th. Sowell (1980, p. 3) descreve
esta situao constatando que individualmente o nosso conhecimento
tremendamente restrito, mas socialmente utilizamos uma gama de
conhecimentos to complexos que confundiriam um computador.
desnecessrio relembrar que utilizamos, no nosso dia a dia, uma
133
Cf. B. A. Huberman (1996).
82 Cultura, Sociedade e Tcnica
innidade de equipamentos sem saber nada sobre sua fabricao ou
sobre seu funcionamento. Interessamo-nos somente pelo desempenho
desses equipamentos. O resto, no problema nosso. Mas se no um
problema nosso, de quem seria, ento? De um outro, no bem denido.
Nos eua, toda vez que uma pessoa se depara com algo que ignora e
que prefere continuar a ignorar d de ombros: Deixa por conta do
George (Let George do it). O George em questo no uma pessoa
determinada. uma gura hipottica que representa o outro, ou seja,
o especialista que conhece aquilo que ns ignoramos. A ele conamos
a ingrata tarefa de fazer por ns aquilo que nos recusamos a (ou no
sabemos) fazer (F. Machlup 1962, p.3). A questo que somos todos
ignorantes na sociedade industrial e neoindustrial. Mas essa ignorncia
no uniforme, como dizia humorista Will Rogers
134
: somos ignoran-
tes em matrias diferentes. Este o motivo pelo qual qualquer um de
ns pode ser o George de outra pessoa.
Porm, isso no ocorre na prtica, por duas razes: a) porque os
potenciais George, ou seja, as pessoas consideradas experts, so uma
minoria; b) porque constata-se uma forte tendncia de integrao mul-
tidisciplinar entre os indivduos que podem ser denidas como expert,
isto , indivduos detentores do conhecimento especializado. Dessa for-
ma, principalmente no campo da pesquisa avanada, os indivduos ex-
perts se agregam em vastos experts coletivos, cada vez mais distantes
daqueles que no so experts em nada. Resumindo: o nosso George est
cada vez mais distante e inacessvel.
Este um fato que no se pode subestimar, pois se tal tendncia
perdurar, ns nos veramos diante de um progressivo isolamento tanto
do saber individual quanto do social. O primeiro, ocupado com com-
portamento operativo de efeito imediato e o segundo, no desenvolvi-
mento e aprofundamento do acervo tecnocientco.
Mas qual seria a natureza do saber individual? Qual seria a di-
ferena deste em relao ao saber social? Seria correto caracteriz-lo
prevalentemente como conhecimento supercial, recusando-se a ir alm
do limite mnimo imprescindvel para a realizao de uma determinada
ao? Na nossa relao operativa e cotidiana com os objetos, no h
interesse especco pelo saber tcnico que estes contm. Mesmo assim,
no seria correto denir o saber individual como um tipo de semissaber,
ou como um saber pobre.
Quando guiamos um carro est presente pelo menos um saber:
exatamente o de guiar um carro. um saber que, no meu entender, no
tem nada de pobre. Mesmo que diferente, sempre um saber. Quando
dizemos que algum no sabe guiar, que dirige muito bem ou muito mal,
referimo-nos uma hierarquizao quantitativa do saber. Entretanto,
reconhecer que o saber operacional um saber, mesmo que muito espec-
co, ainda no diz muito sobre a diferena entre este saber e o saber tc-
nico. A diferena entre saber guiar um carro e saber projetar e fabric-lo
134
Citado por Th. Sowell (1980, p. 3).
1. O ciberespao um espao democrtico? 83
a mesma diferena que separa o motorista do engenheiro mecnico.
Existe uma distino, muito querida dos lsofos, que nos ajuda
neste caso. a distino entre o saber que (knowing what) e o saber
por que (knowing why). Ela nos explicada pelo lsofo da cincia W.
C. Salmon: Uma coisa saber que cada planeta muda periodicamente
a direo do seu movimento em relao s estrelas xas. Outra coisa
saber o porqu de esse fenmeno acontecer. O primeiro um conheci-
mento de carter descritivo. O segundo tem um carter explicativo
135
.
Existe, porm, um terceiro saber que o do motorista do automvel: o
saber como (knowing how). um saber do tipo operacional que, em
ltima anlise, no nem descritivo nem explicativo.
Por outro lado, o nosso saber individual, o saber que, nunca
apenas descritivo. Embora seja um saber que no vai alm da descri-
o, permite que o nosso comportamento operacional no uso cotidiano
das coisas, possa ocorrer sem as angstias tpicas do saber por que.
Este ltimo tem uma nalidade primordialmente relacionada ao conhe-
cimento, mas no raramente inuencia de modo considervel os objetos
tcnicos e sua forma de utilizao.
A diferena entre os saberes cresceu de forma alarmante no lti-
mo sculo. Procurou-se reduzi-la atravs de aes de divulgao cient-
ca
136
. O objetivo era o de favorecer o nascimento de uma conscincia
cientca de massa, na linguagem dos anos 1970. Alguns resultados
foram alcanados, mas no foram sucientes para mudar substancial-
mente a natureza do problema. A verdade que a inexorvel expanso
do saber social determina, em modo cada vez mais evidente, a progres-
siva reduo do saber individual.
Sobre a opulncia informativa
Na proposta da Global Information Infrastructure, como foi
concebida pelo vice-presidente dos eua, Al Gore (1994), est implcito
um cenrio no qual todos teriam direito de acessar um livre uxo de
informaes
137
. Admitindo que isso seja verdade, estaramos diante da
possibilidade, desde a revoluo industrial, de poder aproximar o saber
individual do saber social. Ou seja, se fosse oferecida a cada indivduo
a possibilidade de apropriar-se de qualquer informao pela rede, in-
cluindo aquelas mais especcas, ca evidente que o desequilbrio entre
os dois saberes poderia, pelo menos em teoria, ser redimensionado.
135
W. C. Salmon (1990, traduo italiana, p. 13).
136
A ideia de divulgao cientca foi criticada com propriedade por G. Toraldo di
Francia (1979, p. 331). Ele considera mais correto falar de difuso cientca.
137
Ver H. I. Schiller (1995). Schiller analisa criticamente a Global Information Infrastruc-
ture de Al Gore e, em particular, o famigerado livre uxo de informaes que, segundo ele,
seria nada mais que um uxo unidirecional destinado a fazer circular e a armar a inuncia
do produto cultural dos eua em nvel mundial (p. 19).
84 Cultura, Sociedade e Tcnica
A despeito do que armamos anteriormente, sobre a existncia
de uma diferena fundamental entre a possibilidade e a probabilida-
de de gozarmos da nossa liberdade, parece evidente que o cenrio que
nos colocado, baseia-se em presupostos no intuitivos. Antes de mais
nada, se aceitarmos a denio do saber social como a esfera do saber
por que, no razovel imaginar que todos as pessoas se perguntem
innitamente sobre o porqu de todas as coisas. Isso pressupe uma
capacidade innita para recebermos e absorvermos conhecimentos. Evi-
dentemente isso um falso pressuposto.
Os pesquisadores dos fenmenos da percepo demonstraram em-
piricamente que a nossa ateno e a nossa curiosidade so extremamen-
te seletivas
138
. Ateno e curiosidade se acentuam ou se enfraquecem em
funo da novidade, da intensidade e da frequncia do estmulo. Nesse
contexto, insere-se o tema da redundncia. A redundncia, alm de um
determinado limite crtico, leva monotonia perceptiva, manifestando
apatia, rejeio e at desgosto, no caso de mensagens muito repetitivas.
O mesmo acontece quando as mensagens so parecidas e pouco dife-
renciadas. Nesse tipo de situao, utilizando a terminologia da gestalt,
as mensagens no mais so percebidas como guras contrapostas a um
fundo. Tudo se confunde com o fundo
139
.
Esse fenmeno, como podemos facilmente intuir, ocorre tambm
e principalmente no mundo apresentado pela informao via rede.
Raramente, porm, algum toca no assunto. Preferem car calados so-
bre tudo o que possa atrapalhar uma certa imagem daquele mundo. A
imagem de um mundo alegre, transbordante de mensagens, onde ser-
amos insaciveis consumidores. Negligencia-se um aspecto que, sendo
consumidores, nos toca diretamente. Rero-me nossa presumvel in-
saciabilidade relativa s mensagens de que deveremos usufruir.
Goste-se ou no, existe uma coisa que devemos considerar com
certeza: ns humanos, pelos motivos h pouco citados, temos dicul-
dade de suportar o choque da superabundncia de informaes. Somos
muito distrados e volveis e, acima de tudo, intolerantes com as mensa-
gens que no nos parecem relacionadas aos nossos interesses, impulsos
e esperanas cotidianos. Cientes dessa nossa fraqueza congnita (que
tambm representa a nossa fora), dispomos de uma prtese intelectual:
o computador. O computador sempre foi destinado a despersonalizar
as funes de receber, tratar e de armazenar informaes. Dessa forma,
essas funes poderiam ser realizadas sem os condicionamentos subjeti-
vos, sem as perturbaes tpicas da nossa inquietitude perceptiva.
O acesso informao via rede vem, em certa medida, remexer o
problema, pois abre a possibilidade de re-personalizar aquelas funes.
De repente, encontramo-nos novamente no ponto de partida. Agora so-
mos capazes, pelo menos em teoria, de alcanar todas as fontes de infor-
138
Cf. D. E. Berlyne (1960) e L. E. Krueger (1973).
139
Para uma anlise detalhada deste fenmeno, com referncia a G. Simmel e W. Benja-
min, gostaria de reportar ao meu ensaio Il futuro della modernit (1987, p.106).
1. O ciberespao um espao democrtico? 85
mao de que necessitamos. E tem mais: podemos ainda ser soterrados
por uma avalanche de informaes, das quais no necessitamos. Isso
sem considerar que frequentemente as informaes de que necessitamos
chegam a ns eivadas de informaes de que no precisamos. Em todos
esses casos reaparece, agora de forma ainda mais dramtica, a nossa
desconana subjetiva em relao informao. Especialmente quando
a informao que nos chega est quantitativa e qualitativamente alm
da nossa capacidade de receb-la, de trat-la e de armazen-la
140
.
Por esse perl, o tema tem ligao direta com a questo da demo-
cracia online. Nos casos em que colocamos a hiptese da democracia
plena atravs de um livre acesso telemtico informao, obrigatrio
reetir sobre a maneira pela qual ela ser acolhida (e experimentada)
pelo cidado. Esquivar dessa questo nos leva, sem escapatria, a uma
ambgua e inacreditvel viso abstrata do cidado. Nessa viso, o ci-
dado ideal seria o cidado totalmente informado, ou seja, o cidado
consciente de todos os problemas relacionados com a vida pblica.
desnecessrio dizer que esse cidado no existe. Nem acredito
que sua existncia seja desejvel. Esse cidado ideal, a bem da verdade,
no o cidado democrtico ideal. Ele se identica muito mais com o
que foi chamado cidado total
141
. Na prtica, um cidado (seria cor-
reto cham-lo ainda de cidado?) no qual a conscincia individual foi
ofuscada e colocada inoperante por um envolvimento total na vida
pblica.
Segundo os apologistas do ciberespao, um livre acesso de todos
os cidados a toda informao favoreceria por si s o surgimento de
novas formas de democracia direta. Em teoria, isso pode parecer bem
convincente. Na prtica, porm, considero muito mais provvel que um
acesso indiscriminado informao possa nos conduzir a uma forma
mais sosticada de controle social e de informao cultural. E no a
uma democracia mais avanada.
No podemos esquecer que hoje em dia est em curso uma mu-
dana radical nas formas de atuao do projeto coercitivo de poder. No
passado e at recentemente, esse projeto utilizava o recurso da indign-
cia informativa. Hoje em dia, ao contrrio, privilegia-se a opulncia
140
Recentemente H. M. Enzensberger (1996) observou, com um otimismo excessivo, que
a ideia de luxo est se modicando radicalmente. As formas tradicionais de luxo, baseadas
principalmente na ostentao da riqueza e do poder, seriam substitudas por novas formas
que, em contraste com as precedentes, exprimiriam valores de interioridade, de moderao
e de simplicidade. Uma dessas formas, segundo Enzensberger, seria a possibilidade de dispor
livremente de uso da prpria ateno (Aufmerksamkeit). uma tese mais que sustentvel.
No mundo em que vivemos, talvez o maior luxo que se possa imaginar, poder decidir o que
merece ou no a nossa ateno. Ou seja, ns mesmos, nas palavras do prprio Enzensberger,
preferimos ver, ouvir e sentir o saber. Permanece, porm, em aberto o problema de como
democratizar esse luxo. Como assegurar a todos, e no s a uns poucos privilegiados, o que
podemos chamar de liberdade de ateno.
141
G. Sartori e R. Dahrendorf (1977).
86 Cultura, Sociedade e Tcnica
informativa
142
. A nova opo estratgica consiste em facilitar o acesso
informao, dentro de certos limites. Diante da grande quantidade
de informaes que o atinge nem todas conveis ou vericveis o
cidado compelido a reagir, cedo ou tarde, com um crescente desinte-
resse e at com impacincia em relao informao. Anal de contas,
nas reentrncias mais escondidas da opulncia informativa encontra-se
a indigncia informativa.
Concluso
Por causa desta ltima opinio, e de muitas outras precedentes,
posso sofrer uma desaprovao estou plenamente consciente disso
por ter uma viso pessimista sobre o papel das novas tecnologias na
sociedade democrtica. Essa desaprovao parcialmente justicada.
A verdade que meu ceticismo (e no pessimismo, que que claro)
relacionado exclusivamente aos nebulosos cenrios que projetam o
advento de uma sociedade na qual, graas contribuio das novas tec-
nologias e somente graas a essa contribuio , seria possvel realizar
o antiqussimo sonho de uma democracia genuinamente participativa.
E mais: planetria. A meu ver, esse no um cenrio factvel. Existem
fundamentadas razes e creio de t-las fornecido que demonstram
essa impossiblidade.
E pergunto-me: por que se continua, contrariando todas as evi-
dncias, a propor este tipo de cenrio? Talvez haja uma explicao. Em
um mundo onde todas as vises ideais do nosso futuro foram excludas,
o capitalismo busca apressadamente ocupar os espaos vazios. E o faz
utilizando, como era previsvel, uma ambiciosa metanarrao. Nela,
anunciada a iminente chegada da repblica eletrnica. Uma repblica
altamente informatizada que se conguraria nos asseguram como a
mais democrtica das repblicas.
As grandes multinacionais da informao e da comunicao, com
o escopo de propagandear esse cenrio, colocaram uma ecientssima
mquina de consenso poltico-cultural e comercial em ao. No , en-
to, de se admirar que um considervel nmero de pessoas, especial-
mente nos pases industrializados, sejam levadas hoje a trocar a realida-
de por uma enganadora miragem ideolgica.
este o objeto de meu ceticismo. porm um ceticismo que no
arranha minimamente a minha convico de que as novas tecnologias
sejam capazes, em alguns casos, de melhorar a qualidade da nossa vida
e de nos abrir profcuos canais de participao democrtica. J hava-
mos sinalizado isso no caso dos servios pblicos, da informao cien-
tca e da didtica. E veremos ainda mais nos prximos captulos.
142
Sobre a ideia de opulncia informativa (ou comunicativa), cf. A. A. Moles (1991).
You might also like
- Homem Interior - E.w.kenyonDocument6 pagesHomem Interior - E.w.kenyonjorge100% (6)
- Gustavo Bomfim Teoria TransdiciplinarDocument15 pagesGustavo Bomfim Teoria TransdiciplinarDouglas Pastori100% (1)
- Historia Do Design Grafico - Philip B. MeggsDocument56 pagesHistoria Do Design Grafico - Philip B. Meggsrogerio100% (1)
- Beat Scheneider - Design Uma Introdução - Cap 1 PDFDocument11 pagesBeat Scheneider - Design Uma Introdução - Cap 1 PDFRogéria Cristina50% (2)
- Mutações, Confluências e Experimentações Na Arte e TecnologiaDocument277 pagesMutações, Confluências e Experimentações Na Arte e TecnologiaIgor100% (2)
- Termos Arte PDFDocument2 pagesTermos Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- Ligia Medeiros - DesenhisticaDocument24 pagesLigia Medeiros - DesenhisticaparoalonsoNo ratings yet
- Escola de Ulm (História Do Design)Document2 pagesEscola de Ulm (História Do Design)leandrorighettoNo ratings yet
- Design Cultura e Design Dialogico Ezio ManziniDocument10 pagesDesign Cultura e Design Dialogico Ezio ManzinirafaelaNo ratings yet
- Dificuldades Mais Frequentes Na Lingua PortuguesaDocument6 pagesDificuldades Mais Frequentes Na Lingua PortuguesaMaria Anunciada Nery RodriguesNo ratings yet
- Forma segue significado: o design conceitual de Stuart WalkerFrom EverandForma segue significado: o design conceitual de Stuart WalkerNo ratings yet
- Design E-É Arte (Mônica Moura)Document13 pagesDesign E-É Arte (Mônica Moura)api-3780464100% (1)
- MALDONADO, Tomas - Glossario de SemioticaDocument8 pagesMALDONADO, Tomas - Glossario de SemioticaOmega ZeroNo ratings yet
- Design Pos Moderno WolnnerDocument7 pagesDesign Pos Moderno WolnnergksoaresNo ratings yet
- Projeto e DestinoDocument48 pagesProjeto e DestinoSamuel Otaviano67% (3)
- O Desenho Vilanova ArtigasDocument10 pagesO Desenho Vilanova ArtigasFrancieli Aksenen Dembeski100% (1)
- Dez Deusas HindusDocument3 pagesDez Deusas HindusSandra PechorroNo ratings yet
- WISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoDocument22 pagesWISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoMario Victor MargottoNo ratings yet
- Cultura Sociedade Arte e Educacao em Um Mundo Pos Moderno PDFDocument20 pagesCultura Sociedade Arte e Educacao em Um Mundo Pos Moderno PDFdiogo.chagas02No ratings yet
- Walter Gropius e A BauhausDocument18 pagesWalter Gropius e A BauhausJosué Bezerra de Lima100% (1)
- 50 Anos Da BienalDocument10 pages50 Anos Da Bienalbrunicio82No ratings yet
- Curadoria de Exposições, Uma Abordagem Museológica - Carolina Ruoso 2019 Ebook REDE MUSEOLOGIADocument28 pagesCuradoria de Exposições, Uma Abordagem Museológica - Carolina Ruoso 2019 Ebook REDE MUSEOLOGIAAnderson Pinheiro SantosNo ratings yet
- Funcionalismo - Referência Histórica para o Design SocialDocument9 pagesFuncionalismo - Referência Histórica para o Design SocialjessicarrsNo ratings yet
- Manifesto BauhausDocument1 pageManifesto BauhausMarco MoreiraNo ratings yet
- As Possibilidades Do Design - BOMFIM, G.A.Document19 pagesAs Possibilidades Do Design - BOMFIM, G.A.Marina Arakaki0% (1)
- Atividades de design como capital cultural: novas tendências nos países latino-americanosFrom EverandAtividades de design como capital cultural: novas tendências nos países latino-americanosNo ratings yet
- A Colagem Surrealista PDFDocument11 pagesA Colagem Surrealista PDFMarina Sales de Carvalho RochaNo ratings yet
- AULA I - Met. BONSIEPEDocument32 pagesAULA I - Met. BONSIEPEpatiderib100% (1)
- Afinal o Que É ArtesanatoDocument32 pagesAfinal o Que É ArtesanatoJuliana Porto MachadoNo ratings yet
- Montaner - A Modernidade SuperadaDocument20 pagesMontaner - A Modernidade SuperadaAdriana SilvaNo ratings yet
- É Preciso Ouvir o Homem [Nu]: Um Estudo sobre a Poética de Flávio de CarvalhoFrom EverandÉ Preciso Ouvir o Homem [Nu]: Um Estudo sobre a Poética de Flávio de CarvalhoNo ratings yet
- DERDIK, Edith Livro de ArtistaDocument10 pagesDERDIK, Edith Livro de ArtistaAndré RochaNo ratings yet
- BauhausDocument21 pagesBauhausMarcella de Vasconcelos100% (1)
- KENSKI - Educação e Comunicação - Interconexões e ConvergênciasDocument19 pagesKENSKI - Educação e Comunicação - Interconexões e ConvergênciasAndréia DulianelNo ratings yet
- T19 Design John HeskettDocument47 pagesT19 Design John HeskettIsabella Gonçalves100% (1)
- LIVRO de ARTISTA Bernadette - PanekDocument11 pagesLIVRO de ARTISTA Bernadette - PanekRoberta CangussuNo ratings yet
- O Que É Um Livro?Document6 pagesO Que É Um Livro?Clara Állyegra Lyra Petter100% (1)
- Bauhaus - ResumoDocument6 pagesBauhaus - ResumoJunior MansoryNo ratings yet
- Lina Bo Bardi Do Pre-Artesanato Ao DesignDocument24 pagesLina Bo Bardi Do Pre-Artesanato Ao DesignM'Boitatá Arte & AntiguidadeNo ratings yet
- Poética Da ImagemDocument6 pagesPoética Da ImagemSueli OliveiraNo ratings yet
- Artesanato - Questões Da ComercializaçãoDocument114 pagesArtesanato - Questões Da ComercializaçãoPedro Góis100% (1)
- Lais Myrrha 2007 Mestrado EbaDocument142 pagesLais Myrrha 2007 Mestrado EbaFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Sandra Rey - Da Pratica A TeoriaDocument15 pagesSandra Rey - Da Pratica A TeoriaVachevert100% (1)
- Anatomia Do DesignDocument61 pagesAnatomia Do DesignBruno FernandesNo ratings yet
- Ferreira Gullar - Manifesto NeoconcretoDocument3 pagesFerreira Gullar - Manifesto NeoconcretoSonia Vaz0% (1)
- O Que É EstéticaDocument22 pagesO Que É EstéticaAna Fernanda Brandão PereiraNo ratings yet
- Arte e Percepção Visual (Arnheim)Document16 pagesArte e Percepção Visual (Arnheim)asd543210No ratings yet
- O Poder Do Design PDFDocument140 pagesO Poder Do Design PDFFelipeBarbosa100% (1)
- Bonsiepe - As Sete Colunas Do DesignDocument4 pagesBonsiepe - As Sete Colunas Do DesignthigotaNo ratings yet
- Tese Juliana Faust - CompletoDocument300 pagesTese Juliana Faust - CompletoJoão Vianna100% (1)
- Definição de Arte ContemporâneaDocument88 pagesDefinição de Arte ContemporâneaCristiane SouzaNo ratings yet
- Uma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralDocument328 pagesUma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralCibercultural100% (1)
- Celeida Tostes, o Barro Na Arte Contemporânea BrasileiraDocument6 pagesCeleida Tostes, o Barro Na Arte Contemporânea BrasileiraElaine SantosNo ratings yet
- TESE - Rosana Paulino PDFDocument99 pagesTESE - Rosana Paulino PDFElisa DassolerNo ratings yet
- O Pós-Modernismo Na CidadeDocument39 pagesO Pós-Modernismo Na CidadeRaquel Weiss100% (1)
- Cerâmica KadiwéuDocument126 pagesCerâmica KadiwéuMARLOPESNo ratings yet
- ESPAÇO FLUIDO - Débora Santiago PDFDocument67 pagesESPAÇO FLUIDO - Débora Santiago PDFElaine StankiewichNo ratings yet
- O OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Document4 pagesO OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Resigno Lucas Fortuna NetoNo ratings yet
- Atividade de WordDocument4 pagesAtividade de WordPRESS PL4YNo ratings yet
- Infância Como Rememoração PDFDocument12 pagesInfância Como Rememoração PDFAne Briscke100% (1)
- Questões Concurso RHDocument18 pagesQuestões Concurso RHFlavinhaNo ratings yet
- As Sete Leis Do AprendizadoDocument42 pagesAs Sete Leis Do AprendizadoMarcos Di Giácomo Mariano67% (3)
- Miolo - Irene MandalasDocument24 pagesMiolo - Irene MandalasMonika De Oliveira Cabral100% (1)
- Enteógenos BíblicosDocument23 pagesEnteógenos Bíblicosrcunha35No ratings yet
- A Pesquisa em Neuropsicologia DesenvolviDocument17 pagesA Pesquisa em Neuropsicologia DesenvolviPaula Tavares AmorimNo ratings yet
- Os Pilares Da FéDocument12 pagesOs Pilares Da FéHelci RamosNo ratings yet
- Tese Lenita BentesDocument207 pagesTese Lenita BentesShirleyNo ratings yet
- A Teoria Cognitiva Social Da AprendizagemDocument7 pagesA Teoria Cognitiva Social Da AprendizagemMaria Paula Carvalhaes GianniniNo ratings yet
- Motta 1999 PDFDocument31 pagesMotta 1999 PDFbgokNo ratings yet
- Trabalho - Argumento Da Ilusão Dos SentidosDocument9 pagesTrabalho - Argumento Da Ilusão Dos SentidosJoana MoreiraNo ratings yet
- Livro - A Educadora Emile CollignonDocument216 pagesLivro - A Educadora Emile CollignonJúlio Rodrigues JúniorNo ratings yet
- Tese Universitária Sobre o Livre-ArbítrioDocument113 pagesTese Universitária Sobre o Livre-Arbítrioal29491No ratings yet
- Ling. Verbal 6º AnoDocument1 pageLing. Verbal 6º AnoalineraquelfNo ratings yet
- NBC-T 12Document6 pagesNBC-T 12klaukiNo ratings yet
- Desenvolvimento Da Motricidade E As "Culturas de Infância" Carlos NetoDocument12 pagesDesenvolvimento Da Motricidade E As "Culturas de Infância" Carlos NetoBar Patrimonio PatrimonioNo ratings yet
- A Nova Campanha Da LegalidadeDocument52 pagesA Nova Campanha Da LegalidadeBNENo ratings yet
- Mdiação Empresarial No BrasilDocument12 pagesMdiação Empresarial No BrasilElton ChavesNo ratings yet
- Anexo VI Lista Competências Assistente TécnicoDocument6 pagesAnexo VI Lista Competências Assistente TécnicoPedro Nuno SantosNo ratings yet
- Atuação Do Enfermeiro Na Saúde Do TrabalhadorDocument17 pagesAtuação Do Enfermeiro Na Saúde Do TrabalhadorJosé Evangelista DamascenoNo ratings yet
- Os 10 Melhores Poemas de Manuel BandeiraDocument5 pagesOs 10 Melhores Poemas de Manuel BandeiraThayane MaytcheleNo ratings yet
- ListadeExercicios Unidade9Document130 pagesListadeExercicios Unidade9Marilza SousaNo ratings yet
- Textos Est Superv IIDocument8 pagesTextos Est Superv IIFelipe AccioliNo ratings yet
- Fichamento. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. AuditoriaDocument2 pagesFichamento. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. AuditoriaBrucelee2013100% (1)
- Tiago 5.7-11 - A NecessidadeDocument3 pagesTiago 5.7-11 - A NecessidadeELI ROCHA SILVANo ratings yet
- RAVLTDocument2 pagesRAVLTPriscila Klein100% (1)

















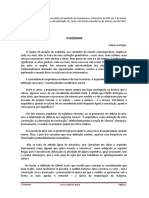















![É Preciso Ouvir o Homem [Nu]: Um Estudo sobre a Poética de Flávio de Carvalho](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/650017934/149x198/875343ca13/1685666045?v=1)























































