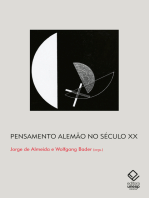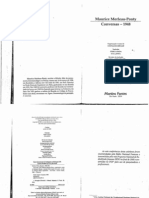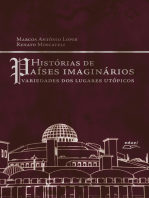Professional Documents
Culture Documents
Karl Popper - A Logica Das Ciencias Sociais
Uploaded by
Robert CooperCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Karl Popper - A Logica Das Ciencias Sociais
Uploaded by
Robert CooperCopyright:
Available Formats
LOGICR DflS CINCIAS SOCIRIS.
R
006008 748634
E D I E S T E M P O B R A S I L E I R O
o C L U D I O S O U T O / Introduo no Direito como cincia
social
o J O S G U I L H E R M E M E R Q U I O R / A Esttica de
Lvi-Strauss
M A R T I N H E I D E G G E R / Introduo Metafsica
R O B E R T O C A R D O S O DE O L I V E I R A / Sociologia d o
Brasil indgena
o A P O L M I C A A L E N C A R - N A B U C O ( Or g a n i z a o e
a pr e se nt a o de AF R A N I O C o u t i N H o )
M A R C O S V I N I C I O S V I L A A e R O B E R T O C A V A L -
C A N T I D E A L B U Q U E R Q U E / ^Coronel, coronis
G E N T I L M A R T I N S D I A S / Depois do latindio, con-
tinuidade e mudana na sociedade rural nordestina
K A R L P OP P ER / Lica das Cincias Sociais.
CIP-Brasil. Catalogao-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
Popper, Karl Raymund, 1902-
P8661 Lgica das cincias sociais / Karl Popper; Traduo
de Estevo de Rezende Martins, Api o Cl udi o Muni z
Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Si l va. - Ri o
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, 3
a
edio.
(Biblioteca Tempo Universitrio n 50)
Bibliografia
1. Filosofia austraca. 2. Popper, Karl Raymund, 1902-
- Filosofia. I. Ttulo. II. Srie.
78-0337 C D D - 193
C D U - 1 Popper
K A R L P OP P E R
LGICA
DAS CINCIAS
SOCIAIS
JSS
S
7
3
tempo brasileiro
Rio de Janeiro - RJ
C E *
t f ' 1
MS
Vi; ^/,
r,
wr
es
I
BI BLI OTECA TEMP O UNIVERSITRIO 50
Coleo di ri gi da por EDUARDO PORTELLA,
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capa de ANTNIO DI AS e PEDRO PAULO MACHADO
Os textos que aqui se renem
foram obtidos e organizados
junto ao Dr. KARL R. POPPER,
pelo Professor VAMIREH CHACON
Tr adues de ESTEVO DE REZENDE MARTI NS
API O CLUDIO MUNI Z ACQUARONE FI LHO
VI LMA DE OLI VEI RA MORAES E SI LVA
Direitos reservados s
EDIES TEMP O BRASI LEI RO LTDA.
Rua Gago Coutinho, 61 (Laranjeiras)
Cai xa Postal 16.099 ZC. 01 Tel . : 205-5949
RI O DE J ANEI RO RJ BRAS I L
S U M R I O
Di l ogo com P OP P ER / V A MI R E H C H A C O N 9
A l gi ca das Ci nci as Sociais 13
Ra z o ou Revol uo? ' 35
A raci onal i dade das revol ues ci ent f i cas 50
O que entendo por Fi l osofi a 85
..xvJa?Ps
i
i
TI
DILOGO COM POPPER
V a m i r e h C h a c o n
Wz/combe e m a r c ^o refgio residencial vizinho
de Londres, nos ltimos tempos tambm invadido por inds-
trias. Mas Penn, nos setts arredores, abriga desde 1950 Karl
Popper,. o filosofo mais feliz" que ele mesmo conheceu, nas
suas prprias palavras...
_ O verde, tradicional das campinas inglesas, que ainda re-
siste entre a cidade e a capital, triunfa em Fallowfield o
nome dado por Popper ao seu "cottage", na grama e nas'ai-
tas arvores que o cercara. A casa, baixa c 'longa, no estilo
da regio, tem mobilirio singelo apenas salpicando o esva-
o. Hoje, seu dono no mais um "Herr Professor" vienen-
Z ^ T r r
0
^
U S r K r l P
P p e r
' noWitado pela Rainha Eli-
rttinhr
S e U
?
ai rece
*era o ento tambm distinto
titulo de Cavalheiro (Rttter) da Ordem de Francisco Jos
eradTca?^ '
s e T U
l t b e r d
>
j u e u
'
m a
^
P n^
8
!
6 8
J '
0
'
1
' ^
0 8
x
P
l i c a m m u i
*o da personalidade de
Popper e da sua gerao. Dela ele d conta na sua biografia
intelectual, Unended Quest, em cores vidas. Era a Viena
sem duvida musical, porm j de msica de vanguarda sob
o impacto de Schoenberg. Esta arte, to alem no podia
deiXar demarcar profundamente Popper. Da suas incurses
do presente ao passado, em longas consideraes atnTeZ-
ven, Mozart e Bach, nos anais mergulhou e impregnou se
Era a Viena ainda de Freud, dos economistas do clculo
marginal (Menger, Boehm-Bawerk, que deram origenlaoZ
turo Prmio Nobel Friedrich Hayk), e dos pensadZes fol
9
mando o Crculo que imortaliza igualmente o seu nome. Alm
dos pintores, escritores e escultores de um glorioso fim de
poca.
Karl Popper nasceu e formou-se neste ambiente privile-
giado. Na fixao brasileira por Paris pouco se sabe, entre
ns, deste mundo criativo apesar da decadncia, dela emer-
gindo para fecundar culturas distantes, para onde emigraria,
impelida pelo golpe final do Nazismo.
Existe quem, desavisaamente, confunda Popper com o
chamado Neo-Positivismo e o Crculo de Viena, embaralhan-
do tudo. Conviria ler a autobiografia intelectual de Karl
Popper e assim talvez sair um pouco do vicioso crculo men-
tal franco-americano, vislumbrando algo da tambm rica cul-
tura alem, inclusive na sua expresso austraca, que no se
confunde com a da Alemanha nem do 'Kaiser nem de
Weimar. Espantosa fora, esta multiforme, do mundo de idio-
ma alemo. ..
O tal Crculo de Viena nunca passou, em ltima instn-
cia, do seminrio particular de Moritz Schlick, que se reunia
s quintas-feiras noite. A ele Popper jamais compareceu,
nem foi convidado. Fritz Waismann cognominou o grupo,
dispare e disperso. Witigenstein, por exemplo, nele entrava
e saa como tantos outros.
A mania, to germnica, pelo por menor, atingindo as
raias do escolstico pedantismo professoral, acabou matando
o Crculo, segundo o testemunho geracional, embora no
participante, de Popper. Nada disto lhe impediu de ficar,
para sempre, devendo muito a certos membros do Crculo.
Entre eles principalmente a Alfred Tarski e ao seu mtodo
lgico.
Porm Karl Popper no se transformaria nem num logi-
cista, nem num positivista, apesar de gratuitos apodos rece-
bidos polemicamente. Suas razes so outras.
A ustria sempre fora anti-hegeliana.
Apesar de nascido no sul da Alemanha, Hegel consagrou-
se na Prssia, onde se converteu em idelogo oficial do Es-
tado hohenzollern. Embora tambm autoritrios, os Habs-
burgos no tinham nem a mesma eficincia, nem idnticas
pretenses. Por a se infiltrou a influncia britnica, em Vie-
10
na mais que em Berlim, ento no auge da competio mpe-
rialista com Londres. Francisco Jos permaneceu sempre um
relutante aliado de Guilherme II.
Theoor Gomperz traduzira as obras completas de John
Stuart MUI, em 1869, com especial sucesso na ustria. O pr-
prio pai de Popper tornou-se grande admirador de Stuart
Mill. Um dos poucos alemes prussianos, ou prussianizados
mais cultural que politicamente, a despertar entusiasmo em
Viena, foi Max Weber, professor da sua Universidade duran-
te algum tempo.
Inclinando-se para a Gr-Bretanha e repelindo Berlim,
os vienenses tendiam naturalmente para o Empirismo e o
Liberalismo, alis limito aparentados. Entre si os austracos
se dividiriam, de um lado aqueles preocupados em especial
com a Lgica (Carnap, Reichenbach, Feigl, influenciando os
poloneses Tarski, Lukasieivicz e Kotarbinski), de outro os in-
satisfeitos com as regras matemticas do pensar e pro-
curando sadas antolgicas quase metafsicas segundo Luwig
Witigenstein ou inglesmente de "common sense" maneira
de Popper. Da a confusa adaptao de Wittgenstein em
Cambrklgc, contrastando com a profunda marca de. Karl
Popper na "London School of Economics" durante dcadas,
mais do que qualquer outro professor na poca. Dali sairia,
por exemplo, Ralf Dahrenorf, refazendo a ligao de Popper
com a Alemanha. Em seguida a influncia de Popper sobre
Hans Albert, tambm na Alemanha, na linha do Criticismo.
Pois Popper , em ltima instncia, uma desafiadora
tentativa de sntese entre Scrates, Kant e Stuar Mill, as
confessas matrizes principais do seu pensamento. Se, de um
lado, aparenta-se com o ramo neokantiano de Marburgo
(Cohen, Natorp, Cassirer), preocupado com o rigor .lgico
formal, primos irmos dos vienenses tambm kantistas neste
sentido, Popper adquiriu, na sua cidade natal, uma aproxima-
o maior com as Cincias Exatas, graas s influncias dos
fsicos Ernst Mach e Ludwig Bolzmann. Mas o tempero bri-
tnico chegaria em tempo. O salutar. ceticismo emprico de
Stuart Mill, insatisfeito com os resultados da polmica na
qual segundo alguns Kant teria vencido Hume, aquela posi-
o acabaria pesando nas opes filiais de Karl Popper. Sem
os traiimas doutros emigrados, Popper no fugiu para um
11
exi o dourado nos Estados Unidos, nem se marginalizou na
Gr-Bretanha. Terminou instalado como Sir ou Lor Karl
Popper, tomando seu ch e pontificando, durante geraes,
na "Lonon School of Economics"...
neste contexto que temos de entendei] seu Anti-Histo-
ricismo, apresentado n'A sociedade aberta e seus inimigos,
bem como na Lgi ca da pesquisa ci entfi ca, um traduzido
para o portugus no Brasil h certo tempo e outro aparecido
h pouco. Agora Tempo Brasileiro apresenta esta coletnea
de ensaios, entregues pessoalmente ao autor destas linhas,
aps discusso inesquecvel quando nem sempre concorda-
mos, porm da qual guardarei para sempre a lembrana de
flexvel exatido, calor humano e generosidade intelectual,
naquela tarde de outono entre as longas e largas rvores de
Fallowfield em 1976.
* wr
1
VT" ti
s m
JSJliUL
A LGICA DAS CINCIAS SOCIAIS
1
Proponho comear meu trabalho sobre a l gi ca das cin-
cias sociais com duas teses que f or mul am a oposio entre
nosso conhecimento e nossa i gnor nci a .
Primeira tese: Conhecemos mui to. E conhecemos no
s muitos detalhes de interesse i ntel ectual duvidoso, por m,
coisas que so de uma si gni f i cao pr t i ca considervel e,
o que mais importante, que nos oferecem um profundo
discernimento terico, e uma compr eenso surpreendente do
mundo.
Segunda tese: Nossa i gnor nci a sbri a e ilimitada.
De fato, ela , precisamente, o progresso titubeante das cin-
cias naturais (ao qual alude mi nha pr i mei r a tese), que cons-
tantemente, abre nossos olhos mai s uma vez nossa igno-
r nci a, mesmo no campo das pr pr i a s ci nci as naturais. Isto
d ' u ma nova virada na i di a socr ti ca de i gnor nci a. A cada
passo adiante, a cada problema que resolvemos, no s des-
cobrimos problemas novos e n o solucionados, porm, tam-
bm, descobrimos que aonde a cr e di tva mos pisar em solo fir-
me e seguro, todas as coisas so, na verdade, inseguras e. em
estado de al terao cont nua .
Mi nhas duas teses concernentes ao conhecimento e
Ignornci a, s aparentemente contradizem uma outra.
A contradi o aparente , pri mei ramente, devida ao fato de
que as palavras "conhecimento" e "i gnor nci a " no so usa-
das nestas duas teses como perfeitos contr r i os. Todavia, am-
1. Isto foi a contribuio de abertura ao simpsio de TUBI N GEN , seguida
da rplica do Professor Adorno. A traduo foi revista e aumentada
pelo autor para a presente publicao.
13
bas as i di as so importantes, e t a mbm assim o so ambas
as teses; tanto que proponho faz-las expl ci tas nas tr s teses
seguintes.
Terceira tese: uma tarefa de fundamental i mpo r t n -
ci a par a qualquer teoria do conhecimento, e, talvez, a t um
requisito cr uci al , fazer justi a s nossas pri mei ras duas te-
ses, esclarecendo as relaes entre nosso a dmi r ve l e cons-
tantemente aumentado conhecimento e nosso f r e qe n t e me n t e
acrescido discernimento de que realmente nada conhecemos.
Se se refletir um pouco sobre isso, torna-se quase bvio
que a l gi ca do conhecimento tem que di scuti r esta te ns o
entre conhecimento e i gnor nci a. Uma conse qnci a i mpor-
tante deste- discernimento est formulada em mi n ha quarta
tese. Por m, antes de apresentar esta quarta tese, eu gostaria
de me desculpar pelas minhas teses numeradas que ai nda
esto por vi r. Mi n ha desculpa que me foi sugerido pelos
organizadores desta conferncia que eu montasse este tra-
balho sob a forma de teses numeradas (para tor nar mai s
fcil ao segundo confereneista apresentar suas contra-teses
cr ti cas mais acuradamente). Achei mui to ti l esta suges-
to, a despeito do fato de que este estilo pode cr i ar a i m-
pr esso de dogmatismo. Mi nha quarta tese, e nt o, a se-
guinte.
Quarta tese: Se possvel dizer que a ci nci a, ou o co-
nhecimento, "come a " por algo, poder-se-ia dizer o seguinte:
o conhecimento n o comea de percepes ou obser vaes ou
de coleo de fatos ou nmer os, por m, comea, mai s pro-
priamente, de problemas. Poder-se-ia dizer: n o h nenhum
conhecimento sem problemas; mas, t a mbm, n o h ne-
nhum problema sem conhecimento. Mas isto si gni fi ca que o
conhecimento comea da tenso entre conhecimento e i gno-
r nci a. Portanto, poder amos dizer que, n o h nenhum pro-
blema sem conhecimento; mas, t a mbm, n o h nenhum
problema sem i gnor nci a. Pois cada problema surge da des-
coberta de que algo no est em ordem com nosso suposto
conhecimento; ou, examinado logicamente, da descoberta de
uma contr adi o i nterna entre nosso suposto conheci mento
e os fatos; ou, declarado talvez mais corretamente, da des-
14
coberta de uma contr adi o aparente entre nosso suposto
conhecimento e os supostos fatos.
Enquanto mi nhas primeiras tr s teses, talvez por causa
de seu car ter abstrato, cr i am a i mpr esso de que esto algo
deslocadas do nosso tpi co isto , a lgica das ci nci as
sociais eu' gostaria de dizer que com mi nha quarta tese
atingimos o cerne de nosso tpi co. Isto pode ser formulado
em mi nha qui nta tese, como se segue.
Quinta tese: Como em todas as outras cincias, esta-
mos, nas ci nci as sociais, sendo bem ou mal sucedidos, i n-
teressantes ou ma a nt e s, f r utf er os ou infrutferos, na exata
proporo si gni fi cnci a ou interesse dos problemas a que
estamos ligados; e t a mbm, claro, na exata proporo
honestidade, ' reti do e simplicidade com que atacamos estes
problemas. Em tudo isto n o estamos, de modo algum, con-
finados a problemas teri cos. Srios problemas prti cos, como
os problemas de pobreza, de analfabetismo, de supresso po-
l ti ca ou de incerteza concernente a direitos legais so i m-
portantes pontos de parti da para pesquisa nas cincias so-
ciais. Contudo, estes problemas pr ti cos conduzem, espe-
cul ao, teor i zao, e, portanto, a problemas tericos. m
todos os casos, sem exceo, o ca r te r e a qualidade do
problema e ta mbm, claro, a audci a e a originalidade da
soluo sugerida, que determi nam o valor ou a ausnci a do
valor de uma empresa ci entf i ca.
Ento, o ponto de parti da sempre um problema e a ob-
servao torna-se algo como um ponto de partida somente
se revelar um problema; ou em outras palavras, se nos sur-
preende, se nos mostra que algo no est, propriamente, em
ordem com nosso conhecimento, com nossas expectativas,
com nossas teorias. Uma obser vao cria um problema so-
mente se ela se conflita com certas expectativas nossas, cons-
cientes ou inconscientes. Mas, o que, neste caso, constitui o
ponto de partida de nosso trabalho cientfico no tanto a
pura e simples obser vao, por m, mais adequadamente, uma
observao que desempenha um papel particular, isto , uma
observao que cr i a um problema.
Al cancei agora o ponto onde posso formular a mi nha
pri nci pal tese, a de n me r o seis. El a consiste do seguinte:
15
Sexta tese:
a) O mtodo das cincias sociais, como aquele das cin-
cias naturais, consiste em experimentar possvei s solues
par a certos problemas; os problemas com os quais iniciam-se
nossas i nvesti gaes e aqueles que surgem durante a inves-
ti gao. ,
As sol ues so propostas e criticadas. Se uma sol uo
proposta n o est aberta a uma cr ti ca pertinente, ento
excl u da como no cientfica, embora, talvez, apenas tempo-
rariamente.
b) Se a sol uo tentada est aberta a cr ti cas perti-
nentes, ento tentamos refut-la; pois toda cr ti ca consiste
em tentativas de refutaao.
c) Se uma soluo tentada refutada a tr a vs do nosso
cri ti ci smo, fazemos outra tentativa.
d) Se ela resiste crtica, aceitamo-la temporariamen-
te; e a aceitamos, acima de tudo, como di gna de ser di scuti da
e cri ti cada mais alm.
e) Portanto, o mtodo da ci nci a consiste em tentativas
experimentais para resolver nossos problemas por conjecturas
que so controladas por severa crti ca. um desenvolvimento
crti co consciente do mtodo de "ensaio e erro".
f) A assim chamada objetividade da ci nci a repousa
na objetividade do mtodo crtico. Isto si gni fi ca, aci ma de
tudo, que nenhuma teoria est isenta do ataque da cr ti ca; e,
mais ainda, que o instrumento pri nci pal da cr ti ca l gi ca -
a contr adi o lgica objetivo.
A idia bsi ca que se encontra por t r s de mi nha tese
central pode ta mbm ser colocada da seguinte forma.
Stima tese: A tenso entre conhecimento e i gnor n-
ci a conduz a problemas e a solues experimentais. Contudo,
a te ns o n o nunca superada, pois revela que nosso conhe-
cimento sempre consiste, meramente, de sugestes para so-
l ues experimentais.
Assi m, a pr pr i a idia de conhecimento envolve, em pr i n-
cpio, a possibilidade de que revelar-se- ter sido um erro e,
portanto, um caso de i gnornci a. E a ni ca forma de "jus-
ti f i car " nosso conhecimento , ela pr pr i a, meramente pro-
vi sri a, porque consiste em crtica ou, mais precisamente, no
16
apelo ao fato de que a t aqui nossas solues tentadas pare-
cem contrari ar a t nossas mai s severas tentativas de cr ti ca.
No h nenhuma justi f i cati va positiva; nenhuma justi -
ficativa que ultrapasse isto. Em parti cul ar, nossas sol ues
experimentais n o podem ser apresentadas como pr ovvei s
(em nenhum sentido que sati sf aa as leis do cl cul o de pro-
babilidades) .
Talvez poder-se-ia descrever essa posi o como "a abor-
dagem cr t i ca " ( "cr ti ca" alude ao fato de que existe aqui
uma r el ao com a filosofia de K a n t ) .
Par a ensejar uma mel hor i di a de mi nha tese pr i nci pal
e sua i mpo r t n ci a par a a sociologia; pode ser ti l conf r ont-
la com outras determinadas teses que pertencem a uma me-
todologia largamente uti l i zada que, f r eqentemente, tem sido
aceita e absorvida de forma praticamente inconsciente e
acr ti ca.
Existe, por exemplo, a equivocada e er r nea abordagem
metodol gi ca do natur al i smo ou cientificismo, que frisa que
est na hor a das ci nci as sociais aprenderem das ci nci as
naturais o que mtodo ci entf i co.
Este natural i smo equivocado estabelece exi gnci as tais
como i ni ci ar com obser vaes o medidas; isto si gni fi ca, por
exemplo, comear por coletar dados estat sti cos; prossegue,
logo aps, pel a i ndu o a gener al i zaes e f or mao de
teorias.
Declara-se que, a t r a vs deste caminho, voc se aproxi ma-
r do ideal da objetividade ci entfi ca, na medida em qu isto
possvel nas ci nci as sociais.
Procedendo deste modo, voc deve estar consciente do
fato de que a objetividade nas ci nci as sociais mui to mais
difcil de a l ca n a r (se puder totalmente ser atingida) ,do
que nas ci nci as naturai s, pois uma ci nci a objetiva deve ser
"isenta de valores", isto , independente de qualquer ju zo
de valor. Mas, apenas nos casos mais raros pode o cientista
social libertar-se do sistema de valores de sua pr pr i a classe
social e assi m ati ngi r um grau mesmo l i mi tado de "i seno
de valores" e "objetividade".
Qualquer u ma destas teses que se atri bui a este natur a-
l i smo equivocado est, em mi nha opi ni o, totalmente errada.
Todas essas teses so baseadas em uma m compr eenso dos
17
mtodos das cincias naturais, e, praticamente, m um mito,
um mito infelizmente muito largamente aceito e muito i n-
fluente. : o mito do car ter indutivo do mtodo das cincias
naturais, e do carter da objetividade das ci nci as naturais.
Proponho, no que se segue, devotar uma pequena parte do
tempo precioso a minha disposio, a uma cr ti ca a este na-
turalismo equivocado
2
.
Reconhecidamente, muitos cientistas sociais rejei taro
uma ou outra destas teses que tenho atr i bu do a este natu-
ralismo equivocado. No obstante, este naturalismo parece,
presentemente, ter atingido um poder maior nas cincias so-
ciais, exceto, talvez, em economia; ao menos nos pases de
l ngua inglesa. Desejo formular os sintomas desta vitria na
mi nha oitava tese.
Oitava tese: Antes da Segunda Guer r a Mundi al , a so-
ciologia era considerada como uma ci nci a social geral e te-
ri ca, comparvel , talvez, com a fsica teri ca, e a antropolo-
gia social era considerada como um tipo mui to especial de
sociologia uma sociologia descritiva das sociedades pr i -
mi ti vas. Hoje 3, essa relao tem sido, completamente, inver-
ti da; um fato para o qual se deve chamar a ateno.
A antropologia social ou etnologia tem se tornado uma
ci nci a social geral, e a sociologia tem se resignado, mais e
mais, a desempenhar um papel de um tipo especial de antro-
pologia social, a antropologia social das altamente indus-
trializadas formas de sociedade americana ou europi a-oci -
dental. Redeclarando mais sinteticamente, a r el ao entre a
sociologia e a antropologia tem se invertido. A antropologia
social tem sido promovida de uma aplicada di sci pl i na descri-
ti va para uma cincia terica chave e o antr opl ogo tem sido
elevado de um descritivo trabalhador de campo, modesto e
de horizontes curtos, a um profundo teri co social de vistas
largas e a um psiclogo das profundezas sociais. O antigo
2. (Nota edio inglesa). O que meus opositores de F R A N KF UR T cha-
mam positivismo parece-me ser o mesmo que chamo aqui de "natura-
lismo equivocado", Eles tendem a ignorar minha rejeio
3. (Nota edio inglesa). Desde que isto foi escrito em 1961, tem havido
uma forte reao s tendncias aqui criticadas
18
socilogo teri co, contudo, deve estar contente por encon-
trar emprego como trabalhador de campo e um especialista;
sua f uno observar e descrever os totens e tabus dos na-
tivos da r a a branca na Europa Oci dental e nos Estados
Unidos.
Mas, provavelmente, n o se deve reconhecer esta mu-
da n a no destino do cientista social mui to seriamente, par-
ti cul armente porque no existe nada como a e ssnci a de
um assunto cientfico. Isto me leva mi nha nona tese.
Nona tese: Um, assim chamado, assunto ci entf i co ,
meramente, um conglomerado de problemas e sol ues ten-
tadas, demarcado de uma forma arti fi ci al . O que realmente
existe so problemas e solues e tr adi es ci ent f i cas.
No obstante esta nona tese, a i nver so compl eta entre
sociologia e antropologia extremamente interessante, n o
por causa de suas especialidades ou de seus t tul os, mas por-
que ele conduz vi tri a de um mtodo pseudo- ci ent f i co.
Assi m chego mi nha pr xi ma tese.
Dcima tese: A vi tri a da antropologia a vi tr i a de
um mtodo supostamente observacional, supostamente des-
cri ti vo e supostamente mais objetivo, e, portanto, do eme
tomado por mtodo das ci nci as naturais. uma vi tr i a de
Pi r r o. Outr a vi tr i a dessas, e ns isto , ambas a antro-
pologia e a sociologia estamos perdidos.
Mi n ha dci ma tese pode ser formulada, admi to de pron-
to, um pouco intencionalmente demais. Admi to, cl aro, que
mui to do interesse e da i mpor tnci a tm sido descobertos pela
antropologia social, que uma das mais bem sucedidas ci n-
cias sociais. Al m disso, admito prontamente que pode ser
fascinante e significativo para ns europeus, vermo-nos, par a
var i ar , a tr a vs dos aspectos da antropologia soci al . Por m,
embora estes aspectos sejam, talvez, mais coloridos do que
outros, di fi ci l mente seriam, por esta r azo, mais objetivos.
O antr opl ogo n o observador de Marte que, f r e qe nte -
mente, ele se acredita ser e cujo papel social, geralmente, ten-
ta desempenhar (e no sem prazer), bastante desassociado
do fato de que n o h r azo para se supor que um habi tante
de Mar te nos veria mais "objetivamente", do que ns, por
exemplo, nos ver amos.
19
Neste contexto eu gostaria de contar uma estri a que
reconhecidamente extrema, mas, de nenhum modo, ni ca
embora seja uma estr i a verdi ca, isto , secundr i a no con-
texto presente. Se a estr i a lhes parecer improvvel, por fa-
vor, tomem-na como uma i nveno, como uma i l ustrao l i -
vremente inventada, destinada a esclarecer um ponto impor-
tante, por i nter mdi o de um exagero crasso.
Anos a tr s, eu era um participante em uma conferncia
de quatro dias organizada por um tel ogo, na qual partici-
pavam filsofos, bilogos, antr opl ogos e fsicos um ou
dois representantes por cada' di sci pl i na; ao todo oito partici-
pantes estavam presentes. O tpi co era, eu acho, "Cincia
e Humani smo". Depois de vr i as dificuldades iniciais e a eli-
mi na o de uma tentati va de nos impressionar com uma pro-
fundidade exaltada ( "ERHAHENE T I E FE " um termo de
H E G E L qu.e falhou em ver que uma profundidade exaltada
somente um chavo) os esforos conjuntos de quatro ou
cinco sper as participantes conseguiram, ao cabo de dois
dias, elevar a di scusso a um nvel invulgarmente alto
Nossa conf er nci a ti nha atingido o estgi o ou assim me
pareceu, enfim no qual estvamos mutuamente, apren-
dendo algo.
De qualquer forma, ns estvamos imersos no assunto
de nosso debate, quando, inesperadamente, o antropl ogo so-
ci al deu sua contr i bui o.
Vocs ficaro, talvez, surpresos ele disse por eu no
ter dito nada at agora, nesta conferncia. Isto devido ao
fato de que eu sou um observador. Como antroplogo, eu vim
a esta conferncia no tanto para participar de vosso'compor-
tamento verbal, porm, mais propriamente, para estudar vosso
comportamento verbal. Isto o que tenho conseguido fazer
Concentrando-me nesta tarefa, eu no estava sempre apto a
seguir o verdadeiro contedo de vossa discusso Mas aWm
como eu, que tem estudado dzias de grupos de debate apren-
de com o tempo que o tpico discutido relativamente sem
importncia. N s, antroplogos, aprendemos isto quase
literal (at onde eu me lembro) a considerar estes fen-
menos sociais de fora, e de um ponto de vista mais objetivo
O que nos interessa no o qu, o tpico, porm, mais ade-
quadamente, o como: por exemplo, a maneira pela qual uma
20
pessoa ou outra tenta dominar o grupo e como suas tentativas
so rejeitadas pelos outros, seja individualmente ou atravs da
formao de uma coaliso; como depois de vrias tentativas
deste tipo, uma ordem hierrquica, e, portanto um equilbrio
grupai, e tambm um rito grupai de verbalizao se desenvol-
vem; estas coisas so sempre semelhantes, no importa quo
variada a questo parea ser, que serve como tpico de dis-
cusso".
Ns ouvimos nosso antr opl ogo vi si tante de Mar te e tudo
o que. ti nha a dizer; e, ento, fiz-lhe duas perguntas. Em pr i -
meiro lugar, se ele teria qualquer come ntr i o a fazer sobre
o verdadeiro contedo e o resultado de nossa di scusso; e, en-
t o, se ele no poderia ver que exi sti am coisas como razes
impessoais ou argumentos que poderiam ser vl i dos ou i nv-
lidos. Ele replicou que havia se concentrado mui to na obser-
vao do comportamento de nosso grupo, o que o i mpedi u
de seguir em detalhes, o nosso argumento; mais ai nda, se
assim o tivesse feito, ele teria posto a perigo (assim declarou)
sua objetividade; pois poderia ter se envolvido pelo argumen-
to; e se ele tivesse permitido ser guiado por isto, ele teri a
se tornado um de ns e aquele, teri a sido o f i m de sua
objetividade. Alm disso, ele foi treinado n o para jul gar o
contedo l i teral do comportamento verbal (ele usava, cons-
tantemente os termos "comportamento verbal " e "verbal i -
z a o") , ou tom-l o como importante. O que se relacionava
a ele, disse, era a funo social e psi col gi ca deste compor-
tamento verbal. E adicionou algo como o seguinte:
Enquanto os argumentos ou razes impressionam vocs
como participantes de uma discusso, o que nos interessa o
fato de que atravs destes meios vocs podem impressionar-se
e influenciar-se mutuamente; e tambm, claro, os sintomas
desta influncia.
Estamos interessados em conceitos como a nfase, a hesi-
tao, a interveno e a concesso. N o estamos verdadeira-
mente interessados no contedo pactuai da discusso, mas ape-
nas, com os papis que so desempenhados pelos vrios parti-
cipantes, como a interao dramtica como tal. Em relao
aos assim chamados argumentos, eles so somente, claro, um
aspecto do comportamento verbal no mais importante do que
os outros. A idia de que pode se distinguir entre argumentos
e outras verbalizaes impressionantes uma iluso puramente
subjetiva; e assim a idia da distino entre argumentos ob-
jetivamente vlidos e objetivamente invlidos. Sob presso, po-
der-se-ia classificar os argumentos de acordo com as sociedades
ou grupos em que eles soaceitos em determinados momentos,
21
como vlidos ou invlidos. Que o elemento tempo desempenha
um papel, tambm revelado pelo fato de que argumentos
aparentemente vlidos, -que so aceitos em um momento, em
um grupo de debate como o presente, podem, contudo, serem
atacados ou rejeitados em um estgio posterior por um dos
participantes.
Eu n o quero prolongar a descrio deste incidente. Eu
i magi no que n o ser necessr i o declarar nesta r euni o, que
a posi o, algo extremada, de meu amigo antr opl ogo de-
monstra em sua origem intelectual a i nf l unci a, no s do
ideal "BEHAVI OR STI CO" da objetividade, mas t a mbm
de certas i di as que tm florescido em solo al emo. . Refiro-
me i di a do rel ati vi smo filosfico, do relativismo hi str i co,
que acredita n o existir verdade objetiva, por m, ao contr r i o,
meramente verdades para esta ou aquela era e do relativis-
mo sociolgico, que ensina a exi stnci a de verdades ou ci n-
cias para esta ou aquela classe ou grupo ou profi sso, como
a ci nci a pr ol e tr i a e a ci nci a burguesa. Ta mbm acredito
que a sociologia do conhecimento tem sua grande parcela de
responsabilidade, pois contri bui u para a pr - hi str i a dos dog-
mas repetidos pelo meu amigo antr opl ogo. Reconhecida-
mente, elo adotou uma posi o algo extremada naquela con-
fernci a. Por m esta posi o, especialmente se for um pouco
modificada, n o nem at pi ca nem irrelevante.
Mas esta posi o absurda. J que tenho criticado o re-
lativismo hi str i co e sociolgico e ta mbm a sociologia do co-
nhecimento em outros trabalhos, deixarei de cri ti c-l os aqui .
Ater-me-ei a debater, bem resumidamente, a i di a, i ngnua
e equivocada, de objetividade ci entfi ca que forma a base des-
ta posi o.
Dcima-primeira tese: i um erro admi ti r aue a objeti-
vidade de uma ci nci a dependa da objetividade do cientista.
E um erro acreditar que a atitude do cientista natural
mais objetiva do que a do cientista social. O cientista natu-
r al to pa r t i dr i o quanto as outras pessoas, e a n o ser que
per tena aos poucos que esto, constantemente, produzindo
novas i di as, ele est, infelizmente muito i ncl i nado, em ge-
r al , a favorecer suas i di as preferidas de um modo parci al
e uni l ateral . Vr i os dos fsicos contempor neos de maior pro-
jeo tm fundado, t a mbm, escolas que estabelecem uma re-
si stnci a poderosa a novas i di as.
22
Todavia, mi nha tese ta mbm possui um lado positivo e
este mais importante. Ele forma o contedo da mi nha d-
cima-segunda tese.
Dcima-segunda tese: O que pode ser descrito como
objetividade cientfica baseado unicamente sobre uma tra-
di o crtica que, a despeito da r esi stnci a, f r e qe nte me nte
torna possvel criticar um dogma dominante. A f i m de co-
loc-lo sob outro prisma, a objetividade da ci nci a no uma
matr i a dos cientistas individuais, por m, mais propriamen-
te, o resultado social de sua cr ti ca r ec pr oca, da di vi so hos-
til-amistosa de trabalho entre cientistas, ou sua cooperao
e ta mbm sua competi o. Pois esta r azo depende, em par-
te, de um nmer o de ci r cunstnci as sociais e pol ti cas que
fazem possvel a crti ca.
Dcima-terceira tese: A assim chamada sociologia do
conhecimento, que tenta explicar a objetividade da ci nci a
pela atitude de desapego impessoal de cientistas i ndi vi duai s
e a falta de objetividade em termos de "HAB I T AT " social do
cientista, falha completamente no seguinte ponto decisivo:
o fato de que a objetividade repousa, unicamente, sobre uma
cr ti ca recproca. O que falta sociologia do conhecimento
nada menos do que a pr pr i a sociologia do conhecimento
o aspecto social da objetividade ci entf i ca e sua teoria. A
objetividade pode, somente, ser explicada em termos de idias
sociais como a competi o (ao mesmo tempo, de cientistas
individuais e de vri as escolas); tr adi o (principalmente a
tr adi o cr ti ca) ; a i nsti tui o social (por exemplo, a publi-
cao em vrios jornais concorrentes e atr avs de vri os edi-
tores concorrentes; discusso em congressos); o poder do
Estado (sua tol ernci a com o debate l i vr e) .
Alguns detalhes menores, como, por exemplo, o "HA-
BI TAT" social ou ideolgico do pesquisador, tendem a ser
eliminados com o correr do tempo; embora, reconhecidamen-
te, eles sempre desempenhem um papel imediato.
De um modo semelhante quel e no qual temos resolvido
o problema da objetividade, podemos resolver o problema an-
logo da liberdade da cincia no envolvimento em juzo de
valores (iseno de valores); e o podemos fazer de uma ma-
neira mais livre, e menos dogmti ca, do que feita geral-
mente.
23
Dcima-quarta tese: Em uma di scusso cr ti ca pode-
mos di sti ngui r questes tais como: 1) a questo da verdade
de uma asser o; a questo de sua rel evnci a, do seu inte-
resse e da sua si gni fi cao em rel ao aos problemas nos
quais estamos interessados; 2) a questo da sua r el evnci a e
do seu interesse e da sua si gni fi cnci a para vri os problemas
extra-cientficos, por exemplo, problemas de bem-estar hur-
mano, os problemas estruturalmente bem diferentes, da defe-
sa naci onal ; ou (por contraste) de uma agressiva pol ti ca
naci onal i sta; ou de expanso i ndustri al ; ou de aqui si o de
riqueza pessoal.
claramente impossvel eliminar tais interesses extra-
cientficos e evitar sua i nfl unci a no curso da pesquisa cien-
tfi ca. E tanto impossvel elimin-los da pesquisa nas ci n-
cias naturais citemos a pesquisa em fsica quanto da
pesquisa nas ci nci as sociais.
O que possvel e o que importante e o que empresta
ci nci a o seu ca r te r especial no a el i mi nao dos i n -
teresses extra-ci entfi cos porm, mais propriamente, a dife-
r enci ao entre os interesses que no pertencem pesquisa
par a a verdade e para o puro interesse cientfico na verdade.
Mas, embora a verdade seja nosso valor cientfico decisivo,
ele no nosso ni co pri ncpi o. Relevncia, interesse e sig-
ni f i cnci a (a si gni fi cao de decl araes relativas a uma si -
tua o pr obl emti ca puramente ci entfi ca), so, igualmente,
valores ci entfi cos de pri mei ra ordem; e isto t a mbm ver-
dadeiro acerca de valores como fecundidade, fora explica-
ti va, simplicidade, e preci so.
Em outras palavras, existem valores e desvalores pura-
mente ci entfi cos e valores e desvalores exra-ci entfi cos.
E, embora seja impossvel separar o trabalho ci entfi co de
apl i caes e aval i aes, uma das tarefas do criticismo cien-
tfico e do debate cientfico, l utar contra a confuso das es-
calas de valores e, em particular, separar aval i aes extra-
ci entfi cas das questes de verdade.
24
Isto n o pode, bvio, ser conseguido de uma vez s e
para sempre, por i nter mdi o de um decreto; contudo, perma-
nece como uma das mi sses permanentes do mt u o criticis-
mo ci entfi co. A pureza da ci nci a pur a um ideal presumi-
damente i nal canvel ; mas um ideal para o qual estamos
lutando constantemente e devemos l utar por i nter m-
dio da cr ti ca.
Ao formular esta tese eu disse que , praticamente, i m-
possvel conseguir a el i mi nao dos valores extra-ci entfi cos
da atividade ci entfi ca. A si t u a o semelhante com respeito
objetividade; no podemos roubar o partidarismo de um
cientista sem t a mbm r oub- l o de sua humanidade, e no
podemos supri mi r ou destruir seus juzos de valores sem des-
tr u - l o como ser humano e como cientista. Nossos motivos
e at nossos ideais puramente ci entfi cos, inclusive o ideal de
uma desinteressada busca da verdade, esto profundamente
enraizados em val oraes extr a- ci ent f i cas e, em parte, reli-
giosas. Portanto, o cientista "objetivo" ou "isento de valores"
, dificilmente, o cientista i deal . Seni pai xo no se consegue
nada certamente n o em ci nci a pura. A frase "a pai xo
pela verdade" no uma mera metf or a.
Portanto, no que, apenas, a objetividade e a liberdade
de envolvimento com valores ( i seno de valores) sejam i nal -
canvei s na pr ti ca, pelo cientista i ndi vi dual , por m, mais
adequadamente, que a objetividade e a liberdade em rel ao a
tais dependnci as, so valores em si mesmos. E, desde que,
a liberdade de valores , ela pr pr i a, um valor, a exigncia
i ncondi ci onal de liberdade em r el ao a qualquer l i gao a
valores . paradoxal . No considero este argumento como
mui to importante; mas deveria ser notado que o paradoxo
desaparece, totalmente, por sua pr pr i a i ni ci ati va, se subs-
ti tui rmos a exi gnci a pela liberdade de dependnci a a todos
os valores pela exi gnci a de que deveria ser uma das tarefas
do criticismo ci entfi co, apontar as confuses de valores e se-
parar os problemas de valores puramente cientficos como ver-
dade, r el evnci a, simplicidade, etc, dos problemas extra-cien-
tficos.
25
Eu tenho, at agora, tentado desenvolver, resumidamen-
te, a tese de que o mtodo da ci nci a consiste na escolha dos
problemas interessantes e na cr ti ca de nossas permanentes
tentativas experimentais e pr ovi sr i as par a sol uci on-l os.
Tenho tentado demonstrar mais al m, usando como exem-
plos duas questes de mtodo mui to discutidas nas cincias
sociais, de que esta abordagem cr ti ca a mtodos (como po-
deria ser chamada) conduz a resultados metodol gi cos bas-
tante razovei s. Mas, embora eu tenha dito umas poucas pa-
lavras sobre epistemologia, sobre a l gi ca do conhecimento,
e outras poucas palavras cr ti cas sobre a metodologia das
ci nci as sociais, tenho, at agora, dado apenas uma pequena
contr i bui o positiva para o meu tpi co, a l gi ca das cin-
cias sociais.
No desejo deter os ouvintes oferecendo r azes pelas
quais acho importante o mtodo ci entfi co, ao menos pr i r
mei ra apr oxi mao, com o mtodo cr ti co. Ao i nvs disto, eu
gostaria de ir direto a algumas questes e teses puramente
l gi cas.
Dcima-quinia tese: A funo mais i mportante da pura
lgica dedutiva a de um sistema de cr ti ca.
Dcima-sexta tese: A lgica dedutiva a teoria da va-
lidade das dedues lgicas ou da r el ao de conseqnci a
lgica.' Uma condi o necessri a e decisiva para a validade
de uma conseqnci a lgica a seguinte: se as premissas
de uma deduo vl i da so verdadeiras, e nt o a concl uso
deve ta mbm ser verdadeira.
Isto ta mbm pode ser expresso como se segue. A lgica
dedutiva a teoria da tr ansmi sso de verdade, das premissas
concl uso.
JDcima-setima tese: Podemos dizer: se todas as premis-
sas so verdadeiras e a deduo vl i da, e nt o a concl uso
deve tambm ser verdadeira; e se, conse qe nte me nte , a con-
cl uso falsa em uma deduo vl i da, e nt o, n o possvel
que todas as premissas sejam verdadeiras.
26
Este resultado tr i vi al por m decisivamente i mpor tante
pode t a mbm ser expresso da seguinte manei r a: a l gi ca de-
duti va n o s a teoria da transmisso da verdade das pre-
missas concl uso, mas , t a mbm, ao mesmo tempo, a
teoria da retransmisso da falsidade da concl uso a t , ao me-
nos, uma das premissas.
Dcima-oitava tese: Desta forma, a l gi ca deduti va
torna-se a teoria da cr ti ca raci onal , pois todo cr i ti ci smo r a-
cional toma a forma de uma tentati va de demonstrar que
concluses i nacei tvei s podem se derivar da a f i r ma o que
estivemos tentando cr i ti car . Se tivermos sucesso em deduzir,
logicamente, concl uses i nacei tvei s de uma af i r mao,
ento, a af i r mao pode ser colocada como di gna de ser
recusada.
Dcima-nona tese: Nas ci nci as, trabal hamos com teo-
rias, isto , com sistemas dedutivos. H duas r azes par a isso.
Em primeiro l ugar, uma teoria ou um sistema dedutivo uma
tentativa de expl i cao e, conse qe nte me nte , uma tentati va
de sol uo de um problema ci entfi co um probl ema de
expl i cao. Em segundo l ugar, uma teoria, um sistema dedu-
tivo, pode ser cri ti cado racionalmente a tr a vs de suas con-
seqnci as. , ento, uma sol uo experimental, o objeto da
cr ti ca r aci onal . Tanto quanto o sistema de cr ti ca o par a
a l gi ca formal .
Duas i di as fundamentais que tenho usado aqui reque-
rem uma breve el uci dao: a i di a de verdade e a i di a de
expl i cao.
Vigsima tese: O conceito de verdade i ndi spensvel
para a abordagem cr ti ca aqui desenvolvida. O que cri ti camos
, precisamente, a pr e t e ns o de que uma teoria verdadei ra.
O que tentamos demonstrar como cr ti ca de uma teoria ,
claramente, que essa pr e t e ns o infundada, que el a falsa.
A i mportante i di a metodol gi ca que podemos aprender
de nossos erros n o pode ser entendida sem a i di a regul a-
dora da verdade; qualquer erro simplesmente consiste em
um fracasso em viver de acordo com o pa dr o da verdade ob-
27
jetiva que nossa idia reguladora. Denominamos "verda-
dei ra" uma proposi o, se ela corresponde aos fatos, ou se
as coisas so como as descritas pela proposi o. Isto , o que
chamado de conceito absoluto ou objetivo da verdade que
cada um de ns usa constantemente. A r eabi l i tao bem su-
cedida deste conceito absoluto da verdade um dos resulta-
dos mais importantes da lgica moderna.
Esta observao alude ao fato de que o conceito de ver-
dade tem sido desprestigiado. Realmente, isto foi a forma
matri z que produziu as ideologias reiativistas dominantes em
nosso tempo.
Esta a r azo pela qual estou inclinado a descrever a
r eabi l i tao do conceito de verdade pelo matemti co e lgico
AL FRE DO T ARS K I como, filosoficamente, o mais i mportan-
te resultado da lgica matemti ca.
claro que no posso discutir este resultado aqui. Me-
ramente posso dizer, bastante dogmaticamente, que T ARS K I
obteve sucesso da maneira mais simples e mais convincente,
ao explicar onde repousa a adequao entre as asseres e
os fatos. Por m, isto foi, precisamente, a tarefa cuja apa-
rente dificuldade desanimadora conduziria ao relativismo c-
tico com conseqnci as sociais que no preciso aqui decifrar.
O segundo conceito que tenho utilizado e que pode re-
querer el uci dao a idia da explicao ou, mais precisa-
mente, a idia da explicao causai.
Um problema puramente terico um problema de ci n-
ci a pura consiste sempre na tarefa de achar uma explica-
o, a expl i cao de um fato ou de um fenmeno ou de uma
regularidade destacada ou de uma notvel excesso regra.
Aquilo que pretendemos explicar pode ser chamado de
"explieandum". A soluo tentada do problema, isto , a ex-
pl i cao, consiste sempre numa teoria, em um sistema dedu-
tivo que nos permite explicar o "explieandum" relacionando-o
a outros fatos (as assim chamadas condies i ni ci ai s). Uma
expl i cao integralmente explcita consiste em demonstrar a
deri vao lgica (ou derivabilidade) do "expl i eandum" da
teoria reforada por algumas condies iniciais.
O lgico esquema bsico de toda explicao consiste
numa mf er nci a dedutiva (lgica) cujas premissas consis-
28
tem numa teoria e em algumas condies i n i ci a i s
4
, e cuja
concl uso o "explieandum".
O esquema bsico tem um nme r o notvel de apl i ca-
es. Pode se apontar com sua ajuda, por exemplo, a di sti n-
o entre uma hi ptese "ad-hoc" e uma hi ptese independen-
temente testvel . Mas al m e isto poderia ser de mais i n-
teresse para vocs pode-se analisar logicamente, de um
modo simples, a di sti no entre problemas teri cos, proble-
mas hi str i cos e problemas de ci nci a aplicada. Outro re-
sultado que a famosa distino entre ci nci as ter i cas ou
nomotti cas e hi str i cas ou ideogrficas pode ser justi fi cada
logicamente contanto que se entenda aqui sob o termo
"ci nci a" no meramente "ci nci a natur al " (como em i n-
gls) mas, qualquer tentativa para solucionar um conjunto
de problemas definido e logicamente di ferenci vel .
O mesmo se aplica para a el uci dao dos conceitos l-
gicos que tenho empregado at agora.
Os dois conceitos sob debate, aquele relativo verdade,
e aquele concernente expl i cao, tornam possvel a anl i se
lgica dos demais conceitos, talvez 'mais importantes para a
lgica do conhecimento ou metodologia. O primeiro desses
conceitos aquele da aproximao da verdade e o segundo
aquele do poder explicativo ou o contedo explicativo de uma
teoria.
Estes dois conceitos so puramente lgicos, visto pode-
rem ser definidos com a ajuda dos conceitos puramente l-
gicos da verdade de um enunciado e do contedo de uma
af i r mao isto , a classe das conseqnci as l gi cas de
uma teoria dedutiva. Ambos so conceitos relativos. Embora
cada enunciado seja simplesmente verdadeiro ou falso, um
enunciado pode representar uma melhor apr oxi mao da
verdade do que um outro enunciado. Isto acontecer se,
por exemplo, um enunciado tiver conseqnci as l gi cas
"mais" verdadeiras e "menos" falsas. do que outro. ( Est
pressuposto aqui que os subconjuntos verdadeiros e falsos
4. (Nota edio inglesa). Nas cincias sociais, as premissas da expli-
cao usualmente consistem em um modelo situacional e de um, assim
chamado, "princpio de racionalidade". Estas explicaes de lgica situa-
cional" esto brevemente discutidas nas minhas teses nmero vinte e
cinco e vinte e seis.
29
do conjunto de conseqnci as de dois enunciados so com-
pa r ve i s) . Pode ser, ento, demonstrado facilmente porque
assumimos, corretamente, que a teoria de NE WT ON uma
mel hor a pr oxi ma o da verdade do que a de K E P L E R . Igual-
mente pode ser demonstrado que o poder explicativo da
teoria de NE WT ON maior do que a de K EP LER^
Portanto, analisamos aqui i di as l gi cas que enfatizam a
a va l i a o de nossas teorias e que nos permitem falar, sig-
ni fi cati vamente, de progresso ou regresso com r el ao s
teorias ci entf i cas.
O mesmo podemos dizer da l gi ca geral do conhecimen-
to. Referindo-me, em particular, l gi ca das ci nci as sociais,
eu gostaria de formular algumas outras teses.
Vigsima-primeira tese: No existe nenhuma cincia
puramente observacional; existem somente ci nci as nas quais
teorizamos (mais ou menos consciente e cri ti camente).
claro que isto t a mbm serve para as ci nci as sociais.
Vigsima-segunda tese: A psicologia uma ci nci a so-
ci al visto dependerem, grandemente, nossos pensamentos e
aes, de nossas condies sociais. I di as como (a) a i mi ta-
o, (b) a l i nguagem, (c) a faml i a, so obviamente idias
sociais; e est claro que a psicologia da aprendizagem e do
pensamento e ta mbm, por exemplo, a psi canl i se, no po-
dem existir sem uti l i zar uma ou outra dessas i di as sociais.
Portanto, a psicologia pressupe i di as sociais, o que demons-
tr a ser i mpossvel explicar a sociedade exclusivamente em
termos psicolgicos, ou reduzi-la psicologia. Logo, no po-
demos considerar a psicologia como a base das ci nci as so-
ciais.
O que no podemos, a pr i nc pi o, explicar psicologica-
mente, e o que devemos pressupor em toda expl i cao psi-
col gi ca o ambiente social do homem. A mi sso de descre-
ver esse ambiente social (isto , com a ajuda de teorias ex-
pl i cati vas como declaradas anteriormente visto que des-
cr i es livres de teorias no existem) a tarefa fundamental
da ci nci a social. .
Poderia ser apropriado atri bui r essa mi sso sociologia.
Por conseguinte, i ncmbo- me disso no que se segue.
30
Vigsima-terceira tese: A Sociologia a u t n o ma , no
sentido em que, a uma di stnci a consi der vel , ela pode e
deve tornar-se independente da psicologia. A parte da de-
pendnci a da psicologia em r el ao s i di as sociais (men-
cionada em mi nha vi gsi ma- segunda tese), deve-se ao i m-
portante fato de que a sociologia est, constantemente,
diante da tarefa de explicar as conseqnci as i nvol untr i a s
e geralmente i ndesejvei s da ao humana. Um exemplo:
a competi o um f enmeno social que , usualmente, i n-
desejvel, pelos competidores, mas que pode e deve ser ex-
plicado como uma conseqnci a i nvol untr i a (geralmente
inevitvel) das aes (conscientes e planejadas) dos compe-
tidores. Logo, mui to embora possamos estar aptos a explicar
psicologicamente algumas das aes dos competidores, o fe-
nmeno social da competi o uma conseqnci a psicologi-
camente i nevi tvel destas aes.
Vigsima-quarta tese: Por m, a sociologia t a mbm
a utnoma em um segundo sentido, isto , no podemos re-
duzir psicologia o que tem sido, f r eqentemente, denomi-
nado "VE RS T E HE NDE SOZI OLOGI E" (a sociologia da com-
preenso objetiva ?).
Vigsima-quinta tese: A i nvesti gao l gi ca da Econo-
mi a cul mi na com um resultado que pode ser aplicado a to-
das as ci nci as sociais. Este resultado mostra que existe um
mtodo puramente objetivo nas ci nci as sociais, que bem pode
ser chamado de mtodo de compr eenso objetiva, ou de l -
gica si tuaci onal . Uma ci nci a orientada para a compr eenso
objetiva ou l gi ca si tuaci onal pode ser desenvolvida mdeperir
dentemente de todas as i di as subjetivas ou psi col gi cas.
Este mtodo consiste em analisar suficientemente a si tuao
social dos homens ativos par a explicar a ao com a ajuda
da si tuao, sem outra ajuda maior da psicologia. A com-
preenso objetiva consiste em considerar que a ao foi obje-
tivamente apropri ada si tuao. Em outras palavras, a si -
tuao analisada o bastante para que os elementos que pa-
r /-ta, edio Inglesa). Para uma discusso mais completa (inclusive
alFuns exemplos) de uma objetiva teoria da compreenso, ver minha
nota "Sobre a Teoria da Mente Objetiva" que forma o capitulo quarto
domeu livro Conliecimento Objetivo.
21
recm, inicialmente, ser psi col gi cos (como desejos, motivos,
l embr anas e associ aes) , sejam transformados em elemen-
tos da si tuao. O homem com determinados desejos, por-
tanto, torna-se um homem cuja si tua o pode ser caracteri-
zada pelo fato de que persegue certos alvos objetivos; e um
homem com determinadas l e mbr a n a s ou associ aes torna
-se um homem cuja si tuao pode ser caracterizada pelo fato
de que c equipado, objetivamente, com outras teorias ou com
certas i nformaes.
Isto nos permite compreender, e nt o, aes em um sen-
tido objetivo, a ponto de podermos di zer: reconhecidamente,
possuo diferentes alvos e sustento diferentes teorias (de, por
exemplo, Carlos Magno) , mas se tivesse sido colocado nesta
si tuao, logo, analisado onde a si tuao i ncl ui metas e
conhecimento e nt o eu, e presumidamente vocs tambm,
teria agido de uma forma semelhante a dele. O mtodo da
anl i se situacional , certamente, um mtodo individualista
e, contudo, no , certamente, um mtodo psicolgico, pois
exclui, em pri ncpi o, todos os elementos psicolgicos e os
substitui por elementos objetivos situacionais. Eu chamo isto,
usualmente, de "l gi ca da si t ua o" ou "l gi ca situacional"!
Vigsiina-scxta lese: As expl i caes da l gi ca situacio-
nal aqui descritas so r econstr ues racionais e teri cas. So
simplificadas c esquematizadas por alto, e, conseqentemen-
te, so geralmente falsas. Apesar disso, podem possuir um
contedo verdadeiro consi dervel e podem, no sentido estri-
tamente lgico, ser boas apr oxi maes da verdade e melho-
res do que outras explicaes testvei s. Nesse sentido, o con-
ceito lgico de apr oxi mao da verdade i ndi spensvel para
uma cincia social que usa o mtodo da anl i se situacional.
Sobretudo racional, empiricamente cr i ti cvel , e capaz de
melhorias. Podemos, por exemplo, encontrar uma carta que
demonstre que o conhecimento di sposi o de Carlos Magno
era diferente do que admitimos em nossa anl i se. Por con-
traste, as hi pteses psi col gi cas ou car acter i ol gi cas so di -
ficilmente criticveis por argumentos racionais.
Vigsima-stima tese: Geralmente a l gi ca situacional
admite um mundo fsico no qual agimos. Este mundo con-
32
tm, digamos, recursos fisicos que esto nossa disposi-
o e sobre os quais sabemos algo, e barreiras fsicas sobre
as quais t a mbm sabemos alguma coisa ( f r e qe nt e me nt e n o
mui to) . Alm disso, a lgica situacional t a mb m deve admi -
ti r um mundo social, habitado por outro povo, de cujas me-
tas sabemos alguma coisa (muito pouco), e, deve admi ti r,
al m de tudo, as instituies sociais. Essas i nsti tui e s sociais
determinam o peculiar car ter social de nosso meio social.
Essas i nsti tui es sociais consistem de todas as realidades so-
ciais do mundo social, realidades que, em al gum grau, cor-
respondem s coisas do mundo fsico. Um a r ma z m ou um
i nsti tuto uni ver si tr i o ou uma forca pol i ci al ou uma l ei so,
nesse sentido, i nsti tui es sociais. A Igreja, o Estado e o ca-
samento t a mbm so i nsti tui es sociais, como so certos
costumes coercitivos como, citemos, o har a- ki r i no J a p o .
Mas na sociedade europi a, o suicdio no u ma i nsti tui o
social no sentido em que usei o termo, e em que declarei que
a categoria possui i mpor tnci a.
Esta c mi nha l ti ma tese. O que se segue uma suges-
to e uma pequena nota conclusiva.
Sugesto: Podemos, talvez, aceitar provisoriamente, co-
mo problemas fundamentais de uma sociologia puramente
teri ca, a lgica situacional geral e a teoria das i nsti tui es
c das tr adi es. Isto i ncl ui ri a problemas tais como os se-
guintes:
1 As i nsti tui es no agem; ao i nvs, s os i ndi v duos
agem, dentro ou para ou atravs das i nsti tui es. A l gi ca
si tuaci onal geral destas aes ser a teoria das quase- aes
das i nsti tui es.
2 Poder amos construir uma teoria das conseqn-
cias institucionais, planejadas ou no, de ao i ntenci onal .
Isto t a mbm conduziria teoria da cr i ao c do desenvolvi-
mento das i nsti tui es
Fi nal mente, um comentri o adicional. Acredi to que a
epistemologia importante no s para as ci nci as i ndi vi -
duais mas t a mbm para a filosofia, e que a i nt r a nqi l i da de
filosfica e religiosa dos nossos tempos, que, seguramente,
concerne a todos ns, , em um grau consi der vel , o resul -
tado da i ntr anqi l i dade da filosofia do conhecimento huma-
33
no. NI ETZSCHE chamou este fato de nihilismo europeu e
BENDA de a t r a i o dos intelectuais. Eu gostaria de carac-
teriz-lo como u ma conseqnci a da descoberta socr ti ca de
que mo sabemos nada; isto , que no podemos nunca justi -
ficar nossas teorias, racionalmente. Porm essa descoberta i m-
portante, que tem produzido, entre muitas outras indisposi-
es, a i ndi sposi o do existencialismo, s a metade de uma
descoberta; e o ni hi l i smo pode ser superado. Pois, embora,
n o possamos justi fi car nossas teorias racionalmente e n o
possamos, nem mesmo, provar que so provveis, podemos
cri ti c-l as racionalmente. E podemos, constantemente, dis-
tingui-las de teorias piores. ,
Por m, isto era conhecido, antes mesmo de Scrates, por
XENOPHANS que nos disse 6:
Os deuses no nos revelaram todas as coisas, de Inicio;
Mas no curso do tempo.
A travs da procura, poderemos aprender
E conhecer melhor as coisas...
Traduo de Apio Cludio Muniz Acquarone Filho, do
original "The logic of the social sciences", in. ; The po-
sitivist dispute in ^man sociology. London, Heinne-
mann, 1976.
6. (Nota edio inglesa) "Conjeturas e R efutaes", p. 152 (a traduo
minha).
34
RAZO OU REVOLUO?
As consi der aes cr ti cas que se seguem so r eaes ao
l i vr o Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie
("A di sputa do Positivismo na Sociologia Al e m ") , publicado
no ano passado
1
(para o qual escrevi o texto or i gi nal ) .
1. Comear ei contando algo da hi str i a do l i vro e de seu
t t ul o equvoco. Em 1960, eu fora convidado a abrir a dis-
cusso sobre "A Lgica das Ci nci as Soci ai s" no Congresso
dos Soci l ogos Al emes em Gt t i nge n. Eu aceitei e recebi o
aviso de que a mi nha comuni cao de abertura seria seguida
por urna r pl i ca do.Professor Theodor Adorno, de Fr ankf ur t.
Os organizadores haviam-me e nt o sugerido, de modo a sus-
ci tar um debate frutuoso, que eu formulasse meus pontos de
vi sta em um n me r o determinado de teses. Ta l o f i z: mi nha
co mu n i ca o de abertura para o debate, apresentada em
1961, consistia em 27 teses formuladas em termos precisos,
acrescidas de uma f or mul ao pr o g r a mt i ca da tarefa das
ci nci as sociais teorti cas. Aquelas teses foram formuladas,
sem dvi da de manei ra a tor n- l as di fi ci l mente acei tvei s por
um hegeliano ou por um mar xi sta (como Ador no) , e eu as
fundamentei , tanto quanto pude, com argumentos. Atenden-
do ao pouco tempo disponvel, restringi-me ao fundamental,
evi tando repetir o que j havi a dito em outros lugares.
A r pl i ca de Adorno foi l i da com nf ase, mas ele di fi ci l -
mente respondeu ao meu desafio isto , s mi nhas 27 te-
ses. No debate que se seguiu, o Professor Ral f Dahrendorf ex-
pr i mi u seu profundo desapontamento. El e disse que fora a
i n t e n o dos organizadores colocar a descoberto algumas di
i Este artigo foi publicado originalmente nos "Archives europennes de
Sociologie" XI (1970) 252-262 e revisto para a presente publicao.
35
ver gnci as flagrantes aparentemente ele i ncl ua diferen-
as pol ti cas e i deol gi cas entre a mi nha abordagem das
ci nci as sociais e a de Adorno. A i mpresso causada "por mi -
nha comuni ca o e pela rpl i ca de Adorno foi por m disse
ele, a de um suave acordo, um fato que o deixou estupefato
("como se os senhores Popper e Adorno estivessem surpreen-
dentemente de acordo"). Eu senti e ainda sinto mui to tal
incidente. Tendo sido por m convidado a falar sobre "A l-
gica das ci nci as sociais", eu no i ri a desviar-me de meu ca-
mi nho para atacar Adorno e a escola "di al ti ca" de Fr ank-
furt (Adorno, Habermas, Horckheimer e outros), que eu ja-
mais considerei importante, excetuando-se, quem sabe, de um
ponto de vi sta pol ti co; al m disso, em 1960, eu ai nda no
estava seguro da i nf l unci a pol ti ca desta escola. Embora
hoje eu n o hesite em descrever esta i nfl unci a em termos
do tipo "i r r aci onal i sta" ou "destrutiva da i ntel i gnci a", ja-
mais poderia levar sua metodologia (pouco importando o que
isto signifique) a srio tanto de um ponto de vista intelectual
como acadmi co. Conhecendo-a agora um pouco mais, creio
que Dahrendorf teve r azo em ficar desapontado; eu devia
t-los atacado uti l i zando os argumentos anteriormente pu-
blicados no meu Open Society 2 e The Foverty of Historicism
3
c em "O que di al ti ca?" mesmo se eu quisesse que tais
argumentos coubessem sob o t tul o de "A Lgica das Cin-
cias Sociais" mas isto j no mais importa. Meu ni co
reconforto f i ca sendo que a responsabilidade de provocar a
pol mi ca repousaria sobre os ombros do segundo orador.
Seja como for, a crti ca de Dahrendorf suscitou um ar-
tigo (quase duas vezes mais longo do eme a mi nha comuni -
cao original) do Professor J r ge n Habermas, outro mem-
bro da escola de Fr ankf ur t. Foi neste artigo, penso, eme o
termo "posi ti vi smo" surgiu pela primeira vez nesta di scusso
especfica; eu fui criticado como "positivista".
Este um equvoco antigo, criado e perpetuado por aque-
les que conhecem a mi nha obra somente de segunda m o;
2 "The Open Society and Its Enemies" (Londres, 1945), 5.
a
edio (re-
vista) 1969, 10." impr. 1974, "A Sociedade aberta e seus inimigos", tra-
duo brasileira pela Editora Itatiaia.
3 "The Poverty of Historicism" (Londres, 1957 e edies posteriores).
4 "What is Dialectic?" "Mind", XLI X (1940) pp. 403 ss. Reimpresso em
"Conjectures and Refutations" (London, 1963), 5." ed., 1974.
36
graas atitude tolerante adotada por al guns dos membros
do Crculo de Viena, meu l i vro A Lgica da Pesquisa Cient-
fica
5
, no qual critiquei este C r cul o posi ti vi sta, foi publ i ca-
do numa srie de livros editados por Mor i tz Schl i ck e Phi l i pp
Frank, dois destacados membros do C r cul o 6; aqueles, pois,
que julgam livros pelas suas capas (ou pelos seus editores),
criaram o mito de que eu fora membro do Crcul o de Vi ena
e positivista.
Ni ngum que tenha l i do aquele l i vro (ou qualquer outro
livro meu) concordar com isto a menos que creia no mi to
e parta dele, caso em que pode r decerto encontrar evi dn-
cias para fundamentar esta cr e n a .
Em minha defesa, o Professor Hans Albert (tampouco
positivista) escreveu uma r pl i ca espirituosa ao ataque de
Habermas. Este l ti mo respondeu e foi respondido uma se-
gunda vez por Albert. Este debate ocupou-se pri nci pal mente
com as caractersti cas gerais e com a consi stnci a de meus
pontos de vista. Assim, houve apenas l i gei r a me n o e ne-
nhuma crtica sria ao meu discurso i naugur al de 1961,
e s suas 27 teses.
Foi, creio, em 19G4, que um editor al emo perguntou-
me se eu porventura concordaria em ter meu discurso pu-
blicado em forma de l i vro juntamente com a r pl i ca de Ador-
no e o debate entre Habermas e Al ber t. Eu assenti.
Uma vez publicado, por m, o l i vro (em 1969, em al emo)
apresenta duas i ntr odues prati camente novas de Adorno
(94 pgi nas) , seguidas de meu discurso de 1961 (20 pg i n a s) ,
da rplica original de Adorno (18 pg i n a s) , da queixa de
Dahrendorf (19 pgi nas) , do debate entre Habermas e Al bert
(150 pgi nas) , de uma nova contr i bui o de Harold Pi l ot (28
pgi nas) e por um "curto post-scri ptum surpreso para uma
longa i ntroduo" de Al ber t. (5 pg i n a s) . Neste, Albert men-
r> Logik der Forschung (Wien, Julius Springer, 1934; 5.
a
ed. Tbingen,
J. C. B. Mohr, 1973). Traduo inglesa: The Logic of Scientific Disco-
very (London, Hutchinson, 1959), 7.
a
impr. 1974. Traduo brasileira:
A lgica a Pesquisa Cient fica (So Paulo, Itatiaia, 1976)..
6 O Circulo de Viena se compunha de homens de originalidade e dos mais
elevados padres intelectuais e morais. Nem todos dentre eles foram
"positivistas", se entendermos este termo como uma condenao do pen-
samento especulativo, embora estes fossem a maioria. Eu sempre tenho
sido favorvel a um pensamento especulativo riticvel e, sem dvida,
de sua critica efetiva. .
37
ci ona rapidamente que tudo comeou com o debate entre
Ador no e mi m mesmo em 1961, e diz, com mui ta proprieda-
de, que o leitor do livro dificilmente se dari a conta do que se
tratava. Esta 6 a ni ca al uso em todo o livro hi str i a que
o precedeu. No h resposta questo sobre como o livro re-
cebera um t tul o que indica, erroneamente, que nele foram
discutidas as opi ni es de alguns "positivistas". Nem mesmo
o post-scriptum de Albert responde a esta questo.
Qual foi o resultado? Mi nhas 27 teses, destinadas a i n i -
ci ar um debate (e assim o fizeram, afinal de contas), n o
foram discutidas seriamente em momento al gum deste longo
l i vr o nem mesmo uma ni ca dentre elas, embora uma ou
outra passagem de meu discurso seja mencionada aqui e al i ,
de modo geral fora do contexto, para i l ustrar o meu "posi ti -
vi smo". Al m disso, o meu discurso est sepultado no meio
do l i vro, desligado do comeo e.do fi m. Nenhum leitor pode
ver e nenhum revisor pode compreender, porque meu discur-
so (que eu s posso considerar como altamente i nsati sf at-
r i o em sua forma atual) est i ncl udo no livro ou que ele
seja o tema inconfessado do livro inteiro. Nenhum leitor des-
cobr i r e nenhum revisor descobriu o que eu suponho ser a
verdade da questo. porque meus oponentes literalmente
n o souberam como criticar racionalmente as minhas 27 te-
ses. Tudo o que puderam fazer foi rotular-me de "posi ti vi sta"
(mesmo ao preo de atribuir um nome altamente deprecia-
ti vo ao debate, no qual nem um ni co "posi ti vi sta" esteve
envolvido), e, tendo-o feito, mergulharam meu pequeno ar ti -
go, e o ponto de partida ori gi nal do debate, num oceano de
palavras qu eu achei somente em parte compr eens vei s.
Uma vez publicado, a pri nci pal conseqnci a do l i vro f i -
cou sendo a acusao feita por Adorno e Habermas de que
um "posi ti vi sta" do tipo de Popper est obrigado por sua me-
todologia a defender o "status quo" pol ti co. Esta uma acusa-
o que eu mesmo levantei, no meu Open Society, contra
Hegel , cuja fosofia da identidade (o que real racional)
foi descrita por mi m como uma espcie de "positivismo mo-
r a l e l egal ". Em meu discurso, eu nada disse sobre tal con-
seqnci a; e n o tive oportunidade alguma de r pl i ca. Mas
eu tenho combatido f r eqentemente este tipo de "positivis-
mo" de muitas outras formas. E fato que mi nha "teoria
38
social" (que preconiza uma reforma gradual e setorial, con-
trolada por uma compar ao cr ti ca entre os resultados es-
perados e os obtidos) contrasta fortemente com a mi nha
"teoria do mtodo" que procura ser uma. teori a das revolu-
es ci entfi cas e intelectuais.
2. Este fato e mi nha atitude com rel ao r evol uo
podem ser facilmente explicados. Comecemos com a evol uo
darwi ni ana. Os organismos evoluem por ensaio e erro, e, suas
tentativas er r neas suas muta e s er r neas so el i mi -
nadas, regra geral, pela el i mi nao do organismo que o
"suporte" do erro. Faz parte da mi nha epistemologia que, no
homem, atr avs da evol uo de uma linguagem descritiva e
argumentativa, tudo isto se modificou radicalmente. Acaba-
se desta forma a possibilidade de ser "crti co de suas pr -
prias tentativas, de suas pr pr i as teorias". Estas teorias n o
so mais' incorporadas a seu organismo ou a seu sistema ge-
nti co: elas podem ser formuladas em livros ou em revistas,
discutidas criticamente, demonstradas como er r neas, sem
matar nenhum autor, nem queimar livro algum; sem des-
trui r os "suportes".
Desta forma, ns chegamos a uma nova possibilidade
fundamental: nossas escolhas, nossas hi pteses experimen-
tais, podem ser eliminadas criticamente pela discusso racio-
nal , sem eliminarmos a ns mesmos. Este , de fato, o pro-
psi to da di scusso raci onal cr ti ca.
O "suporte" de uma hi ptese exerce uma importante
f uno nestas di scusses; ele tem de defender a hi ptese con-
tr a cr ti cas erradas, pode talvez tentar modific-la, se sua
forma original no puder ser sustentada com xito. Se o m-
todo da di scusso raci onal cr ti ca se estabelecer, tal f a r o
uso da vi ol nci a obsoleto: a r azo cr ti ca a ni ca alternativa,
descoberta at hoje, para a vi ol nci a. Parece-me claro ser a
tarefa bvia de todos os intelectuais contribuir para "esta"
revol uo pela substi tui o da f uno el i mi natr i a da vio-
l nci a pela f uno el i mi natr i a da r azo crtica. Para se tra-
balhar, por m, com vistas a este f i m, necessrio escrever
e falar constantemente numa linguagem clara e simples.
Todo pensamento se r formulado to clara e simples-
mente quanto possvel, o que s pode ser efetuado mediante
trabalho r duo.
39
3. Eu tenho sido h muitos anos cr ti co da assim cha-
mada "sociologia do conhecimento". No que eu pense que
tudo o que Mannhei m (e Scheler) disse esteja errado. Pelo
contr r i o, muito era apenas, tri vi al mente, verdadeiro demais.
O que eu combati, principalmente, foi a cr ena de Mannhei m
de que existia uma di ferena essencial, rel ati va objetividade,
entre q cientista social e o cientista natur al , ou entre o es-
tudo da sociedade e o estudo da natureza. tese que eu com-
bati foi a de que era fcil ser "objetivo" nas ci nci as natu-
rais, enquanto a objetividade s poderia ser obtida em ci nci as
sociais, se que fosse possvel, por poucos intelectos selecio-
nados, pela "i ntel i gnci a livremente equilibrada" que est
apenas "vagamente vinculada s tr adi es sociais"
r j
.
Por ser contra isto, eu enfatizei que a objetividade da
ci nci a natur al e social no est baseada num estatuto i m-
par ci al da mente dos cientistas, mas meramente no fato do
ca r te r pbl i co e competitivo -da empresa ci entfi ca e, isso,
em certos aspectos sociais dela. Ei s porque escrevi: "o que a
assim chamada "sociologia do conhecimento" negligencia ,
justamente, a sociologia do conhecimento o car ter pbl i -
co e social da ci nci a "
8
. A objetividade est baseada, em
suma, num "criticismo racional mt u o ", numa abordagem
cr ti ca, numa tr adi o cr ti ca B.
Os cientistas naturais no so mais objetivos do que os
cientistas sociais. Nem mais crti cos. Se h mais "objetivi-
dade" nas ci nci as naturais, e nt o porque existe uma me-
l hor tr adi o e padr es mais elevados de clareza e de cr i ti -
cismo racional. Na Al emanha, muitos cientistas sociais fo-
ram chamados de hegelianos, o que , na mi nha opi ni o, uma
tr adi o destruidora da i ntel i gnci a e do pensamento crti co.
Este um dos pontos em que eu concordo com K a r l Mar x,
que escreveu: "Em sua forma mistificadora, a di dti ca tor-
nou-se a moda al em consagrada"
1 0
. El a continua sendo a
moda al em.
i A posio de Mannheim; ela mais amplamente discutida no meu
A SociedadeAberta (vol. 2, p. 225).
s ThePovertyo/ Historicism., p. 155.
Qf. Conjectures and Refutations, especialmente o cap. IV.
io Karl Marx. O Capital, 2.
a
ed., 1972: "Postfcio" (chamado em algu-
mas edies posteriores, de "Prefcio segunda edio"). A traduo
no "mlstificante", mas "mistificada".
40
4. A expl i cao sociolgica deste fato simples. Todos
ns tomamos nossos valores, ou a maior parte deles, de nosso
ambiente social; f r eqentes vezes por mera i mi tao, simples-
mente por assumi-los de outros; por vezes, mediante uma
reao r evol uci onr i a contra valores aceitos; e, outras vezes,
embora tal seja raro pelo exame crti co destes valores e
das possveis alternativas. Pouco importando como isto se pas-
se, o clima social e i ntel ectual , a tr adi o em que se cresceu,
f r eqentemente decisivo para a moral e para outros pa-
dres e valores que al gum adote. Tudo isto mais do que
bvio. Um caso verdadeiramente especial, mas de i mpor t n-
cia fundamental para o. nosso pr opsi to, o dos valores i n-
telectuais.
H muitos anos, eu costumava prevenir meus alunos
quanto idia amplamente difundida de que al gum entra
na universidade a fi m de aprender como falar e escrever de
maneira impressionante e i ncompr eensvel . Naquela poca,
muitos estudantes vi nham universidade com esta i nte n o
ri dcul a, sobretudo na Al emanha. E a maioria destes estu-
dantes que, durante seus estudos uni ver si tr i os, ingressa
num clima intelectual que aceita tal gnero de val or ao,
talvez sob a i nf l unci a de professores os quais, por sua vez,
foram moldados num cl i ma semelhante est perdida.
Eles aprendem e aceitam inconscientemente que uma
linguagem altamente impressionante e difcil o valor inte-
lectual por excel nci a. Pi pouca esper ana de que eles ja-
mais venham a compreender que esto errados; ou que se
dem conta de que existem outros padr es e valores; valores
tais como verdade, a busca da verdade, a apr oxi mao ver-
dade por i nter mdi o da el i mi nao crti ca do erro, e clareza.
Nem descobr i r o que o pa dr o da incompreensibilidade
impressionante choca-se atualmente com os padr es da ver-
dade e do racionalismo cr ti co. Estes l ti mos valores depen-
dem de clareza. No se pode di sti ngui r verdade de falsidade,
41
n o se pode distinguir uma resposta adequada a um proble-
ma de uma irrelevante, no se pode di sti ngui r boas de ms
i di as, n o se pode avaliar cri ti camente as i di as, sem que se-
jam todas apresentadas com clareza suficiente. Mas enquan-
to tudo se fizer na admi r ao i mpl ci ta do bri l hanti smo e da
capacidade de impressionar, tudo isto (eu quero dizer tudo
mesmo) ser, "na melhor das hi pteses", um falar impressio-
nante, eles desconhecem qualquer outro valor.
Enquanto isto, surge o culto da no- i ntel i gi bi l i dade, e de
uma linguagem altissonante que impressione. Fato que foi i n-
tensificado (para os leigos) pelo f r mal i smo i mpe ne tr ve l e
impressionante da ma te mti ca . Eu suspeito que em algumas
das ci nci as sociais e das filosofias mais ambiciosas, e espe-
cialmente na Al emanha, o jogo tradi ci onal , que se tornou
em l arga escala um pa dr o inconsciente e inquestionado
de formular as maiores trivialidades em l i nguagem altisso-
nante. Se as que foram elaboradas com este tipo de al i men-
tao forem apresentadas em um l i vro escrito simplesmente
e que contenha algo de inesperado, controvertido ou novo
eles acham, usualmente, que difcil ou i mpossvel com-
preend-l o. Isto porque tal no conforme i di a que t m
de "compr eenso" que, para eles, supe concor dnci a Que
possam haver idias importantes merecedoras de compreen-
so, comas quais al gum possa concordar ou discordar -lhes
i ncompreensvel .
5. Aqui h, pri mei ra vista, uma di ferena entre as
ci nci as sociais e as ci nci as naturai s. Nas chamadas ci n-
cias sociais e filosofia, a degener ao para um verbalismo
impressionante, mais ou menos vazio, passou t a mbm para
as ci nci as naturais. Agora o perigo est-se tornando mai s
serio em toda parte. Mesmo entre os ma te mti cos pode-se dis-
ti ngui r uma tendnci a a impressionar as pessoas, embora o
incitamento a faz-lo seja menor na Ma te mti ca ; o desejo
de i mi tar os matemti cos e os fsicos ma te mti cos em ter*
42
mos tcni cos e em dificuldade que leva em parte, ao j a r g o
profissional em outras ci nci as.
Ai nda a falta de criatividade cr ti ca, isto , de i nventi -
vidade acrescida de acuidade cr ti ca, pode ser encontrada em
toda parte; e em toda parte isto leva ao f enmeno de jovens
cientistas vidos em acompanhar a l t i ma moda e o l ti mo
ja r g o. Estes cientistas "normai s" n aspiram a um modelo,
uma roti na, uma l i nguagem comum e exclusiva de sua espe-
cialidade. Mas o cientista "n o nor mal ", o ci enti sta ou-
sado, o cientista crti co que rompe a barrei ra da nor mal i -
dade, que abre as janelas e deixa entrar o ar fresco, que no
pensa sobre a i mpr esso que causa, mas que tenta ser bem
entendido.
O crescimento da ci nci a nor mal que est ligado ao cres-
cimento da Grande Ci nci a, tende a evitar ou mesmo a des-
trui r, o crescimento de conhecimento e da Grande Ci nci a em
geral. Eu vejo a si tuao como tr gi ca, se n o desesperadora,
a te ndnci a presente nas chamadas i nvesti gaes emp r i cas
na sociologia das ci nci as naturai s de contri bui r par a a de-
cadnci a da cincia. Superposto a esse perigo existe um ou-
tro perigo, criado pela Gr ande Ci nci a: sua necessidade ur-
gente de tcni cos ci entfi cos. Cada vez mais candidatos ao
PhD. recebem um treino meramente tcni co, um trei namen-
to em certas tcni cas cie me nsur a o; eles n o so iniciados
na tr adi o ci entfi ca, na tr a di o cr ti ca da f or mul ao de
problemas, de serem tentados e guiados antes pelos enigmas
grandiosos e aparentemente i nsol vei s do que pela sol uo
de pequenos quebr a- cabeas.
De fato, estes tcni cos, estes especialistas esto normal -
mente cnscios de suas l i mi taes. Eles se chamam de espe-
11 O fenmeno de cincia normal foi descoberto, mas no criticado, por
Thomas Kuhn em "A estrutura das revolues cientficas". Kulro se
equivoca, creio, ao pensar que a cincia "normal" o no somente hoje,
mas que sempre o tenha sido. Pelo contrrio, no passado at 1939
cincia foi quase sempre critica, ou "extraordinria", no havia
"rotina" cientifica.
43
cialistas e rejeitam toda pr etenso a autoridade fora de suas
especialidades. Eles o fazem, no entanto, de uma forma alta-
mente orgulhosa e proclamam esta especializao como uma
necessidade. Isto significa porm ir de encontro aos fatos que
demonstram resultar os grandes avanos ainda dos que pos-
suem um nvel de interesse mais modesto.
Se a maioria dos especialistas se l i mi tar a adotar uma
atitude de "mostrar servio", ser o fi m da ci nci a tal como
a conhecemos da grande cincia. Ser uma catstr of e es-
pi r i tual comparvel , em suas conseqnci as, ao armamento
nuclear.
6. Passo agora ao meu tpico pri nci pal . Alguns dos fa-
mosos lderes da sociologia al em, que fazem o melhor que
podem intelectualmente, e o fazem com a melhor consci n-
ci a do mundo, falam, segundo creio, nada mais nada menos
do que trivialidadcs em linguagem altissonante, como se eles
fossem amestrados. Eles ensinam isto a seus estudantes, que
ficam insatisfeitos em ter de fazer o mesmo. De fato, o sen-
timento genu no e generalizado de i nsati sfao, manifesto
na hostilidade contra a sociedade em que vivem, , penso, um
reflexo da i nsati sfao inconsciente com a esterilidade de
suas pr pr i as atividades. Darei um breve exemplo, a partir
dos escritos do Professor Adorno. O exemplo foi escolhido,
pelo Professor Habermas, que comea com ele sua pri mei ra
contr i bui o ao "Der Positivismusstreit". esquerda eu apre-
sento o texto al emo original, no centro tal como est tra-
duzido para o ingls e, direita, uma par f r ase, em l i ngua-
gem comum, do que parece ter sido dito (Quadro 1)
1 2
.
12 N.a publicao original deste artigo nos "Archives europennes de So-
ciologie" as trs colunas continham, respectivamente, o original alemo,
uma parfrase em alemo coloquial do que parecia ter sido afirmado
e uma traduo desta parfrase em ingls. A edio inglesa publica
parfrase j em ingls e, alm dela, um resumo crtico.
44
- d
c
(D
i - ri L ca
o o j ^
w c o ?
CD v-i W
fi
ri
S <D
c! , d o c3 K
^ 3 o
CJ TU t-i O)
L, C M
' S bo o
03 ^ ~
-c3
w O cp
<; t
ft.ri
rt
3
? 2
Ci
3 . 2>- 2
Ti C
H T J - H
o
o cu
cs "O
2- d
cci
5
~ cs -iJ
tu O <u
w <u
0 ' g CO
o CD A
mi
^ ri *( D O
W M >-,
d
" 8
o o. w
.2
C 'cu CU
d >-. >
'3 h !
d) p, >-, c
^-ri-p
o >
< CD
, a E
3 o w
] "
j CD!*>
r! t' C
) i ^ c
) ri p
r-. ai t.
ri <"
"5""
n ri i-i
3 ci o
w >"0
eu C
C S
cu E rt
- > , Q ri
I-I 2
CU >J
a (A
t
S
'3
>
o
G r,
0) ( D
cd
P c
c
cj CU a>
S r "O
B c
<" cu -o
d Si
a
cu
, -a
cu
c g
U > TH cu "d
? 3
3 cu t/j
.c;
55
d
C
r i <
ui Pj c
1
ri' A
O !
o bo o ;
111?
O D.
o cu
D. M
tf
d ^
3 ^ S
3 d CU .
^3 o u P-,
' o a * ;
6 '
3
o.
m o w
d -O o
ct ^
w UJ ri
>?ri c
ra to o "
d c
c
!" w S
ou 5 cu
^ 5 3
60 . , (*4
ri
ri o
cu" bfl
g ri c
ri bo w
d c
S u o
" CJ ( HS
ri ri cu
OJ - -d ri 5
t -tJ cu
ri c , H
^ .2 cs "S E
CO
xn p cu
c
S P
DCJ C
? r i '
ri^
3.&t d
N CU
d It t) r i
ti i-. h h
cu rj C
U TI CU
ri
CD
13
o
o W
P. .
_ o' '
ca "O -cts
a c
c H
M Cu
ciS o
-a w
CO 13
o
,ic
o
c3
fio J
^ ri
W c
rt
^CJ W Cd
r
1
O TJ
CD "H
, CD
' CO
CD
Cf
J5 o
I O
o P
Q, CD
O TJ
a o
rt TI
O
CD
CD
P,
<U CD
6
o
OJ.:
45
1
7. Por razes como esta que jul go to difcil discutir
qualquer problema srio com o Professor Habermas. Eu es-
tou certo de que ele perfeitamente sincero, mas penso que
i gnor a como formular as coisas simples, clara e modesta-
mente em vez de "impressionantemente". A maior parte do
que ele diz parece-me tr i vi al ; o resto parece-me errado.
Tanto quanto eu posso compr eend- l o, a seguinte a sua
objeo fundamental aos meus pontos de vista. Meu modo de
teorizar, sugere Habermas, viola o "pr i nc pi o da identidade
de teoria e pr ti ca"; talvez porque digo que a teoria poderia
ajudar a ao, isto , poderia ajudar-nos a modificar nossas
aes. Por isso disse que a tarefa das ci nci as sociais tericas
de tentar antecipar as conseqnci as n o intencionais de
nossas aes; mas estabelecendo uma di f er ena entre esta ta-
refa e a ao. Mas o Professor Habermas parece pensar que
somente quem seja um crti co pr ti co da sociedade existen-
te pode produzir argumentos teri cos srios sobre a socie-
dade, uma vez que o conhecimento social no pode ser di-
vorciado das atitudes sociais fundamentais. A i ndependnci a
desta viso da "sociologia do conhecimento" bvia e no
necessita ser elaborada.
Mi nha rplica bem simples. Eu acho que ns devera-
mos aceitar qualquer sugesto sobre como solucionar nossos
problemas, sem levar em consi der ao a atitude quanto so-
ciedade do homem que as faz; supondo-se que ele tenha sido
preparado a exprimir-se cl ara e simplesmente de forma a
poder ser entendido e julgado e que ele esteja consciente
de nossa i gnornci a fundamental e de nossas responsabili-
dades com relao aos demais. Decerto, n o penso que o de-
bate acerca de reforma da sociedade deveria ser reservado
quel es que primeiramente apelaram a serem reconhecidos
como revolucionrios prti cos e que vem a ni ca funo do
i ntel ectual revolucionrio em precisar t o bem quanto pos-
svel o que repulsivo na nossa vida social (com exceo de
seus prpri os papis sociais).
46
Pode ser que os revolucionrios tenham uma mai or sen-
sibilidade pelos males sociais do que outras pessoas. Obvi a-
mente, por m, podem ocorrer revolues melhores e piores
(como ns conhecemos todos da Hi stri a) e o problema con-
siste em no faz-las demasiado mal . A mai ori a das revol u-
es, se n o todas, produziram sociedades mui to diferentes
das que almejavam os revolucionrios. A que est o proble-
ma que absorve a reflexo de toda a cr ti ca sr i a da socie-
dade. Isto i ncl ui r i a um esforo por colocar as i di as de um
pensador em linguagem simples e modesta em vez de um jar-
go altissonante. Este um esforo que os afortunados ca-
pazes de se dedicar ao estudo devem sociedade.
8. Uma l ti ma palavra a propsi to do termo "posi ti -
vismo". Eu no nego, decerto, a possibilidade de estender o
termo "positivista" at que ele abranja todos os que tenham
al gum interesse pelas cincias naturais, de forma que venha
a ser aplicado at aos adversrios do positivismo, como eu
prpri o. Sustento apenas que tal procedimento nao nem
honesto nem apto a esclarecer o assunto.
O fato de que o rtul o "positivismo" me tenha sido apos-
to a pri ori por um erro grosseiro pode ser verificado por qual -
quer' um que esteja em condies de ler a mi nha Lgica da
Pesquisa Cientfica. Para mencionar apenas um caso, u ma
das v ti mas dos dois pseudortul os, "positivismo" e "Der Po-
sitivismusstreit" o Dr . Alfred Schmidt, que descreveu a si
mesmo como "colaborador de longa data" ( l a ngjhr i ge r Mi -
tarbeiter) dos Professores Adorno e Horkhei mer. Em uma
carta ao jor nal "Die Zeit" 1
3
, escrita para defender Ador no
contra a i nsi nuao de que ele uti l i zava mal o termo "posi-
ti vi smo" no Der Positivismusstreit ou em ocasies si mi l ares,
Schmidt caracteriza "positivismo" como uma l i nha de pen-
samento, na qual "o mtodo das vr i as ci nci as setoriais
tomado, de forma absoluta, como o ni co mtodo vl i do de
13 12 de junho de 1910, p. 45.
47
conhecimento" e o i denti fi ca, corretamente, com uma nfase
acentuada dos "fatos de te r mi nve i s sensorialmente". Ele no
est claramente ciente do fato de que meu pretenso "positi-
vismo", que foi uti l i zado para dar o nome ao livro Der Posi-
tivismusstreit, consiste numa l uta contra tudo o que ele des-
creve (na mi nha opi ni o, de forma honestamente correta)
como "posi ti vi smo". Eu sempre l utei pelo direito de operar
livremente com teorias especulativas, contra a estreiteza das
teorias "ci enti fi ci stas" do conhecimento e, especialmente
contra todas as formas de empirismo sensualista.
Eu l utei contra a i mi ta o das ci nci as naturais pelas
ci nci as sociais e pelo ponto de vi sta de que a epistemologia
positivista i nadequada a t mesmo em sua anl i se das cin-
cias naturai s as quais, de fato, no so "general i zaes cui -
dadosas da obser vao", como se cr usualmente, mas so
essencialmente especulativas e ousadas; al m disso eu pen-
sei, por mais de 38 anos w q u e todas as observaes esto
"impregnadas de teor i a" e que sua f uno principal de
verificar e refutar, mai s do que provar nossas teorias. Enfi m
nao contestei somente a si gni f i cnci a das asseres metaf-
sicas e o fato de que eu pr pr i o seja um realista metafsi co,
mas analisei t a mb m o i mportante papel hi stri co desempe-
nhado pela metaf si ca na f or mao das teorias cientficas
Ni ngum, antes de Ador no e Habermas, descrevera tais pon-
tos de vista como positivistas e eu s posso supor que ambos
nao conhecem, ori gi nal mente, que eu sustentei estes pontos
de vista. (Na realidade, eu suspeito que eles no estavam i n-
teressados nas mi nhas i di as tanto auanto estou interessado
nas deles).
Seria pior consignar aqui a suge st o de aue auem quer
que se interesse pelas ci nci as naturai s estaria condenado
como positivista, o que fari a positivistas no somente Mar x
e Engels, mas i gual mente Leni n, o homem que introduziu a
equao do "posi ti vi smo" e "r e a o". Terminologia importa
pouco, no entanto. No deveria, por m, ser utilizada como
argumento"; e o t tul o de um livro no deve ser desonesto
nem pode servir a preconceber uma sa da.
Eu j o fizera, embora brevemente, na comunicao impressa no vo-
lume original (ver, em especial, a 17." tese)
lm
Pressa no vo-
Cf. meu livro, A Lgica da Pesquisa Cientifica, novo apndice i.
48
Quanto diferena substancial entre a escola de Fr ank-
furt e eu mesmo revoluo versus reforma gradati va
n o farei comentri o algum aqui, uma vez que tratei deste
assunto da melhor maneira que pude na "Sociedade Aberta".
Hans Albert tambm disse coisas mui to incisivas sobre este
tpi co, na sua rplica a Habermas no Der Positivismusstreit
e em seu importante livro Tratado da Razo Crtica ie.
Tr aduo de Estevo de Rezende Mar ti ns, do original
Reason or Revolution? i n. : The Positivist Dispute in
German Sociology. London, Hei nneman Educati onal
Books Ltd. , 1976.
iu H. Albert Tratakt iiber kritische Vernunft (Tbingen, Mohr, 1969).
49
A RACIONALIDADE DAS REVOLUES
CIENT FICAS
O t tul o desta srie de conf er nci as de S P ENCER, "Pr o-
gressos e Obstcul os ao Progresso nas Ci nci as", foi escolhi-
do pelos organizadores da srie. O t tul o me parece i mpl i car
em que o progresso na ci nci a seja uma boa coisa, e em que
um obstcul o ao progresso seja uma coisa r ui m; uma po-
sio manti da por quase todos, a t recentemente. Tal vez
eu deva esclarecer, imediatamente, que aceito esta posi-
o, embora com algumas reservas leves e razoavelmente
bvias a que deverei al udi r mais tarde. claro que obst-
culos, que so devidos dificuldade inerente dos problemas
manejados, so desafios bem-vindos. (De fato, mui tos cientis-
tas estavam grandemente desapontados quando notou-se que
o problema do esvaziamento da energia nucl ear era, compa-
ravelmente, tr i vi al , n o envolvendo nova mu d a n a revolu-
ci onr i a de teoria). Mas a e sta gna o na ci nci a ser i a uma
praga. Assi m mesmo, eu concordo com a sugesto do Pr o-
fessor BODMER de que o avano ci entf i co apenas um be-
nefcio confuso i. Encaremos i sto: benefci os so confusos
com algumas excees extraordinariamente raras.
Mi nha confernci a ser di vi di da em duas partes. A pr i -
mei ra parte (sees I a VIII) referente ao progresso na
1 Ver, na presente srie das Conferncias de HER BER T SPEN CER , a
observao conclusiva da contribuio do Professor W. P. BO DMER . Mi -
nhas prprias apreenses concernentes ao avano cientfico e estagna-
o surgem, principalmente do esprito mudado da cincia e do cresci-
mento desenfreado da "Poderosa Cincia" que pe em perigo a grande
cincia. (Ver seo IX desta conferncia). A Biologia parece ter esca-
pado deste perigo at agora, mas no, claro, dos perigos, intimamente
ligados, da aplicao em larga escala.
50
ci nci a, e a segunda (sees IX a XI V) a alguns obstcul os
sociais d o progresso. . . . . .
Rememorando HERBERT SPENCER, eu discutirei o pro-
gresso na ci nci a amplamente por um ponto e vista revo-
lucionrio; mais precisamente, de um ponto de vista da teo-
r i a da sel eo natural. Apenas o fi m da pri mei ra parte (isto
, seo VI I I ) , ser gasto na di scusso do progresso na ci n-
cia de um ponto e vista lgico, e na proposi o de dois cri-
trios racionais do progresso na ci nci a, que sero necess-
rios na segunda parte da mi nha expl anao.
Na segunda parte, eu discutirei uns poucos obstcul os
ao progresso na cincia, mais especialmente obstcul os ideo-
lgicos; e terminarei (sees XI e XI V) por discutir a di sti n-
o entre, de um lado, revolues cientficas que so objeto
dos cr i tr i os racionais do progresso e, de outro l ado; revolu-
es ideolgicas que so, apenas, raramente defensvei s r a-
cionalmente. Pareceu-me ter sido esta di sti no suficientemen-
te interessante para chamar mi nha conf er nci a de "A Raci o-
nalidade das Revolues Ci entfi cas". A nfase aqui, claro,
deve ser dada palavra "ci entf i cas".
I
Dirijo-me, agora, ao progresso na ci nci a. Estarei obser-
vando b progresso na cincia de um ponto de vista biolgico
e evolutivo. Estou longe de sugerir que este o ponto de vis-
ta mais importante para o exame do progresso na ci nci a.
Por m a abordagem biolgica oferece uma maneira conve-
niente de introduzir as duas idias guias da primeira metade
de mi nha al ocuo. So as i di as de instruo e de seleo.
De um ponto de vista biolgico e evolutivo, a cincia,_ ou
o progresso na cincia, pode ser considerada como um ins-
trumento usado pela espcie humana para se adaptar ao am-
biente, para invadir novos nichos ambientais, e at para i n-
ventar novos nichos ambientais
2
. Isto conduz ao problema
seguinte.
2 A formao ds protenas das membranas, dos primeiros virus,_ e das
clulas, podem, talvez, ter estado entre as mais antigas invenes dos
novos'nichos ambientais, embora seja possvel que outros nichos am-
bientais (talvez cadeias de enzimas inventadas por diferentes gens puros)
tenham sido inventados at antes.
51
Podemos distinguir entre tr s nveis de a da pt a o: adap-
tao genti ca; aprendizagem do comportamento adaptvel -
e a descoberta ci entfi ca, que um caso especial de aprendi-
zagem do comportamento adaptvel . Meu maior problema
nesta parte da mi nha al ocuo ser investigar as semelhan-
as e di ferenas entre as estr atgi as de progresso ou adapta-
o ao nvel cientfico e quel es dois outros nvei s. O nvel
genti co e o nvel de comportamento. E compararei os tr s
nveis de adaptao ao investigar o papel desempenhado pela
instruo e pela seleo, sobre cada nvel .
II
Para no conduzi-los vendados ao resultado desta com-
par ao, anteciparei, de imediato, mi nha tese pri nci pal . uma
tese declarando a semel hana fundamental dos tr s nveis,
como se segue.
Em todos os tr s nveis adaptao genti ca, compor-
tamento adaptvel e descoberta cientfica o mecanismo de
adaptao fundamentalmente o mesmo.
Isto pode ser explicado em alguns detalhes.
A adaptao comea de uma estrutura herdada que b-
sica para todos os tr s nvei s: a estrutura gentica do orga-
nismo. A ela corresponde, ao nvel de comportamento, o re-
pertri o inato dos tipos de comportamento que so di spon-
veis ao organismo; e no nvel cientfico, as teorias ou conje-
turas cientficas dominantes. Estas estruturas so sempre
transmitidas pela instruo, em todos os tr s nvei s: pela r -
plica da i nstr uo genti ca codificada aos nveis genti cos
e de comportamento; e pela i mi tao e tr adi o social nos
nveis cientficos e de comportamento. Em todos os tr s n -
veis, a instruo vem de dentro da estrutura, ao invs de
e fora; do ambiente.
Estas estruturas herdadas so expostas a certas presses,-
ou desafios, ou problemas: a presses de seleo; a desafios
ambientais; a problemas teri cos. Em resposta, vari aes das
instrues herdadas, genti ca ou tradicionalmente, so pro-
52
duzi das 3 por mtodos que esto, ao menos parcialmente, ao
acaso. Ao n vel genti co, estas so mu t a e s e recombina-
es4 da i n st r u o codificada; ao n vel de comportamento,
so var i aes e recombi naes experimentais por entre o re-
pe r t r i o; ao "nvel ci entfi co so teorias experimentais novas
e r evol uci onr i as. Em todos os tr s n vei s, conseguimos ins-
t r u e s processuais experimentais ou, resumidamente, pro-
cessos experimentais.
i mportante que estes processos experimentais sejam
mu d a n a s que se ori gi nem por dentro da estrutura i ndi vi -
dual em um estilo, mais ou menos fortui to, em todos os
t r s n vei s. A opi ni o de que n o sejam devidos i nstr u o
externa, do ambiente, "sustentada (apenas fracamente)
pelo fato de que organismos mui to semelhantes podem res-
ponder, de vez em quando, sob mui tas formas diferentes, ao
mesmo novo desafio ambi ental .
O pr xi mo estgi o da seleo das mu t a e s e vari aes
di spon vei s; aquele-dos novos processos experimentais que
se so mal adaptados, so eliminados. Este o estagio da
eliminao do erro. Apenas as i nstr u e s processuais mais ou
menos bem adaptadas sobrevivem e so herdadas por sua
vez; Logo, podemos falar de adaptao pelo "mtodo de^en-
saio e erro", ou melhor, pelo "mtodo de exper i mentao e
e l i mi na o do erro". A el i mi nao do erro, ou de i nstr ues
processuais mal adaptadas t a mb m chamada de "sel eo
na tur a l "; uma espcie de "r e a l i me n t a o negativa". Opera
em todos os tr s nvei s.
Deve-se notar que, geralmente, nenhum estado de equi-
lbrio da adaptao a l ca n a do por qualquer apl i cao
do mtodo de e xpe r i me nta o e el i mi nao do erro, ou por
sel eo natur al . Em pri mei ro l ugar, por que nenhuma solu-
o processual perfeita ou t i ma para um problema e pro-
vvel de ser oferecida; em segundo l ugar e isto mais
i mportante por que a e me r gnci a de novas estruturas, ou
3 f ,im oroblema em aberto e pode-se falar nestes termos ( em resposta
sob o' n vel gentico (comparar minha conjectura sobre "mutaes
reacionrias na seo V). Contudo se no houvessem variaes, nac.po-
deria haver adaptao ou evoluo; e, logo, podemos dizer que a ocor-
rncia lt mutaes controlada, parcialmente, pela necessidade deles,
mi funciona como se assim fosse.
Quando falo, nesta conferncia, por causa da brev dade, de "mu ao ,
a posSoilidade de recombinao est, lgico, tacitamente, includa.
53
de novas i nstr ues, envolve uma mu d a n a na si tuao am
biental Novos elementos do meio ambiente podem se" tornar
relevantes e, em conseqnci a, novas presses, novos desa
fios, novos problemas podem aparecer, como um resultado
das mudanas estruturais que tenham surgido de dentro r>
organismo.
u o
Ao nvel genti co, a mu d a n a pode ser uma muta o de
um gnero, com a conseqente mu d a n a de um enzima Ago
ra a cadeia de enzimas forma o ambiente mais nti mo da
estrutura genti ca. Conseqentemente, haver uma mudan-
a neste ambiente nti mo; e com isso, podero surgir novas
relaes entre o organismo e o mais remoto meio ambiente-
e mais al m, novas presses seletivas.
O mesmo acontece ao nvel de comportamento- a ado-
o experimental de uma nova conjetura ou teoria pode so-
lucionar um ou dois problemas, mas isto introduz, i nvar i -
ve mente, muitos problemas novos, pois uma nova teoria re-
volucionaria funciona exatamente como um novo e poderoso
orgao sensitivo. Se o progresso for significante, ento os no-
vos problemas diferiro dos velhos problemas; os novos pro-
? f Z
S
t
S
T
a
f '
a 0 e n
Y
i m n V G l d e
P r o b i d a d e radicalmente
Me ente. Isto^conteccu, por exemplo, na relatividade, acon-
teceu em mecni ca quantitativa, e acontece agora, bastante
dramaticamente, em biologia molecular. Em cada m desses
casos novos horizontes de problemas inesperados foram aber-
tos pela nova teoria.
Esta a forma, eu sugiro, pela qual a cincia progride
n o s s o
P^gresso pode melhor ser aquilatado ao comparar-
mos nossos velhos problemas com nossos novos Se o progres-
so que tem sido feito for grande, ento os novos prSK
seiao de um car ter nao antes sonhado. Exi sti ro problemas
mais profundos; e al m disso, exi sti ro em maior E
Quanto maior for o progresso em conhecimento mais d a a
mente discerniremos a vasti do de nossa i gnor nci a 5
Sumanzarei, agora, mi nha tese.
tiPn ^
t o d o s
s t r s n v e i s
que estou considerando, o gen-
tico, o compor t ament al e o cientfico, estamos operando c om
molecular.
e x e m
P
J 0
< ^ revoluo surpreendente trazida pela biologia
54
estruturas herdadas que so passadas adi ante pel a i n st r u o ;
seja atr avs do cdigo genti co ou a t r a v s da t r a d i o . Em
todos os trs nveis, surgem novas estruturas e novas i ns-
tr ues por mudanas processuais de dentro da estrutura,
por processos seleo natur al ou e l i mi n a o do erro.
I I I
At agora, eu salientei se me l ha n a s no trabal ho do
mecanismo adaptvel nos tr s n ve i s. Isto l evanta um pro-
blema bvio: o que dizer das di f e r e n a s?
A di ferena pri nci pal entre os n ve i s genti co e de com-
portamento esta. As muta e s no. n vel genti co so n o
apenas casuais, como "cegas", em dois senti dos
6
. Em pr i -
meiro lugar, elas no so, de manei r a al guma, di ri gi das por
metas. m segundo lugar, a sobr e vi vnci a de uma mu t a o
n o pode i nfl ui r nas mutaes ul teri ores, ne m mesmo nas
freqnci as ou probabilidades de sua ocor r nci a ; embora, re-
conhecidamente, a sobrevivncia de u ma mu t a o possa so-
breviver em casos futuros. Ao n vel de comportamento, os
processos tambm so, mais ou menos, casuais, mas n o so
mais completamente cegos em qual quer dos dois sentidos
mencionados. Em primeiro l ugar , eles so di ri gi dos por me-
tas; e, em segundo lugar, os ani mai s podem aprender com
as conseqnci as de um processo; eles podem aprender a evi-
tar o tipo de comportamento processual que l evou a um fra-
casso. (Podem at evit-lo nos casos em que poderi a ter su-
cesso). Semelhantemente, t a mb m podem aprender com o
sucesso; e o comportamento bem sucedido, pode ser repetido,
a t em casos aos quais ele n o adequado. Todavi a, um cer-
to grau de "cegueira" inerente a todos os processos
6 Para o uso do termo "cego" (especialmente no Segundo) ver D. T.
CA MPBELL, "Sugestes metodolgicas de uma psicologia comparada dos
processos de conhecimento", I N QUI R Y 2, 152-182 (1959); "Variao cega
e reteno seletiva no pensamento criativo como em outros processos de
conhecimento", PSYCHO L. Rev. 67, pp. 380-400 (1960); e "Epistemologia
evolucionria", em A Filosofia de KARL POPPER. Biblioteca dos fi-
lsofos vivos (ed. P. A. SCHI LPP) pp. 413-463, THE O PEN COTJRT PU-
BLI SHI N G COMPANY, LA SA LLE, I LLI N O I S (1974).
7 Enquanto a cegueira das experimentaes relativa ao que temos des-
cobertonopassado, a casualidade relativa a um conjunto de elementos
(que formam o "espao amostra"). Ao n vel gentico, estes "elementos"
so as quatro bases nucletidas; ao nvel de comportamento, elas so
55
A a d a pt a o do comportamento , geralmente, um pro-
cesso intensamente ativo; o animal especialmente o ani-
ma l jovem em jogo e at a planta, esto investigando, ati-
vamente, o meio ambiente 8.
Esta atividade que programada, larga e geneticamente,
parece-me marcar uma diferena importante entre o nvel ge-
nti co e o n vel de comportamento. Posso me referir aqui
exper i nci a que os psiclogos "gestaltianos" chamam de
" I N S I G H T " : uma experincia que acompanha muitas des-
cobertas em r el ao ao meio ambiente 9. Contudo, no deve
ser omi ti do que, mesmo um descoberta acompanhada de
constituintes do repertrio de comportamento do organismo. Estas cons-
tituintes podem assumir pesos diferentes com respeito s diferentes ne-
cessidades de metas, e podem ter seus pesos mudados atravs de expe-
rincias (diminuindo o-grau de "cegueira").
8 Sobre a importncia da participao ativa, ver R. HELO e A. HEI N
"Simulao produzida por movimento no desenvolvimento do comporta-
mento visualmente guiado". J. COMP. PHYSI OL. PSYCHO L. 56 pp 872
876 (1963); J. C. ECCLES, "Enfrentando a realidade", pp 66-67. ati-
vidade , ao menos parcialmente, uma das hipteses produtoras: ver J.
KR ECHEVSKY, "Hiptese versus oportunidade no perodo de pr-solu-
o no sensvel aprendizado de discriminao" UNIV. CA LI F . PUBL
PSYCHO L. 6, pp. 27-44 (1932) (republicado cm "Solucionando o pro-
blema animal" (cd. A. J. RI OPELLE) pp. 183-197, PEN GUTN BO O KS
HA R MO N O SWO R TH (1967).
9 Posso, talvez, mencionar aqui algumas das diferenas entre minhas opi-
nies e as da escola de GESTA LT. ( claro, aceito o fato da percepo
de GESTA LT; s estou em dvida sobre o que pode ser chamado de
filosofia de GESTA LT.)
Conjeturo que a unidade, ou a articulao, da percepo mais in-
timamente dependente dos sistemas de controle motor e dos sistemas
aferentes neurais do crebro do que de sistemas afcrentes: que inti-
mamente dependente do repertrio de comportamento do organismo.
Conjeturo que uma aranha ou um rato nunca possuiro "INSIGHT"
(como possui o smio de KO HLER ) quanto unidade possvel dos dois'
bastes que podem ser juntados, porque o manuseio de bastes daquele
tamanho no pertence ao seu repertrio de comportamento. Tudo isto
pode ser interpretadocomouma generalizaoda teoria das emoes de
JA MES-LA N GUE (1884; ver WI LLI AM JMES. Os princ pios cia Psi-
cologia, vol. II, pp. 449 (1890) MA CMI LLA N AND CO ., Londres) ex-
tendendo a teoria das nossas emoes s nossas percepes (especial-
mente s percepes gestaltistas) que, portanto, no nos seriam "dadas"
(como na teoria gestaltista) porm, mais propriamente, feitas por ns,
atravs de pistas decodificadoras (comparavelmente "dadas"). O fato de
mie as pistas possam conduzir erradamente (iluses ticas no homem;
iluses simuladas em animais, etc.) pode ser explicado pela necessidade
biolgica de ensanar nossas interpretaes de comportamento por pistas
altamente simplificadas. A conjetura de que nossa decodificao do que
os sentidos dizem, depende do que nosso repertrio de comportamento
possa_ explicar, parte do abismo que se encontra entre o homem e os
animais; pois atravs da evoluo da linguagem humana, nosso reper-
trio tem se tornado ilimitado. . .
"I NSI GHT" pode ser errada; todo processo, mesmo um com
"discernimento", de natureza da conjetura e da hi ptese.
Os smios de K OHL E R, isto ser lembrado, algumas vezes
atingem com "discernimento" o que se conduz ser uma ten-
tativa errada para solucionar seu problema; e at grandes
matemti cos so, algumas vezes, mal conduzidos pela i ntui -
o. Portanto, homens e ani mai s t m de submeter prova
as suas hi pteses; eles tm de usar o mtodo de experimen-
tao e el i mi nao do erro.
Por outro lado, concordo com K O H L E R e THORPE_io
que os processos de animais solucionadores de problemas n o
so, em geral, completamente cegos. S em casos extremos,
quando o problema que enfrenta o ani mal no permite a fei-
tura de hi pteses, o ani mal l a n a r m o de tentativas, mais
ou menos cegas e casuais, para safar-se de uma si tuao des-
concertante. Contudo, at nestas tentativas, a objetividade
por meta discernvel, usualmente, em franco contraste
casualidade cega das muta e s e r ecombi naes genti cas.
Uma outra diferena entre mu d a n a genti ca e mudana de
comportamento adaptvel de que a pri mei ra sempre esta-
belece uma rgi da e quase var i vel estrutura gentica. A l -
ti ma, reconhecidamente, conduz, algumas vezes, tambm a
um modelo de conduta razoavelmente rgi do que concor-
dante, dogmaticamente, radicalmente, como no caso de "gra-
vao" ( K ONRAD L ORE NZ) ; mas, em outros casos, conduz
a um' modelo flexvel que faz concesses diferenciao ou
modificao; por exemplo, pode conduzir a um comporta-
mento expl oratri o, ou ao que Pavlov chamou de "liberdade
de reflexo"
n
.
10 Ver W H THO R PE, Aprendizado e instinto nos animais, pp. 99,
METHTJEN, Londres (1956); edio de 1963 pp. 100-147; \V. KO HLER ,
A mentalidade dos simios (1925); edio PENGUTN BOOKS (1957),
n
P
Ver
1 6
I P. PA VLO V, Reflexos Condicionados, pp. 11-12, OXF OR D UN I -
VER SI TY PRESS (1927K Tendo em vista o que chama de "comporta-
mento exploratrio" e o, intimamente ligado, "comportamento da liber-
dade" ambos, bvio, baseados geneticamente e da significao
destes para a atividade cientfica, parece-me eme a conduta dos
"BEHAVI OURI STAS" que objetivam tomar olugar dovalor da liberdade
pelo que chamam de "reforo positivo", pode ser um sintoma de ma
hostilidade inconsciente cincia. Incidentalmente, oque B. F. SKI N N ER
(Alm da liberdade e da dignidade (1972) CA PE, Londres) chama de
"a histria da liberdade". no surgiu como um resultado de reforone-
gativo como ele sugere. Ela surgiu, mais propriamente, com ESQUI LO
E PlN DA R O comoum resultado das vitrias de Maratona e Salamis.
57
_ No n vel ci entfi co, as descobertas so r evol uci onr i as e
cri ati vas. De fato, uma certa cri ati vi dade pode ser atr i bu da
a todos os n vei s, a t ao nvel genti co; novos processos con-
duzi ndo a novos ambientes e, portanto, a novas presses de
sel eo, cr i am novos e r evol uci onr i os resultados em todos
os n vei s, mesmo que existam fortes t e ndnci a s conservado-
ras estabelecidas nos vri os mecanismos de i nstr u o.
A a d a pt a o genti ca pode, claro, tr abal har apenas
dentro do per odo de tempo de umas poucas ger aes no
m n i mo , digamos, uma ou duas ger aes. Em organismos que
se reproduzem rapidamente isto pode ser n u m curto perodo
de tempo; e, simplesmente, pode n o haver espao para a
a d a pt a o de comportamento. Organismos de r epr oduo
mai s l enta sao compelidos a i nventar a a d a pt a o de compor-
tamento pa r a ajustar-se s r pi da s mu d a n a s ambientais
Eles necessitam logo de um r eper tr i o de comportamento'
com tipos de comportamento de mai or ou menor latitude ou
alcance O r e pe r tr i o e a l ati tude dos tipos di sponvei s de
comportamento podem supor-se passvei s de serem progra-
mados geneticamente; e desde que, como i ndi cado, uma nova
espci e de comportamento possa ser citado envolvendo a es-
col ha cie um novo nicho ambi ental , novas espci es de com-
por l amento podem ser, de fato, geneticamente criativas pois
podem determi nar, por sua vez, novas presses de seleo e
desse modo deci di r indiretamente, sobre a evol uo futura
da estrutura ge nti ca 12.
v
12
nnv
t a
c
n t
' o.comportamento exploratrio e a soluo de problemas criam
a - r s z aarates ?i Ei
que uma certa latitude de comportamento tenha sido alcanada
mos inferiores, O U B ^ S S fflSVtT
- a iniciativa do organismo em selecionar sua colopia ou 'hihiKr"
toma a liderana, e a seleo natural, dentro de nosso ''habtat" ^om
l adres (1965) especialmente as continncias VI , V l e VI I I ondeso
feitas muitas referncias literatura mais antiga, de JA MES HO TTO N
fe-
0
*
6 1 1
,
e l
?
1 7 9 7 )
P
a r a d l a n t e
(ver p. 178) Ver tambm S
^ r ^ / ^ J "
5 0 0 e e s
P
c i e s
limais, THE HELKN A P PR ESS CAM
58
No nvel da descoberta ci ent f i ca, dois novos aspectos
emergem. O mais importante que teorias ci entfi cas podem
ser formuladas l i ngi sti camente, e podem a t ser publicadas.
Logo, tornam-se objetos fora de ns mesmos: objetos abertos
i nvesti gao. Como conseqnci a, esto agora abertos
crti ca. Portanto, podemos nos l i vr ar de uma teoria ma l ajus-
tada antes que a adoo da teoria nos torne incapacitados
a sobreviver; ao cri ti car nossas teorias podemos dei x-l as
morrer em nosso lugar. Isto, claro, imensamente i mpor-
tante.
O outro aspecto , t a mbm, l i gado l i nguagem. 35 uma
das inovaes da l i nguagem humana, o encorajar a na r r a o
de estrias, e, por conseguinte, a imaginao criativa. A des-
coberta cientfica semelhante na r r a o expl anatr i a de
estri as, feitura de mitos, e i ma gi na o poti ca. O cres-
cimento da i magi nao r eal a, claro, a necessidade de al -
gum controle, tais como, na ci nci a, a cr ti ca interpessoal
a amistosa cooperao hosti l entre os cientistas que basea-
da, parte na competi o e parte no objetivo comum de l ugar
perto da verdade. Isto, e o papel desempenhado pela i nstru-
o e pela tr adi o, parecem-me exaurir os principais elemen-
tos sociolgicos inerentemente envolvidos no progresso da
cincia; embora mui to mais pudesse ser dito sobre os obs-
tcul os sociais ao progresso, ou sobre os perigos sociais ine-
rentes ao progresso.
Tenho sugerido que o progresso na cincia, ou a desco-
berta cientfica, depende de instruo e seleo: de um ele-
mento conservador ou tr adi ci onal ou hi stri co, e de um uso
revol uci onri o de e xpe r i me nta o e el i mi nao de erro pela
crti ca, que i ncl ui severos testes ou exames empri cos; isto ,
tenta enquadrar, na medida do possvel, as fraquezas das
teorias, e tenta r ef ut- l as.
lgico que o cientista i ndi vi dual pode desejar estabe-
lecer sua teoria ao i nvs de r ef ut- l a. Mas do ponto de vi sta
nificao evolucionria o aprendizado, em VI DEN SK MEDDR DA N SK
N A TUR H. F O R EN . 134, pp. 89-102 (1971) (com uma bibliografia): e,
tambm minha primeira conferncia sobre HER BER T SPEN CER (1961)
agora em minha obra Conhecimento Oojetivo, CLA R EN DO N PR ESS,
O XF O R D (1972, 1973).
59
do progresso da cincia, este desejo pode, facilmente, desen-
cami nh- l o. Al m disso, se ele pr pr i o no exami nar cri ti ca-
mente sua teoria favorita, outros o f ar o por ele. Os ni cos
resultados que ser o por eles considerados como sustentado-
res da teoria ser o os fracassos das tentativas interessantes
para refut-l a; fracassos em encontrar contra-exemplos onde
tais contra-exemplos seriam mais esperados, l uz da melhor
das teorias concorrentes. Logo, n o preciso cr i ar um
grande obstcul o cincia se o ci enti sta i ndi vi dual for i ncl i -
nado a favorecer uma teoria de e sti ma o. Todavi a, penso
que CLAUDE BERNARD foi muito arguto quando escreveu:
"Aqueles que tm uma f excessiva em suas i di as no so
bem adeauados a fazer descobertas" 1
3
.
Tudo isto parte da abordagem cr ti ca ci nci a, em opo-
sio abordagem indutiva; ou parte da abordagem darwi -
ni ana ou el i mi natr i a ou seletiva, em oposi o abordagem
l amarcki ana, que trabalha com a i di a de "i n st r u o de fora"
ou do ambiente, enquanto a abordagem cr ti ca ou seletiva s
permite "i nstr ues de dentro" do i nteri or da pr pr i a es-
tr utur a.
Em verdade, eu argumento que no h tal coisa como a
instruo c fora da estrutura, ou a r ecepo passiva de um
fluxo de i nformao que afete nossos r gos sensitivos. To-
das as observaes so impregnadas de teorias; n o existe
observao pura, desinteressada, ou l i vre de teoria. (Para
comprovar isto, podemos tentar, usando um pouco de i ma-
gi nao, comparar a observao humana com a obser vao
de uma formiga ou de uma aranha).
PRANCI S BACON estava preocupado, acertadamente,
com o fato de que nossas teorias pudessem prejudi car nossas
observaes. Isto o levou a advertir os cientistas que eles de-
veri am evitar o preconceito, puri fi cando suas mentes de to-
das as
-
teorias. Receitas semelhantes so dadas a i n d a
1 4
. Po-
13 citado por JA CQUES HA DA MA R D, A psicologia do iiwenco no campo
matemtico, PR I N CETO N UN I VER SI TY PR ESS (1915),'c edio de
DO VER (1954) p. 48.
n Psiclogos do comportamento que estudam "linhas mais experimentais"
descobriram que alguns ratos albinos rendem mais que outros se o
experimentador for levado a acreditar (erradamente) que os ratos al-
binos pertencem a uma raa selecionada por sua maior^ inteligncia.
Ver: "O efeito das 'linhas mais experimentais' no desempenho do rato
albino", BEHA V. Sei. 8. pp. 183-189 (1963). A lio tirada pelos autores
60
rem para a l ca n a r a objetividade no podemos nos fiar na
mente vazi a; a objetividade repousa no criticismo, na discus-
so cr ti ca, e no exame crti co das exper i nci as E_ devemos
reconhecer, em particular, que nossos pr pr i os r gos sensi-
tivos i ncorporam o que correspondem aos preconceitos.
Sal i entei antes (na seo II) que as teorias so como os
r gos sensitivos. Agora quero salientar que nossos orgaos
sensitivos so como teorias. Eles incorporam teorias a d a pt -
veis (como tem sido demonstrado no caso de coelhos e ra-
tos) E estas teorias so o resultado de seleo natur al .
V
Contudo, nem mesmo DARWI N ou WAL L ACE , para n o
menci onar SPENCER, viram que no h i nstr uo de fora.
Eles n o trabal havam com raci ocni os puramente seletivos.
Em verdade, eles argumentavam, f r eqentemente sob o pl a-
no l amar cki anoi e. Nisto, eles pareciam ter errado Todavia
noderia ser l ucrati vo especular sobre possveis limites ao
K S s m o ; pois ns deveremos sempre estar em guarda
para as possvei s alternativas a qualquer teoria dommance.
Creio que dois pontos poderiam ser lembrados aqui
O pri mei ro que o argumento contra a he r a n a genti ca de
car acter sti cas^ adquiridas (como muti l aes d e g e l e
exi stnci a de u m mecanismo genti co ^ J ^ ^ t ^
di sti no razoavelmente precisa entre a estrutura
e a narte restante do organismo: a soma. Porem este meca
n i smo g e n t i c o deve, ele" pr pr i o, ser um produto tardi o da
ev
0
r
o e foi precedido, indubitavelmente, por vri os ou-
Lo mecani smosde uma espcie menos sofisticada. Alm dis-
O Conhecimento O beiuo. T1 A R . WI N em seus ltimos anos,
16 fi interessante notar que C ^ R ^ S DA R \ J T O . em seus A
acreditava na herana ocasional at das mutilaes.
V K 1
, j
lariao dos animais e plantas sob omesticaao, 2. edio, Vol. i,
pp. 468-410 (1815).
61
so, certos tipos muito especiais de muti l aes so herdados;
mais particularmente, muti l aes da estrutura genti ca por
r adi ao. Portanto, se considerarmos que o organismo pri -
meiro foi um gen nu ento podemos a t dizer que toda mu-
ti l ao no- l etal a este organismo seria herdada. O que no
podemos dizer que este fato contri bui , de alguma forma,
para uma expl i cao da adaptao genti ca, ou do aprendi-
zado genti co, exceto, indiretamente, cri a seleo natural.
O segundo ponto este. Podemos considerar a conjetu-
ra bastante experimental, na qual, como uma resposta so-
mti ca a certas presses ambientais, al gum agente qumi co,
que provoque muta o genti ca, produzido, aumentando o
que chamado de ndice espontneo de mutao. Isto seria
uma espcie de efeito semi-lamarckiano, muito embora a
adaptao ainda proceder-se-ia, apenas, pela el i mi nao de
mutaes, isto , por seleo -natural. claro, que no po-
deria existir muito de verdade nesta conjetura, pois, parece
que o ndi ce de mutao espontnea suficiente para a evo-
l uo a d a pt ve l
1 7
.
Estes dois pontos so citados aqui, meramente, como
um aviso contra uma adeso, muito dogmti ca, ao darwinis-
mo. lgico, eu fao conjecturas de que o darwinismo seja
correto, at no nvel da descoberta ci entfi ca; e que seja cor-
reto a t al m deste nvel, cogito que esteja certo at no n-
vel da cri ao ar tsti ca. No descobrimos fatos novos ou novos
efeitos copiando-os, ou deduzindo-os, por i nduo, da obser-
vao; ou por qualquer outro mtodo de i nstr uo pelo am-
biente. Usamos, mais propriamente, o mtodo de experimen-
tao e el i mi nao do erro. Como disse ERNST GOMBRI CH
"a feitura vem antes da co mpe t i o "
1 8
: a pr oduo ativa de
17 Mutaes especificas (agindo seletivamente, talvez em alguma particular
seqncia de "codons" mais do que em outras) no so conhecidas, eu
compreendo. Todavia, a existncia delas dificilmente seria surpreen-
dente nesse campo de surpresas; e elas poderiam explicar os "altos
focos" mutacionais. De qualquer forma, parece existir uma dificuldade
real em concluir, da ausncia de mutaes especificas conhecidas, a no
existncia delas. Logo, parece-me que o problema sugerido no texto
(a possibilidade de reao a certas presses por parte da produo de
mutaes) est ainda em aberto.
is ER N ST GO MBR I CH, Arte e iluso (1960) e edies mais recentes (Ver
o ndice sobre "feitura e equiparao").
62
uma nova estrutura processual vem antes de sua exposi o
aos testes el i mi natr i os.
VI
Sugi ro, por conseguinte, que imaginemos o cami nhoi do
p r o g ^ o d ^ i e n c i a algo na l i nha d
mmm^m
^ a ^ C u ^ T S M f d S S S S , a o st
^ ^ ^ ^ ^ ^
SR n t t a conexl o se refere a K I E R K E G A A R D e a
^
C
^
S
s t a o , concuo mi n ha di scusso dos aspee-
tos bi ol gi cos do progresso na ci nci a.
VI I
Tntr ni do pelas teorias cosmol gi cas da evol uo de
H E R B E R T S P ENCER, tentarei, agora, delinear a si gmfi ca-
V e r ^ A I JER N E, "A teoria ^^i^aVS^^
anti-corpos"; dez anos mais tarde em B enolrse _e ^ ^
logia molecular (ed I CA I R N S) pp. uw> ^ r 0 C . N A TN . A CA D.
da seleo natural da formao de antl-corpos *r . MT.CRO-
I cl 41, 849-857 (1955): "Especulaes }^ },%
l
^ ^ .AU. 229, 52-60.
BI L. 14. 341-348 (W60): "O sistema i ^ e ^ I E n t ^ t e o r l a
63
o cosmol gi ca do contraste entre instruo de dentro da
estrutura e seleo e fora, veta eliminao de processos ex-
perimentais.
Para este fim, podemos notar, em primeiro lugar, a pre-
sena na cl ul a, da estrutura genti ca da i nstr uo codifica-
da, das vr i as subestr utur s qumi cas 20; a l ti ma, em casual
movimento browniano. O processo de i nstr uo pelo qual o
gen se reproduz acontece da seguinte forma. As vr i as subes-
t r u t u r s so transportadas (pelo movimento browniano) pa-
ra o gen, de forma casual, e aqueles que no se adaptam, fra-
cassam em se ligar estrutura do DNA; enquanto aqueles
que se adequam, ligam-se (com a ajuda das
:
enzi mas) . Por
este processo de experi mentao e seleo 21, uma espcie de
negativo fotogrfico ou complemento da i nstr uo genti ca
formada. Mai s tarde, este complemento se separa da ins-
tr uo ori gi nal ; e por um processo anl ogo, forma, novamen-
te, seu negativo. Este negativo do negativo torna-se uma c-
pi a i dnti ca da i nstr uo positiva ori gi nal 22.
20 O que chamo de "estruturas" c "subestr utur s" so chamados de "i n-
tegrons" por FRANOIS JA CO B A lgica dos sistemas vivos- uma his-
tria da hereitariedae, pp. 299-324, A L L E N LANE Londres (1974)
21 Algo poderia ser dito aqui sobre a ntima ligao entre o mtodo da
experimentao e da eliminao do erro e "seleo"; toda seleo uma
eliminao de erro; e o que resta _ depois da eliminao como
selecionado sao, meramente, aquelas experimentaes que no foram
elirriinadas at agora.
22 A principal diferena de um processo de reproduofotogrfica aquela
em que a molcula DNA no bidimensional, mas linear- um longo
cordo de quatro espcies de subestruturs (bases). Estas podem ser
representadas por manchas coloridas, ou vermelho, ou verde ou azul ou
amarelo. As quatro cores bsicas so os negativos por par (ou comple-
mentos) de cada outra. Ento, o negativo ou complemento de um cordo
consistiria de um cordono qual o vermelho seria substitudo peloverde
e o azul pelo amarelo, e vice-versa. Aqui as cores representam as quatro
letras (bases) que constituem o alfabeto do cdigo gentico Logo o
complemento do cordo original contm uma espcie de traduo 'da
I nformao original para outro, todavia intimamente ligado, o cdigo- e
o negativo deste negativo, contm, por sua vez, a I nformao original
declarada em termos do cdigo (gentico) original.
Esta situao utilizada na reproduo, quando, primeiro, um par
de cordes complementares se separam, e quando, em seguida, dois pares
so formados assim que cada cordo, seletivamente, liga-se a um novo
LSP ^
n t
^ ? resultado a reproduo desta estrutura original, por
intermdio de instruo. Um mtodo multo semelhante utilizado na
f / w
d
-
S d
u
a s
,
I l
i
n
e s
principais do gen (DNA): o controle, atravs
de instruo da sntese das protenas. Embora o mecanismo subjacente
' rif
S
5n
S
!
gUnd0
1
ir0
f
SSO e J
&,
m
,
a l s
complicado do que aquele da repro-
duo, semelhante, em princpio.
64
O processo seletivo subjacente r e pr odu o um meca-
nismo de r pi da apur ao. , - essenci al mente, o mesmo me-
canismo que trabal ha na mai ori a das i n st n ci a s da s ntese
qu mi ca, e ta mbm, especialmente, em processos como a cris-
tal i zao. Contudo, embora o mecanismo subjacente seja se-
letivo, e apure por processos casuais e pel a e l i mi na o do
erro, funciona como uma parte do que , cl aramente, mai s
um processo de i nstr uo do que de sel eo. Reconheci da-
mente, devido ao car ter fortuito dos movi mentos envol vi -
dos, os processos de competi o ser o efetuados a cada tempo,
de uma manei ra levemente diferente. Apesar disto, os resul -
tados so precisos e conservadores; os resultados so essen-
cialmente determinados pela estrutura or i gi nal .
Se procurarmos, agora, por processos si mi l ares em uma
escala csmi ca, um estranho quadro do mundo emerge, o que
oferece muitos problemas. um mundo dual i sta: um mundo
de estruturas em movimentos caoticamente di str i bu dos. As
estruturas pequenas (tais como as assim chamadas pa r t -
culas elementares) originam-se das estruturas mai ores; e
isto efetuado, principalmente, por movi mento cati co ou
casual das pequenas estruturas, sob condi es especiais de
pr esso e temperatura. As maiores estruturas podem ser to-
mos, mol cul as, cristais, organismos, estrelas, sistemas sola-
res, gal xi as e aglomerados gal ti cos. Mui tas dessas. estru-
turas parecem ter um aspecto de semeadura, como gotas de
g u a em uma nuvem, ou cristais em uma sol uo; isto quer
dizer que podem crescer e mul ti pl i car por i n st r u o , e po-
dem persistir ou desaparecer por sel eo. Al guns deles, tais
como os aperi di cos cristais DNA 23 que consti tuem a ^estru-
tur a genti ca de organismos e, com ele, suas i nst r u e s de
constr uo, so quase infinitamente raros e, talvez possamos
dizer, mui to preciosos.
Eu acho fascinante este dualismo; refiro-me ao estranho
quadro dual sti co de um mundo fsico consistindo de estru-
turas comparavelmente estveis ou processos bastantes es-
truturai s em todos os micro e ma cr om ve i s; e de subestru-
t u r s em todos os nveis, em movimento aparentemente ca-
tico ou randomicamente di str i bu do; um movimento casual
23 O termo "cristal aperidico" (algumas vezes tambm "slido aperldlco")
de SCHR O DI N GER ; ver seu trabalho O que a vida?, CA MBR I DGE
UN I VER SI TY PR ESS (1944); O que a vida? e Mente e Matria,
CA MBR I DGE UN I VER SI TY PR ESS, pp. 64 e 91 (1967).
65
que determina parte do mecanismo pelo qual essas estrutu-
ras e su be st r u t u r s so sustentadas, e pelo qual , elas podem
semear por meio de i nstr uo; e crescer e se mul ti pl i car por
meio de sel eo e de i nstr uo. Este fascinante quadro dua-
l sti co compat vel com o, contudo totalmente diverso, bem
conhecido quadro dual sti co do mundo como i ndeter mi nsti co
no pequeno indeterminismo correspondente mecni ca dos
"quanta", e deter mi n sti co no grande determinismo macro-
fsico. Em verdade, parece que a exi stnci a das estruturas
que fazem a i nstr uo, e que i ntroduzem algo como estabi-
lidade ao mundo, depende, grandemente, de efeitos dos
"quanta"
2 4
. Isto parece ser vl i do para estruturas nos nveis
24 quase trivial que estruturas moleculares e atmicas tenham algo a
ver com a teoria dos "quanta", considerando que as peculiaridades da
mecnica dos "quanta" (tais como valores e estados "eigen") foram
introduzidos na fsica para explicar a estabilidade estrutural dos tomos.
A idia de que a "totalidade" estrutural dos sistemas biolgicos que
tem tambm, algo a ver com a teoria dos quanta, foi primeiro discutida,
eu suponho, no livro pequeno, porm importante, de SCHR O DI N GER ,
chamado O que a vida? (1944) que, pode ser dito, antecipou ambas
s ascenses da biologia molecular e a influncia de MA X DELBR UCK
cm seu desenvolvimento. Neste livro SCHR O DI N GER adota uma cons-
ciente atitude ambivalente frente ao problema dc tornar-se ou no,
a biologia rcdntvel fsica. No captulo 7, " a vida baseada nas
leis da fsi ca?" ele diz (sobre a matr i a viva), primeiro, que "ns
devemos estar preparados para encontr-la trabalhando de um modo
em que no possa -ser reduzida s leis ordinrias da fsica" (O que
a vida? e Mente e matria, p. 81). Porm, um pouco mais adiante
ele diz que "o novo princpio (isto dizer, "ordem da ordem") no
estranho fsiea": ele "nada mais do que o princpio da fsica dos
'quanta' novamente" (na forma do princpio de N ER N ST), O que
a vida? e Mente e matria p. 88). Minha atitude tambm am-
bivalente: por um lado, no acredito em completa reducibilidade; por
outro lado, penso que a reduo deve ser tentada; pois, mesmo embora
ela seja plausvel de ter sucesso parcial, este sucesso parcial seria muito
importante.
Logo, minhas observaes sobre o texto a que esta nota est anexa
(e que deixei, substancialmente, intocado) no significaram uma decla-
rao de reducionismo: tudo que gostaria de dizer seria que a teoria
dos "quanta" parece estar envolvida no fenmeno "estrutura da es-
trutura" ou "ordem da ordem".
Contudo, minhas observaes no foram bastante claras, pois na
discusso depois da conferncia, o Professor HA N S MO TZ desafiou o
que acreditava ser meu reducionismo ao se referir a uma das notas de
EU GEN E WI GN ER ("A probabilidade da existncia de uma unidade
auto-reprodutora", captulo 15 de sua bvia Simetrias e reflexes; en-
saios cient ficos pp. 200-208, M. I . T. PR ESS (1970) . Neste trabalho,
WI GN ER d uma espcie de prova da tese de que a probabilidade
zero para um sistema terico dos "quanta" que contenha um subsistema"
auto-reproduo. (Ou, mais precisamente, probabilidade zero para
um sistema mudar de tal maneira que, a um tempo, ele contenha algum
subsistema e, mais tarde, um segundo subsistema que seja cpia do
66
atmi co molecular das substnci as cristalinas, or gni co e ate
estelar (pois a estabilidade das estrelas depende de r eaes
nucleares), enquanto que para os movimentos casuais de sus-
tento podemos apelar ao movimento browniano cl ssi co e
hi ptese cl ssi ca do caos molecular Portanto, neste quadro
dual sti co de ordem sustentado pela desordem, ou de estru-
tura apoiada pela casualidade, o papel desempenhado pelos
efeitos dos "quanta" e pelos efeitos clssicos parece ser quase
o oposto daquele nos quadros mais tradicionais.
VI I I
At agora eu tenho considerado o progresso na ci nci a,
principalmente, por um ponto de vista biolgico; todavi a,
parece-me que os dois pontos lgicos que se seguem, sao
cruciais. .
Em primeiro lugar, para eme uma nova teoria consti tua
uma descoberta ou um passo avante, ela deve confhtar com
a sua predecessora; isto , dever conduzir a pelo menos al -
guns resultados conflitantes. Por m isto significa, sob um
ponto de vista lgico, que ela deva contradizer 2o sua prede-
cessora; el a deve der r ot- l a.
Neste sentido, o progresso na ci nci a ou, ao menos,
o progresso notvel sempre revol uci onri o.
Meu segundo ponto que o progresso na ci nci a, embora
revol uci onri o ao invs de meramente cumulativo 25, e , em
romeiro). Eu tenho ficado embaraado por este argumento de WI GN ER ,
riesde a sua primeira publicao em 1961; e na minha replica a MO TZ,
Pn si mt d aue a -priva de WI GN ER me parecia refutada pela exis-
t nc i ada mquina? XER O X (ou pelo crescimento dos cristais), que
deve "ser olhTda
QU
como derivada da mecnica dos "quanta" ao^u m d e
sistemas biotnicos. (Pode ser dito que uma copa XER O X ou um nsui
r i o Te reproduz com preciso suficiente; todavia, a coisa ma s enigm-
tica sobre o trabalho de WI GN ER que ele nao se lefeie a grau a
nreciso e aquela exatidoabsoluta ou "a confiana absoluta virtua mente
S n t ^ om o' c ol oc a a questo pgina 208 _ o que nao .* * ^
I esta parece excluida imediatamente pelo. principio de PA ULI Nao
acho que a redutibilidade da biologia fsica e a sua inedutibilidade
possam ser provadas; de qualquer forma, fao_ no presente.
5 Logo a teoria de EI N STEI N contradiz a teoria de N EWTO N (embora
a nrmeira contenha a segunda como uma aproximao, em distino
* teoria de N EWTO N , a teoria de EI N STEI N mostra, por empi o que
nos fortes campos gravitacionais no pode existir uma orbita elptica
Keplerana-com excentricidade aprecivel maissem preessaodopenelio
2S i K- S ^ d ^ t o
1
^ ^ - i m p r e g n a d a d teoria ("borboleta um
67
um certo sentido, sempre conservador; uma nova teoria, em-
bora revol uci onri a, deve sempre ser capaz de explicar, 'com-
pletamente, o sucesso de sua predecessora. Em todos aque-
les casos em que sua predecessora foi bem sucedida, ela deve
render resultados, pelo menos, t o bons quanto aqueles de
sua predecessora, e, se possvel, mel hores. Logo, nestes casos
a teoria predecessora deve parecer uma boa apr oxi mao
teoria nova; enquanto deveria haver, preferivelmente, outros
casos, onde a nova teoria produzisse resultados melhores e
diferentes dos obtidos pela teoria anti ga
2
7.
O ponto importante sobre os dois cr i tr i os lgicos com
que i ni ci ei que eles nos permitem deci di r sobre qualquer teo-
r i a nova, at antes de ter sido testada, se ela ser melhor
do que a antiga, contanto que encare os testes. Porm, isto
significa que, no campo da ci nci a, temos algo como um cr i -
tr i o para jul gar a qualidade de u ma teoria se comparada
com a sua predecessora, e, por conseguinte, um cri tri o de
progresso. E isto significa que o progresso na cincia pode
ser avaliado racionalmente
2 8
. Esta possibilidade explica por-
termo terico, como "gua": envolve um conjunto cie expectativas).
A recente acumul ao de evidencia concernente s par t cul as elemen-
tares pode ser interpretada como uma a cumul a o de falsificaes da
antiga teoria el etromagnti ca da ma tr i a .
Uma exigncia at mais radical pode ser feita: pois podemos exigir que
se as aparentes leis da natureza mudarem, ento a nova teoria, inven-
tada para explicar as novas leis, devero ser capazes de explicar o
estado de coisas.antes e depois da mudana, e tambm, a prpria mudan-
a, atravs das leis universais e condies (mutantes) iniciais (ver minha
obra A Lgica da Descoberta Cientifica, seo 79, p. 253).
Declarando estes critrios lgicos para o progresso, estou rejeitando
implicitamente a sugesto que segue a moda (anti-racionalista) que
duas teorias diferentes como a de N EWTO N e a de EI N STEI N so in-
comensurveis. Pode ser verdade que dois cientistas como uma atitude
de verificao face s suas teorias favoritas (digamos, a fsica Newto-
niana e a Eisteiniana) possam fracassar em se entender mutuamente
Porm, se sua atitude foi crtica (como foi a de Newton e a de Einstein)
eles" entendero ambas as teorias, e vero como so relacionadas. Ver, a
respeito deste problema, a excelente discusso da comparativldade das
teorias de N EWTO N e de EI N STEI N por TR O ELS EGGER S HANSEN
em sua obra, Confrontao e Objetividade, DA N I SH YB PHI L 7
pp. 13-72 (1972). ' ' '
As exigncias lgicas discutidas aqui (ver captulo 10 de meu trabalho
Conjetura e R efutaes, e captulo 5 de Conhecimento Objetivo) em-
bora me paream ser de importncia fundamental, no esgotam, claro
o que pode ser dito sobre o mtodo de cincia racional. Por exemplo!
em meu "Sobreescrito" (que tem estado em prova de gal descle 1957,
mas_ que, eu espero, ser publicado ainda um dia) eu desenvolvi uma -
teoria do que chamo programas de pesquisa metafsica. Esta teoria, '
poderia ser mencionada, em nenhuma maneira se choca com a teoria '
68
que na ci nci a s as teorias progressistas so consideradas
como interessantes; e desse modo explica porque, em ma t -
r i a de fato hi str i co, a hi stri a da cincia , em geral, uma
hi str i a do progresso. (A cincia parece ser o ni co campo
do esforo humano do qual isto pode ser di to) .
Como sugeri antes, o progresso cientfico r evol uci on-
ri o, sua divisa poderia ser aquela de K A R L M A R X: "Revo-
l u o permanente". Embora as revolues ci entf i cas sejam
racionais no sentido em que, a pri ncpi o, racionalmente
passvel de deci so; se uma nova teoria melhor, ou nao,
do que sua predecessora. claro, isto n o si gni fi ca que nao
cometamos erros. Existem vrias formas pelas quais pode-
mos errar.
Um exemplo de um erro mais interessante relatado
por DI RAC
2 9
. SCHRDINGER descobriu, mas n o publ i cou,
uma equao relativista do eltron, mais tarde chamado de
e qua o K L E I - GORDON, antes ele achou e publ i cou a fa-
mosa equao no- r el ati vi sta que agora chamada pelo seu
nome El e n o publicou a equao relativista porque ela nao
parecia concordar com os resultados experimentais da ma-
nei r a interpretada pela teoria precedente. Embor a a discre-
pnci a seja devida a uma i nterpretao errada dos resultados
emp r i cos e n o a um erro na equao relativista. Se faCHKO-
DI NGE R a tivesse publicado, o problema da equi val nci a
entre sua me cni ca de ondas e a mecni ca de matr i z de
H E I S E N B E R G e BORN talvez no tivesse aparecido; e a his-
tr i a da fsi ca moderna poderia ter sido bem diferente.
Deve ser bvio que a objetividade e a racionalidade do
urogresso na ci nci a no se deva objetividade e raci onal i -
dade pessoais do cientista so. A grande ci nci a e os grandes
dn teste e do avano revolucionrio da cincia, que delineei neste tra-
b i l h U m exemplo que ali forneci de um programa de pesquisa me-
tafsica <o uso da teoria tendencial da probabilidade, que parece ter
'
Um
S T -
C
dtg
m
o
PO
no
,e
te
a
X?o
iC
nt
eS
deve ser formado de modo a Mgniflcar
que a racionalidade dependa em ter-se um critrio de racionaliclade. Com-
parar meu criticismo de "filosofias de critrio" em Adendo I .Patos,
nadres eT verdade", ao volume II de minha obra Sociedade aberta
29 A
P
est riaVreport ada por PA UL A. M- DIRAC A evoluo do, quadro
fisicista da natureza", SCI ENT. A M. 208, n. 5, pp. 45-53 (1963), ver
30 vef meu' criticismo da, assim chamada, "sociologia do conheci mentor
no captulo 23 de minha obra Sociedade Aberta e pgina 155 de Pobreza
doHistoricismo.
69
I
Sa
A
58
cientistas, como os grandes poetas, so geralmente inspira
dos por i ntui es n o racionais. Assi m so os grandes mate-
mti cos. Como POINCAR e H A D A MA R D apontaram 3i, uma
prova ma t e mt i ca pode ser descoberta por processos incons-
cientes, guiados por uma i nspi r ao de um car ter decidi-
damente estti co, ao i nvs de por pensamento racional. Isto
verdadeiro e importante. Por m, obviamente, no torna o
resultado, a prova ma t e mt i ca , i rraci onal , Em qualquer caso,
uma prova proposta deve ser capaz de enfrentar a di scusso
crti ca, para ensejar seu exame por matemti cos competen-
tes. E isto pode muito bem, i nduzi r o inventor matemti co
a conferir, racionalmente, os resultados que al canou incons-
ciente ou i ntui ti vamente. Igualmente, os lindos sonhos pi -
tagoreanos de K E P L E R , de harmoni a do sistema mundi al ,
n o i nval i daram a objetividade, a testabilidade, a racionali-
dade de suas tr s leis; nem a racionalidade do problema que
estas leis apresentam a u m teoria expl anatr i a.
Com isto, concluo minhas duas consi deraes l gi cas so-
bre o progresso na ci nci a; e, agora, passo segunda parte
da mi nha confernci a, e, com ela, a consideraes que po-
dem ser descritas como, parcialmente, sociolgicas, e que se
refere aos obstcul os ao progresso na ci nci a.
I X
Penso que os pri nci pai s obstcul os ao progresso na cin-
ci a so de natureza social, e que podem ser divididos em dois
grupos: obstcul os econmi cos e obstcul os ideolgicos.
Sob o pri sma econmi co, a pobreza pode, trivialmente,
ser um obstcul o (embora grandes descobertas ter i cas e ex-
perimentais tenham sido feitas a despeito da pobreza). Em
anos recentes, todavia, tem se tornado, razoavelmente, claro
que a afl unci a pode ser t a mbm um obstcul o: dl ares de-
mais podem perseguir i di as de menos. Reconhecidamente,
at sob tais ci r cunstnci as adversas o progresso pode ser con-
seguido. Mas o espr i to da ci nci a est em perigo. A grande
ci nci a pode destruir a grande ci nci a, e a exploso de pu-
31 JA CQTJES HA DA MA R D, " A psicologia da inveno nocampo matem-
tico" (ver nota n. 13, acima).
70
bl i caoes pode matar i di as, i di as que so, apenas, mui to
raras, podem ser submersas pela torrente. O perigo bem
real e dificilmente necessr i o estender-se sobre isto, mas
eu poderia- talvez, citar E UGE NE WI GNE R , um dos pr i mei -
ros her i s da mecni ca dos quanta, que observa, tri stemen-
t e
3 2
: "O esp r i to da ci nci a mudou".
De fato, este um cap tul o triste. Mas, visto ser bastante
bvi o eu nada mais direi sobre os obstcul os econmi cos ao
progresso na ci nci a, em vez disso, dedicar-me-ei a di scuti r
al guns dos obstcul os ideolgicos.
X
O mai s amplamente, reconhecido dos obstcul os ideo-
l gi cos a i ntol er nci a ideolgica ou religiosa, usualmente
combi nada com dogmatismo e f al ta de j ma g ma a o . Exem-
plos hi str i cos so to conhecidos que nao preciso discoirer
l ongamente sobre eles. Contudo, deve ser notado que ate a
supr e ss o pode conduzir ao progresso. O ma r t r i o de_ GI OR-
DANO B R U N O e o processo de G A L I L E O podem, no f i m tei
ei to mai s pelo progresso da ci nci a que a I nqui si o poderia
ter feito contra ele.
O estranho caso de ARI S TARCO e a or i gi nal teoria he-
l i ocntr i ca apresenta, talvez u m P ^ e m a d i f e ^ t e Foi
causa de sua teoria hehocentnca, ARI S T ARCO foi a cu sa d
dP imniedade por CLEANTRO, um estoico. Mas isto di ti ci l
^ e x p l i c a f o bl i t e r a o de teoria. Nem pode ser dito que
a teor i a era muito ousada. Sabemos que a teor a de ARI S-
TARCO^ era sustentada, um scul o depois de ter d o pr i mevo
i nterpretada por, pelo menos, um a st r n o mo altamente res
n e u X( S E L E U C O ) 33. E, todavia, por al guma r azo- obscur a,
S umas po u c ^ e breves not ci as da teori a sobreviveram. Aqui
e s t u S caso^r i l hante do fracasso assaz f r eqente em con-
er var vivas, i di as alternativas.
Qual quer que sejam os detalhes da expl i cao, o fracasso
foi d e vi d T provavelmente, ao dogmatismo e i ntol er nci a.
^ T Wl o^ v e i sa com E U G E N E WI G N E R ; SCI E N CE 181, pp. 527-533
33 XR ^ T I CO e HE A T H, Aristarco de
Samos, CLA R E N DO N PR ESS, O XF O R D (1966).
71
Por m, novas idias devem ser consideradas como preciosas
e devem ser cuidadosamente fomentadas; especialmente se
parecem ser um pouco selvagens. Eu no sugiro que deva-
mos ser vidos a aceitar novas i di as somente por causas de
sua novidade. Mas devemos estar ansiosos para n o supri mi r
uma nova idia at se ela no nos parecer mui to boa.
Exi stem muitos exemplos de idias rejeitadas, tais como
a idia da evoluo antes de DARWI N, ou a teoria de ME N-
DEL. Mui to pode ser aprendido sobre os obstcul os ao pro-
gresso da hi str i a dessas idias rejeitadas. Um caso interes-
sante aquele do fsico vienense ART HUR HAAS que em
1910 antecipou parcialmente NELS BOHR. HAAS publicou
uma teoria baseada na quanti zao do modelo do tomo de
I. I. THOMSOM. O modelo de RUT HE RFORD n o existia
ainda. HAAS parece ter sido o primeiro a i ntroduzi r o "quan
tum" de ao de P L ANC K na teoria atmi ca com uma vi so
obtida dos constantes espectrais. A despeito de seu uso do
modelo do tomo de THOMSOM, HAAS Quase obteve sucesso
em sua deri vao; e como MA XJAMMR explica em deta-
lhes, parece bastante possvel que a teoria de HAAS (que foi
levada a srio por SOMMERFELD) influenciou, indiretamen-
te, a NTELS BOHR ^. Em Viena, todavia, a teoria foi rejei-
tada, foi ridicularizada e depreciada como uma anedota en-
gr aada por ERNST L E CHE R (cujas primeiras exper i nci as
ti nham impressionado HEI NRI CH H E R T Z 3 5 ) u m ^os pro-
fessores de fsica da Universidade de Vi ena cujas conf er n-
cias prosaicas, e no muito inspirado, eu assisti; havi a al -
guns oito ou nove anos antes.
Um easo bem mais surpreendente, t a mbm descrito por
J AMMR3Sj a rejeio, em 1913, da teoria do fton de
EI NSTEI N, primeiramente publicada em 1905, pela qual ele
deveria receber o prmi o NOBEL em 1921. Esta rejei o da
teoria do fton formou uma passagem constante de uma pe-
ti o recomendando EI NSTEI N para membro da Academia
34 Ver MA X JAMMR. O desenvolvimento conceituai da mecnica dos
"quanta", pp. 40-2, MCGR A W-HI LL, New York (1966)
m e u l m c a a o s
35
Z*l S I ?
R I (
?
I
-
H
^
Z
'
na$ Eltrcas
. MACMI LLN & CO ., Lon
dres (1894); edio DO VER , Nova Iorque (1962) pp 12 187 273
hf st r f c
A
o
X
d f l
J
S^' H
P
- ^
4
3 6 T H E 0
P
A N "Um documento
de A I BF R T F T T ^T ^T T J ^ r i n ! A D^ I X
E O b r e a
^ividade cientfica
a De l f ver p f g S o
A R C H S
' ^
H I S T
"
S C I
"
1 5
'
P P
'
3 3 7
'
4 2
72
Prussi ana de Cincia. O documento que foi assinado por M A X
L A N C K , WAL T HE R NERNST e outros dois famosos fsicos,
era mui to l audatr i o e apregoava que uma escorregadela de
EI NSTEI N (como, obviamente, acredi tavam ser sua teoria
do fton) no deveria ser posta contra ele. Esta manei r a
confiante de rejeitar uma teoria que, no mesmo ano, passou
em um severo teste experimental levado a efeito por MI L L I -
K A N , tem sem dvi da, um lado pitoresco; contudo, deve ser
encarada como um glorioso incidente na hi str i a da ci nci a,
mostrando que, mesmo uma rejei o algo dogmti ca pelos
maiores expertos vivos pode seguir, passo a passo, com uma
apr eci ao bastante liberal; estes homens nem sonharam em
supr i mi r o que acreditavam estar errado. De fato, o teor da
apologia da escorregadela de EI NS TEI N mui to interessan-
te e esclarecedor. A passagem relevante da peti o diz de
E I NS T E I N: "O fato de que ele possa, de vez em quando, ir
mui to longe em suas especul aes, como, por exemplo, em
sua hi ptese dos "quanta" leves, n o deve pesar mui to con-
tr a ele. Pois ni ngum pode i ntroduzi r, mesmo na mais exata
das ci nci as naturais, idias que so realmente novas, sem,
algumas vezes, arriscar-se" 37. i sto bem colocado, mas
uma i ndi cao incompleta. Sempre h o risco de estar errado,
e, t a mbm o risco, menos importante, de ser mal compreen-
dido ou mal julgado.
Todavia, este exemplo mostra, drasticamente, que mes-
mo os grandes cientistas, de vez em quando, f al ham em al -
ca n a r aquela atitude autocr ti ca que os preveni ri a de senti-
rem-se seguros de si mesmos enquanto jul gam mal certas
coisas, gravemente.
Por m, um montante l i mi tado de dogmatismo neces-
sr i o ao progresso; sem um esforo sri o pela sobrevi vnci a
no qual as velhas teorias so defendidas tenazmente, nenhu-
ma das teorias concorrentes podem mostrar seu vigor, isto
, seu poder expl anatr i o e seu conte do de verdade. O dog-
mati smo intolerante, por m, um dos pri nci pai s obstcul os
ci nci a. De fato, n o s devemos manter vivas as teo-
ri as alternativas por meio de sua di scusso, como devemos,
sistematicamente, procurar novas al ternati vas; e devemos
nos preocupar sempre que no houver al ternati vas sempre
37 Comparar a traduo levemente diferente de J A MMR , loc. cit.
73
que uma teoria dominante torna-se muito exclusiva. O
rigo do progresso na ci nci a aumenta muito se a teoria
questo obtiver algo como um monopl i o.
XI
Mas existe um perigo at mai or: uma teoria, mesmo
uma teoria ci entfi ca, pode tornar-se uma moda intelectual,
um substituto par a a religio, uma ideologia entrincheirada.
E com isto, chego ao ponto pri nci pal desta segunda parte de
mi nha conf er nci a a parte que l i da com os obstcul os ao
progresso na ci nci a, a di sti no entre revolues ci entfi cas
e revol ues i deol gi cas.
Como um adendo ao sempre importante problema do
dgma ti smo e ao problema, intimamente ligado, da intole-
r nci a i deol gi ca, existe uma di ferena e, eu penso, um pro-
blema mais interessante. Refiro-me ao problema que surge
de certas l i gaes entre cincia e ideologia; ligaes que real-
mente existem, mas que tm levado algumas pessoas a mis-
turar ci nci a com ideologia, e a confundir a di sti no entre
revol ues ci entfi cas e ideolgicas.
Acho que um problema srio em uma poca em que
os intelectuais, incluindo os cientistas, esto propensos a
apaixonar-se por ideologias e modas intelectuais. Isto pode
bem ser devido ao declnio da religio, s necessidades rel i -
giosas insatisfeitas e inconscientes de nossa sociedade rf 38.
Durante mi nha vida, eu tenho testemunhado, bastante
parte dos vr i os movimentos total i tr i os, um nme r o consi-
dervel de movimentos intelectuais e declaradamente no re-
ligiosos com aspectos cujo car ter religioso i nconfundvel ,
desde que nossos olhos estejam abertos para isto 39. o me-
l hor destes movimentos foi aquele inspirado pela figura pa-
38 Nossas sociedades acidentais no satisfazem, pela sua estrutura, a ne-
cessidade de uma figura patriarcal. Discuti os problemas que 'surgem
deste fato, rapidamente, em meu trabalho (no publicado) "As confe-
rncias de WI LLI A N JA MES em HA R VA R D" (1950). Meu falecido amigo
o psicanalista PA UL F EDER N , mostrou-me, logo depois, uma nota sua
dedicada a este problema.
8 Um exemplo bvio o papel do profeta desempenhado em vrios movi-
mentos por SI GMUN D F R EUD, A R N O LD SCHO N BER G, KA R L KR A US,
LUDWI G WI TTGEN STErN e HER BER T MA R CUSE
74
terna de EI NSTEI N. Fo i o melhor, por causa da atitude sem-
pre modesta e, grandemente, a uto- cr ti ca , e de sua humani -
dade e tol er nci a. No obstante, eu terei , mais tarde, algu-
mas palavras a dizer sobre o que me parecem ser os aspectos
menos sati sf atr i os da r evol uo i deol gi ca einsteiniana.
Eu no sou um essencialista, e n o di scuti rei aqui a
essnci a ou a natureza das "ideologias". Af i r mar ei , meramen-
te, de um modo geral e vago, que usarei o termo "ideologia"
para qualquer teoria no-cientfica, ou credo ou vi so do
mundo que se comprove atraente, e que interesse s pessoas,
i ncl ui ndo os cientistas. (Portanto, podem existir ideologias
mui to tei s e t a mbm mui to destrutivas de, digamos, um
ponto de vi sta hu ma n i t r i o ou raci onal i sta 40). No preciso
dizer mais sobre ideologias para justi fi car a di sti no precisa
que farei entre c i n c i a e "i deol ogi a", e, mais al m, entre
O Existem muitas espcies de "ideologias" neste amplo e (deliberadamente)
vago sentido do termo que usei no texto, e portanto, muitos aspectos
da distino entre cincia e ideologia. Dois podem ser mencionados aqui.
O primeiro que as teorias cientficas podem ser distintas ou "demar-
cadas" (ver nota n. 41) das teorias, no cientficas que, entretanto,
podem influenciar, fortemente, os cientistas, e at mesmo inspirar o seu
trabalho. (Esta influncia, lgico, pode ser boa ou m, ou mista). Um
aspecto muito diferente aquele do entrincheiramento; uma teoria ci-
entfica pode funcionar como uma ideologia se se tornar socialmente
entrincheirada. Esta causa pela qual, ao falar da distino entre re-
volues cientficas e revolues ideolgicas, inclu entre revolues ideo-
lgicas, mudanas nas idias no cientficas que podem inspirar o tra-
balho de cientistas, e tambm mudanas no entrincheiramento social do
que pode ser, por outro lado, uma teoria cientfica. (Devo a formulao
dos pontos desta nota a JER EMY SHEA R MUR que tambm tem con-
tribudo para outros pontos tratados nesta conferncia).
41 para no me repetir, muito freqentemente, no mencionei nesta con-
ferncia a minha sugesto de que um critrio do carter emprito de
uma teoria (falsificabilidade ou refutabilidade como o criterio_ de de-
marcao entre teorias empricas e no empricas). Desde que cincia
em ingls significa "cincia emprica", e desde que a matria e com-
pleta e suficientemente discutida em meus livros, eu tenho escrito coisas
como o seguinte (por exemplo, em "Conjcturas e R efutaoes , p. 39)
" ' para ser classificado como cientficas, (as declaraes) devem ser
capazes de conflitar com observaes possveis ou concebiveis. Algumas
pessoas apoderam-se distocomo um raio (to cedo como em 1932, acno).
"E sobre seu prprio evangelho?" a jogada tpica (Encontrei nova-
mente esta objeo em um livro publicado em 1973).. Minha resista
objeo, todavia, foi publicada em 1934 (ver "Lgica da descoberta
cientfica", captulo II, seo 10 e em todo o resto). Eu posso .declarar
minha resposta: meu evangelho no "cientfico", isto , nao pertence
cincia emprica, porm , mais propriamente, uma proposta (norma-
tiva). Meu evangelho (e tambm minha resposta) e, incidentalmente,
criticvel, embora no somente pela observao; a ele tem sido croicaao.
75
revolues cientficas e revolues ideolgicas. Por m, eluci-
darei esta di sti no com a ajuda de um n me r o de exemplos.
Estes exemplos mostr a r o, espero, que importante dis-
ti ngui r entre uma r evol uo ci entf i ca no sentido de uma
destr ui o raci onal de uma teoria ci entfi ca estabelecida por
uma nova, e todos os processos de "entrincheiramento so-
ci a l " ou talvez, de "acei tao soci al " de ideologias, incluindo
at aquelas ideologias que i ncorporam alguns resultados cien-
tficos.
XI I
Como primeiro exemplo eu escolho as revol ues coper-
ni cana e darwi ni ana, porque nestes dois casos uma revolu-
o ci entfi ca originou uma r evol uo ideolgica. At se re-
jeitarmos aqui a ideologia do "Darwi ni smo Soci al "
4 1
-
f l
, pode-
mos di sti ngui r um componente cientfico e um ideolgico em
ambas as revol ues.
As revol ues copernicana e darwi ni ana eram ideolgi-
cas at onde ambas mudaram a viso do. homem do seu l u-
gar no universo. Elas foram, claramente, ci entf i cas at onde
cada uma delas destruiu uma teoria ci entf i ca dominante:
uma teoria astr onmi ca e uma teoria bi ol gi ca dominantes.
Parece que o impacto ideolgico da teoria copernicana e
t a mbm da darwi ni ana foi to grande, porque cada uma de-
las conflitava-se com um dogma religioso. Isto foi altamente
significante para a hi str i a intelectual de nossa civilizao,
e teve repercusses na hi str i a da ci nci a (por exemplo, por-
que levou a uma tenso entre rel i gi o e ci nci a) . E todavia,
o fato hi str i co e sociolgico que as teorias de Coprni co e
Dar wi n chocaram-se contra a rel i gi o completamente irre-
levante para a aval i ao raci onal das teorias ci entfi cas pro-
postas por eles. Logicamente no h qualquer r el ao que seja
com a revol uo ci entfi ca detonada por cada uma das duas
teorias.
Por conseguinte, importante di sti ngui r entre revolu-
es ci entfi cas e ideolgicas, particularmente, naqueles ca-
41
a
Para uma crtica do darwinismo social ver Sociedade aberta, cap-
tulo X, nota 71.
76
sos em que as revolues ideolgicas i nf l uenci am revol ues
na ci nci a.
O exemplo, mais especialmente, da r evol uo i deol gi ca
de Coprni co, pode mostrar que mesmo u ma r evol uo ideo-
l gi ca poderia bem ser descrita como "r aci onal ". Contudo, en-
quanto temos um critrio lgico do progresso na ci nci a
e portanto, de racionalidade parece n o termos qualquer
coisa como critrios gerais de progresso e de racionalidade
fora da cincia (embora isto n o deva si gni fi car que fora da
ci nci a n o existem coisas tais como pa dr e s de raci onal i da-
de) Mesmo uma ideologia sbi a e i ntel ectual , que se -baseie
em resultados cientficos aceitos, pode ser i r r aci onal , como
demonstram os muitos movimentos do modernismo na arte
(e na ci nci a) , e, tambm, do ar ca smo na arte; movimentos
que na mi nha opinio, so intelectualmente i ns pi dos, visto
que' apelam a valores que nada t m a ver com arte (ou
ci nci a) . De fato, muitos movimentos desta espcie sao so
modas que no devem ser levadas a sri o
4 2
.
Prosseguindo com mi nha tarefa de elucidar a di sti no
entre revolues cientficas e i deol gi cas, eu darei, agora, v-
rios exemplos de revolues ci entfi cas exponenciais, que nao
l evaram a qualquer revoluo i deol gi ca.
A revoluo de FARADAY e M A XWE L L foi, de um pon-
to de vista cientfico, to grande como aquela de Coprni co,
e possivelmente, maior: ela destronou o dogma central de
NEWTON o dogma das foras centrais. Contudo, nao le-
vou a uma revoluo ideolgica, embora tenha inspirado uma
ger ao inteira de fsicos.
A descoberta de J. J. T HOMS OM (e sua teoria) do el-
42 A lm do vago termo "Ideologia" (que inclui todas as espcies de teorias
a s atudes, inclusive algumas que podem influenciar cientistas),
deve estar claro qe pretendo cobrir, por este termo, no s modas his-
tricas como o "modernismo", mas, tambm, idias srias metafsica^
tica! e racionalmente discutveis. Eu posso, talvez me referir a. JI M
ER UCSON , um ex-aluno meu em CHR I ST CHUR CH, Nova Zelndia,
que disse, uma vez, em um debate: "N o sugerimos que a dencia In-
ventou a honestidade intelectual, porm, sugerimos que a honestidade
nrtelectual Inventou a cincia". Uma idia muito' melha^t e acha-se
no captulo IX (O Reino e as Trevas) do livro de
J A
? Q ^ S MO N O D
Oportunidae e necessidade, KN O PP, Nova Yortme (1971). Vert am
bm meu livro Sociedade Aberta, volume II, ^ P
1
^
2 4
J ^
0
" *
contra a R azo). Poderamos dizer, claro, que uma ideologia que
aprendeu com a abordagem crtica das cincias plausvel de ser mais
racional do que uma que se conflite com a cincia.
77
tron foi t a mbm uma r evol uo mai or. A destr ui o da ve-
lha^ teoria da indivisibilida.de do tomo, constituiu uma revo-
l uo ci entf i ca facilmente compar vel f aanha de Copr-
ni co: quando T HOMS OM a anunci ou, os fsicos pensaram
que ele estava brincando. Mas n o cri ou uma revoluo ideo-
lgica. Por m, destruiu ambas as teorias rivais que, por 2.400
anos, disputavam o dom ni o da teoria da matr i a a teoria
dos tomos i ndi vi svei s e aquela da continuidade da matr i a
Da mesma forma, a mecni ca dos "quanta" de 1925 e 1926
de HE I S E NB E R G e de BORN, de DE BROGLI E, de SCHRO-
DI NGER e de DI RAC, foi essencialmente uma' quanti zao
da teoria do el tr on de THOMS OM. E, contudo, a revoluo
ci entfi ca de T HOMS OM n o conduziu a uma nova ideologia.
Outro exemplo admi r vel a derrota, por RUTHER-
FOR D em 1911, do modelo do tomo proposto por J J THOM-
SOM em 1903. R UT HE R FOR D ti nha aceito a teoria de
T HOMS OM de que a carga positiva devia ser di stri buda so-
bre o espao inteiro ocupado pelo tomo. Isto pode ser visto
a tr a vs da sua r e a o famosa experi nci a de GEI GER e
MAR S DE N. Eles pensavam que quando ati raram par t cul as
"al f a" em uma folha bem fi na de ouro, um pouco-das par-
t cul as "al f a" cerca de uma em vi nte . mi l foram re-
fletidas pela chapa ao i nvs de, meramente, serem desviadas
R UT HE R FOR D estava i ncr dul o. Como disse mais tarde 43 :"
"Foi, realmente, o evento mais incrvel que aconteceu co-
migo em toda minha vida. F oi to incrvel como se voc tivesse
detonado um cartucho de quinze polegadas em uma pea de
papel de seda e ele tivesse voltado e o atingisse".
Esta a n o t a o de R UT HE R FOR D demonstra o car ter
totalmente r evol uci onr i o da descoberta. RUTHERFORD cer-
tificou-se que a exper i nci a refutava o modelo do tomo de
T HOMS OM, e ele substi tui u pelo seu modelo nuclear do to-
mo. Isto foi o comeo da ci nci a nuclear. O modelo de RU-
T HE R FOR D tornou-se amplamente conhecido mesmo entre
os no-fsi cos. Mas n o engati l hou uma revol uo ideolgica.
Uma das revol ues ci entf i cas mais fundamentais na
hi str i a da teoria da ma t r i a no tem sido reconhecida como
Lord R UTHER F O R D, "O Desenvolvimento da teoria da estrutura at- '
mica em J. N EEDHA M e W. PA GEL, BACKGROND da cincia mo-
derna, pp 61-74. CA MBR I DGE UN I VER SI TY PR ESS (1938): a citao
e da pgma 68.
78
tal . Refiro-me refutao da teoria el etr omagnti ca da ma-
tr i a que se tornou dominante depois da descoberta do el-
tron por THOMSOM. A mecni ca dos "quanta" sur gi u como
parte desta, teoria, e foi essencialmente, esta teoria, cuja
"per f ei o" foi defendida por BOHR contra EI NSTEI N em
1935, e, novamente em 1949. Ai nda assim, em 1934, Y U K A WA
ti nha esboado uma nova abordagem, baseada na teoria dos
"quanta", das foras nucleares que resultaram na derrocada
da teoria el etr omagnti ca da matr i a, depois de quarenta
anos de domi nao inquestionada
4 4
.
Exi stem muitas outras revolues ci entfi cas que falha-
r am em engatilhar qualquer revoluo i deol gi ca; por exem-
plo, a revol uo de ME NDE L (que, mais tarde, salvou o dar-
winismo da exti no) . Outras so o r ai o- X, a radioatividade,
44 ver meu trabalho "A mecni ca dos "quanta" sem o "observador", em
"A teoria dos "quanta" e a realidade", edio MA R I O BUN GE, espe-
cialmente pp. 8-9, SPR I N GER -VER LA G, Nova Iorque (1967). (F ormar
um captulo em meu prximo volume "Filosofia e fsica").
A idia fundamental (que a massa inerte do eltron , em parte
explicvel como a inrcia do campo eletromagntico movente) que con-
duziu teoria eletromagntica da matria devida J. J. THO MSO N ,
"Sobre os efeitos eltricos e magnticos produzidos pelo movimento de
corpos eletrificados", PI I L. "MAG. 11, 229-249 (1881), e a O. HEA VI SI DE.
"Sobre os efeitos el etromagnti cos devidos ao movimento da eletrificao
atr avs de um dialtico "PHIL. MA G. 27, 324-329 (1889). Foi desen-
volvido por W. KA UF MA N N (DIE MA GN ETI SCHE UN D ELEKTR I SCHE
A BLEKBA R KEI T DER BEQUER ELSTR A HLEN UN D DI E SCHEI N BA R E
MA SSE DER ELEKTR O N EN , GO TT N kCHR . pp. 143-155 (1901) UEBER
DI E ELEKTR O MA GN ETI SCHE MA SSE DER ELEKTR O N S. pp. 291-296
(1902), UEBER DIE ELEKTR O MA GN ETI SCHE MA SSE DER ELEK-
TR O N EN , pp. 90-103 (1903) e M. A BR A HA M (DI N A MI K DES ELEK-
TR O N S, GO TT N A CH. pp. 20-41 (1902). PRI NZI PI EN DER DYN A MHC
DES ELEKTR O N S, A N N LN . PHYS. 10, pp. 105-179 (1903) sobre a tese
de que a massa do eltron um efeito puramente eletromagntico. (Ver
W. KA UF MA N N . "Die ELEKTR O MA GN ETI SCHE MA SSE DES ELEK-
TR O N S, PHYZ. Z. 4, pp. 54-57 (1902-1903) e. M. A BR A HA M "PR I N -
ZIPIEN DER DYN A MI C DES ELEKTR O N S" PHYZ. Z. 4, pp. 57-63
(1902-1903) e M. A BR A HA M, "THEO R I E DER ELEKTR I ZI TA T" Vo-
lume II, pp. 136-249, LEI PZI G (1905). A idia foi sustentada, fortemente,
por H. A. LO R EN Z, "ELEKTR O MA GN ETI SCHE VER SCHI JN SELEN I N
EEN STELSEL DA T ZICH MET WI LLEKEUR I GE SN ELHEI D, KELEI -
N ER DAN DI E VA N HET LEI CHT, BEWEEGT, VER SL.. GEWO N E
VER GA R . WI S-EN N A TUUR K. A F D. K. A K A D . WET. A MST. 12, se-
gunda parte, pp. 986-1009 . (1903-1904), e pela relatividade especial, con-
duzindo a resultados divergentes daqueles de KA UF MA N N e A BR A HA M.
A teoria eletromagntica da matria tem uma grande influncia ideol-
gica sobre os cientistas por causa da fascinante possibilidade matria
explicativa. Ela foi mexida e modificada pela descoberta de R UTHER -
F O R D do ncleo (e do proton) e pela descoberta' do neutron por
CHA DWI CK; o que poderia ajudar e explicar o porqu de a derrocada
final ter sido francamente marcada pela teoria as foras nucleares.
79
a descoberta dos i stopos, e a descoberta da superconduti-
vidade. A tudo isto, no havi a r evol uo i deol gi ca corres-
pondente. Nem vejo, propriamente, como uma r evol uo
ideolgica, o resultado da perspectiva aberta por CRI CK e
WATSON.
XI I I (
De grande interesse o caso da assim chamada, revolu-
o einsteiniana; refiro-me r evol uo ci ent f i ca de EI NS-
TEI N que, entre os intelectuais, teve uma i nf l unci a ideol-
gica compar vel quel a das revol ues copernicana ou dar-
wi ni ana.
Das muitas descobertas r evol uci onr i as de EI NSTEI N
na Fsi ca, existem .duas que aqui so relevantes.
^ A pri mei ra a relatividade especial, que derrubou a
ci nti ca newtoniana, substituindo a i n va r i a n a de GAL I L E O
pela de L ORE NT Z . claro, esta r evol uo satisfaz nossos
cr i tr i os de raci onal i dade: as velhas teorias so explicadas
como, aproximadamente, vl i das para velocidades que so
pequenas, comparadas velocidade da l uz. No que se refere
revol uo i deol gi ca l i gada a esta r evol uo ci entfi ca, um
das seus elementos devido MI NK OWS K I . Podemos afir-
mar este elemento atr avs das pr pr i a s palavras de MI N-
K OWS K I .
As vises de tempo e espao, eu desejo exibi-las a vocs
escreveu MI N KO WSKI - . . . so radicais. Doravante, o tempo
por si mesmo, e o espao por si mesmo, esto condenados a
O poder revolucionrio da relatividade especial repousa em um novo
ponto de vista que permite a derivao e a interpretao das transfor-
maes de LO R EN TZ a partir de dois princpios simples. A grandeza
f f
r
/
e v
l u
& 0
P
d
e ser melhor medida pela leitura do livro de A BR A -
HA M (volume II; mencionado acima, na nota n. 44). Este livro um
pouco mais antigo que os trabalhos de PO I N CA R E e o de EI N STEI N
sobre a relatividade, contm uma completa discusso da situao do
problema: da teoria de LO R EN TZ sobre a experincia de MI CHELSO N
e at do tempo local de LO R EN TZ, A BR A HA M chega, por exemplo nas
pginas 143 e 370, bastante perto das idias de EI N STEI N A t parece
que MA X A BR A HA M estava melhor informado sobre a situao do
problema; da teoria de LO R EN TZ sobre a experincia de MI CHELSO N
tencial dades revolucionrias da situao do problema; bem ao contra-
a
0
- A BR A HA M escreve, em seu prefcio, datado de maro de 1905:
A teoria da eletricidade parece agora ter entrado em um estado de
desenvolvimento mais calmo". Isto mostra como desanimador mesmo
para ura grande cientista como A BR A HA M prever o futuro desenvol-
vimento da cincia.
80
desvanecerem-se em meras sombras, e s uma espcie de unio
dos dois preservar uma realidade independente M.
Esta uma decl arao intelectualmente emocio-
nante. Mas no , claramente, ci nci a: ideologia. Tornou-
se parte da ideologia da revoluo einsteiniana. Por m o pr-
prio EI NSTEI N nunca foi bastante feliz em rel ao a ela. Dois
anos antes de sua morte ele escreveu a CORNELI US LANO-
ZOS: "Sabe-se tanto e compreende-se to pouco. A quadri -
dimensionalidade (com a assinatura de MI NK OWS K I )
pertence l ti ma categoria".
Um elemento mais suspeito da revol uo ideolgica eins-
teiniana a moda do operacionalismo ou positivismo uma
moda que mais tarde, EI NSTEI N rejeitou, embora ele pr -
prio seja responsvel por ela, devido ao que ti nha escrito so-
bre a defi ni o operacional de simultaneidade. Contudo, como
EI NSTEI N certificou-se mais tarde
4
?, o operacionalismo ,
logicamente, uma doutrina i nsustentvel , ela tem sido mui to
influente desde ento, na fsica, e especialmente na psicolo-
gia do comportamento.
Com respeito s tr ansf or maes de LORENTZ, n o pa-
rece ter-se tornado parte da ideologia o fato de que elas l i -
mi tam a validade da transitoriedade da simultaneidade: o
pr i ncpi o da transitoriedade permanece vlido dentro de cada
sistema de i nr ci a enquanto torna-se i nvl i do para a transi -
o de um sistema a outro. Nem tem se tornado parte da
ideologia o fato de que a relatividade geral, ou mais especi-
ficamente, a cosmologia de EI NSTEI N, permite a i ntr oduo
de um tempo csmico preferido e, conseqentemente, de pre-
feridas estruturas espao-temporai s l oca i s
4 8
.
45 Ver H. MI N KO WSKI , "Espao e tempo" em A. EI N STEI N , H. A. LO -
R EN TZ. H. WEYL, e H. MI N KO WSKY, O Princ pio da Relatividade
METHUEN , Londres (1923) e edio DO VER , Nova Iorque, p. 75. Sobre
a citao da carta de EI N STEI N a CORNELI US LA N CZO S, mais tarde,
no mesmo pargrafo do meu texto, ver C. LA N CZO S, "O Racionalismo
e o mundo fsico" em R. S. CO HEN e B. WA R TO F CKI , Estudos de
BOSTON sobre a filosofia da cincia. Volume III, pp. 181-196 (1967);
ver pgina 198.
47 Ver minha obra "Conjeturas e R efutaes", p. 114 (com nota de roda-
p n. 80); tambm Sociedade Aberta volume II, p. 20 e a crtica em
minha obra Lgica da descoberta cient fica p. 440. Apontei estas cr-
ticas em 1950 a P. W. BR I DGMA N , que as recebeu muitogenerosamente.
48 Ver A. D. EDDI N GTO N , Tempo, espao e gratificao, pp-162. CA M-
. BR I DGE UN I VER SI TY PR ESS (1935). interessante, neste contexto,
que DI R A C (na pgina 46 de seu trabalho a que se refere acima a
nota n. 29) diga que agora ele duvida se o pensar quadri-dimenslonal
81
A relatividade geral foi, na mi nha opi ni o, uma das
maiores revolues ci entfi cas de todos os tempos, porque
conflitava com as maiores e bem testadas teorias at ento
a teoria de NEWTON sobre a gravidade e o sistema solar. El a
contm, como deveria, a teoria de NE WT ON com uma apro-
xi mao; todavia, ela a contradiz em vri os pontos. El a re-
vela resultados diferentes para as r bi tas el ti cas de apr eci -
vel excentricidade; e i mpe a surpreendente resultado de que
qualquer par t cul a fsica (incluindo os ftons) que se apro-
xime do centro de um campo gravi taci onal com uma velo-
cidade excedendo seis dci mos da velocidade da l uz, n o
acelerada pelo campo gravitacional, como na teoria de NEW-
TON, porm desacelerada, isto , no a t r a da por um corpo
pesado, mas repelida
4 9
.
Este resultado surpreendente e emocionante tem enfren-
tado testes; mas, no parece ter se tornado parte da ideologia.
esta derrocada e a cor r eo da teoria de NEWTON que,
de um ponto de vista cientfico (em oposio a uma ideolo-
gia) so o mais significante na teoria geral de EI NSTEI N.
Isto implica, claro, que a teoria de EI NSTEI N possa ser com-
parada ponto por ponto, com a de NEWTON
50
e que ela con-
serva a teoria cie NEWTON como uma apr oxi mao. No
obstante, EI NSTEI N nunca acreditou que sua teoria osse,
meramente, um estgi o passageiro: ele a chamava de "ef-
mera" si . E disse a LEOPOLDO I NFELO ^ que o lado esquer-
do de sua equao
53
(o tensor da curvatura) era slido como
um requisito fundamental da fsica. ( um requisito fundamental para
a direo de um automvel).
49 Mais precisamente, um corpo caindo do infinito a uma velocidade
V > c/3 \ em direo ao centro de um campo gravitacional ser cons-
tantemente desacelerado medida em que se aproxima deste centro.
50 Ver a referncia a TR O LES EGGER S HA N SEN , citada na nota n. 27,
acima; e PETER HA UA S, "F ormulaes quadri-dimens!onais da mec-
nica newtoniana e sua relao teoria geral e especial da relaticidade",
R EVS. MOD. PHYS. 36, pp. 938-965 (1964) e "Problemas de fundamento
em relatividade geral", no Seminrio de DELA WA R E sobre os funda-
mentos da fsica" (edio M. BUN GE), pp. 124-148 (1967). A compa-
rao, claro, no trivial: ver, por exemplo, a pgina 52 do livro de
E. WI GNER a que se refere, acima, a nota n. 24.
M Ver C. LANCZOS, op. cit., p. 196.
52 Ver LEO PO LDO I N PELD, Indagao, p. 90. VI CTO R GO LLA N CZ, Lon-
dres (1941).
53 Ver A. EINSTEIN, "DIE F ELDGLEI CHUN GEM DER GR A VI TA TI O N ".
SBER. A KA D. WISS. BER LI N , 2.
a
. parte, pp. 844-847 (1915); DI E
GR UN DLA GE DER LLGEMEI N EN R ELA TI VI TA TSTHEO R I E, A N N LN
PHYS. 49, pp. 769-822 (1916).
82
uma rocha, enquanto o lado direito (o tensor de energia de
movimento) era fraco como pal ha.
No caso da relatividade geral, uma i di a que ti nha con-
si der vel i nf l unci a do espao curvo quadri di mensi onal . Esta
i di a, certamente, desempenha um papel em ambas as revo-
l ues, ci entf i ca e ideolgica. Mas isto torna ai nda mais i m-
portante di sti ngui r a revol uo ci entfi ca da i deol gi ca.
Contudo, os elementos ideolgicos da r evol uo einstei-
ni ana i nfl uenci aram cientistas, e, portanto, a hi str i a da
ci nci a; e esta i nf l unci a n o foi toda para o bem.
Pri mei ro de tudo, o mito de que EI NS TEI N tenha ati n-
gido este resultado por um uso essencial de mtodos episte-
mol gi cos e especialmente operacionais, no produzi u, em mi -
nha opi ni o, um efeito devastador sobre a ci nci a. ( irrele-
vante se resultados so obtidos especialmente bons resul-
tados por sonhar com eles, ou por tomar caf, ou mesmo
por uma epistemologia errada) -"-a. E m segundo l ugar , tem
-se a i mpr esso de que a mecni ca dos "quanta", a segunda
grande teoria r evol uci onr i a do sculo, deve sobrepujar a
r evol uo einsteiniana, especialmente a respeito dc sua pro-
fundidade epi stemol gi ca. Parece-me que esta cr e n a afetou
alguns dos grandes fundadores da mecni ca dos "quanta" ^
e t a mbm alguns dos grandes fundadores da biologia mo-
l ecul ar 55 Configurou-se uma domi nao de uma interpreta-
o subjetivista d mecni ca dos "quanta"; uma interpre-
ta o que tenha combatido por quase quarenta anos. Nao
posso descrever aqui a si tuao; mas enquanto eu estiver
cnsci o da f a a n ha deslumbrante da mecni ca dos quanta
53a Acredito que o pargrafo 2. do famoso trabalho de EI N STEI N "DIE
GR UN DLGE DER
LLGEMEI N EN ^LA TI V p A TSTHEO R I E (ver
nota n<> 53, acima; teoria geral da relatividade", O Principio dare
latividade", pp. 111-164. Ver nota 46, acima) usa maLs " e n t o
epistemolgicos questionveis contra o espao absoluto de N EWTO N e
a favor de uma teoria muito importante.
54 Especialmente HEI SEN BER G e BO HR .
55 Aparentemente afetam MA X DELBR UCK; ver "Perspectivas da Historia
Americana-, volume II, HA R VA R D UN I VER SI TY PRESS. (1968), F -
sicos emigrados e a revoluo biolgica", por DO N A LD F LEMI N G pp.
152-189, especialmente as sees IV e V (Devo esta referencia ao Pro-
fessor MO GEN S BLEGVA D).
83
(o que no nos deve fechar os olhos ao fato de que ela ,
seriamente, incompleta)
5 6
sugiro que a i nter pr etao orto-
doxa da mecni ca dos "quanta" no parte da fsica, mas
uma ideologia. De fato, parte de uma ideologia modernista
e tem se tornado uma moda ci entfi ca que se apresenta como
srio obstcul o ao progresso da ci nci a.
!
XI V
Espero ter esclarecido a di sti no entre uma revoluo
cientfica e uma revoluo ideolgica, que pode, de vez em
quando,' ser l i gada primeira. A revoluo ideolgica pode
servir racionalidade ou pode sol ap-l a. Porm, f r eqente-
mente, nada mais do que uma moda intelectual. Ai nda que
esteja ligada a uma revol uo ci entfi ca, pode ser de um ca-
r ter altamente i rraci onal ; e pode, conscientemente, quebrar
uma tr adi o.
Mas, uma revol uo ci entfi ca, embora radical, no pode
realmente quebrar uma tr adi o, visto que ela deve preser-
var o sucesso de seus predecessores. por isto que as revo-
lues cientficas so racionais. Com isto no quero dizer,
claro, que os grandes cientistas que fazem uma revol uo se-
jam, ou devam ser, seres inteiramente racionais.' Pelo con-
tr r i o, embora tenha estado discorrendo aqui para a racio-
nalidade das revolues ci entfi cas, meu palpite de que se
os cientistas individuais tornarem-se "objetivos e racionais"
no sentido de "imparciais e desprendidos", ento encontrare-
mos barrado o progresso na cincia por um obstcul o i m-
penetrvel .
Tr a du o de Api o Cl udi o Muni z Acquarone Fi l ho, do
original "The rationality of scientific revolutions", i n. :
Problems of Scientific Revolution: progress and obsta-
cles to progress in the sciences. The Her ber t' Spencer
Lectures 1973, Clarendon Press, Oxford, 1975.
58 Est claro que uma teoria fsica que no explica tais constantes como
o elementar "quantum" eltrico (ou a constante da estrutura pura)
incompleta; nada diz do espectro da massa das partculas elementares.
Ver meu trabalho "A mecnica dos quanta" sem o "observador" que
se refere a nota n. 44.
Quero agradecer a TR O ELS EGGER S HA N SEN , ao Reverendo
MI CHA EL SHA R R A TT, Dr. HER BER T SPEN GLER , e ao Dr. MA R TI N
WEN HA M pelos comentrios crticos sobre esta conferncia.
84
O Q U E E N T E N D O P O R F I L O S O F I A
Um vigoroso e famoso trabal ho de meu falecido amigo
Fr i edr i ch Wai sman tem por t tul o "How I see Philosopfiy"
(O que eu entendo por filosofia) i. Esse trabal ho co n t m mui -
ta coisa que admiro e apresenta uma sr i e de pontos com os
quais concordo, embora os tivesse abordado de manei r a to-
talmente diversa da dele.
Fr i tz Waisman e muitos dos seus colegas t m como cer-
to que os filsofos constituem um tipo especial de gente e
que a Filosofia nada mais que a atividade excl usi va dos
mesmos. Nesse seu trabalho ele pretente mostrar, com aux -
l i o de uns exemplos, o que consti tui o ca r t e r di sti nti vo de
um filsofo e o car ter distintivo da filosofia, comparados
com outras disciplinas acadmi cas como a ma t e m t i c a ou a
fsica. Assi m, ele tenta, especialmente, descrever os interes-
ses e atividades de filsofos acadmi cos cont e mpor ne os
como continuadores da obra dos filsofos do .passado.
Al m de considerar tudo isso deveras interessante, o tra-
balho de Wai sman evidencia um consi der vel envolvimento
pessoal nestas atividades acadmi cas, de arrebatamento mes-
mo. Est patente que ele pr pr i o um filsofo de corpo e
al ma, se enquadrando neste grupo especial de filsofos, e que
deseja claramente nos transmi ti r algo desse arrebatamento
que compartilhado pelos membros dessa comuni dade algo
exclusiva.
i F. Waisman, em H. D. Lewis (ed.), Contemporary British Philosophy,
3.
a
srie, z." ed., George Allen & Unwin, Ltd., London 1961, pp. 447-490.
85
II
A manei ra pela qual encaro a Filosofia totalmente di -
versa. Eu acho que todos os homens e mulheres so filsofos,
embora uns mai s outros menos. Concordo, evidentemente,
que existe um grupo exclusivo e distinto de pessoas, os fil-
sofos acadmi cos, mas longe estou de compartilhar do en-
tusiasmo de Wai sman pelas suas atividades e por sua aproxi-
ma o; ao contr r i o, sinto que h muito para ser dito por
aqueles (eles so, na mi nha opi ni o, um tipo de filsofo) que
desconfiam do filsofo acadmi co. De qualquer maneira, sou
veementemente contr r i o a uma idia (uma i di a filosfi-
ca), cuja i nf l unci a, embora no analisada e nunca mencio-
nada, i mpregna o brilhante ensaio de Waisman; eu me refiro
i di a de uma elite filosfica e i ntel ectual
2
.
Eu admito, naturalmente, que existiram uns poucos que
reputo terem sido grandes e verdadeiros filsofos, assim como
um pequeno n me r o de filsofos que, apesar de admi r vei s
em muitos sentidos, no chegaram a ser grandes. Entretanto,
embora o que eles produziram seja da maior i mpor tnci a
para qualquer filsofo acadmi co, a filosofia no depende de-
les da manei ra que a pi ntura depende dos grandes pintores
ou a msi ca dos grandes compositores. Alm disso, a grande
filosofia por exemplo aquela dos pr-socrticos precede
toda a filosofia profissional e acadmi ca.
III
A meu ver, a filosofia profissional no tem produzido
grandes coisas. El a carece urgentemente de uma "apologia
pro vita sua" uma defesa de sua' existncia.
Eu chego a sentir que o fato de eu prprio ser um fil-
sofo profissional um ponto contra mi m, eu o sinto como
uma acusao. Eu devo declarar-me culpado e, como Scra-
tes, fazer mi nha apologia.
2 Esta idia vem baila frente a observaes de Waisman tais como:
"Na verdade, um filsofo um homem que sente como se houvesse ten-
das ocultas na construo de nossos conceitos, enquanto outros somente
vem o caminho suave dos lugares comuns diante de si". Ibid, p. 448.
86
Eu me refiro Apologia de Pl a t o , pois de todos os tra-
balhos filosficos escritos at hoje deste que mais gosto. Eu
suponho que seja historicamente verdadeiro que ele nos
conte, na ntegr a, o que Scr ates disse diante do corte de
Atenas. Gosto, porque aqui fala um homem modesto e des-
temido. E sua apologia mui to si mpl es: ele insiste em dizer
que est consciente de suas l i mi taes, as quais n o so s-
bias, exceto possivelmente na consci enti zao de que ele no
um sbio, mas um crti co, especialmente de toda l i ngua-
gem que soe difcil, embora um amigo de seus semelhantes
e um bom ci dado.
Esta no somente a apologia de Scr ates, mas, meu
ver, uma apologia notvel para a filosofia.
I V
Mas, vamos ao caso da a cusa o contra a filosofia. Mu i -
tos filsofos e dentre eles alguns dos maiores no che-
garam a produzir algo de bom. Ci tar ei quatro dos mais i m-
portantes Pl ato, Hume, Spi noza e K a nt .
Pl ato, o maior, o mais profundo e o mais dotado de to-
dos os filsofos, ti nha uma viso da vi da humana que eu con-
sidero repulsiva e deveras horri fi cante. Assi m mesmo, ele foi
n o somente um grande filsofo e o fundador da maior es-
cola de filsofos, mas t a mbm um grande e inspirado poeta;
e ele escreveu, dentre outros belos trabalhos, A Apologia de
Scrates.
O que o afligia e a tantos outros filsofos profissionais
que lhe sucederam, em declarada contr aposi o a Scr ates,
era acreditar na elite: no Reinado da Fi l osofi a. Enquanto S-
crates exigia dos homens de estado que fossem sbi os, ou seja,
conscientes do pouco que sabem, Pl a t o achava que os s-
bios, os doutos filsofos, deviam ser os ditadores absolutos
das regras. (Sempre, desde Pl a t o , a megalomania tem sido
a doena profissional mais di fundi da entre os filsofos.)
Alm do mais, no dci mo l i vro de As Leis, Pl ato inventou
uma i nsti tui o que i nspi rou a I nqui si o, e ele chegou per-
to de recomendar campos de conce ntr a o para a cura das
almas dos dissidentes.
David Hume, um filsofo profissional e, depois de Scra-
tes, talvez o mais cndi do e equilibrado de todos os grandes
87
filsofos e um homem deveras modesto, racional e razoavel-
mente desapaixonado, devido a uma teoria psicolgica infeliz
e er r nea (e por causa de uma teoria do conhecimento que
lhe ensinava a menosprezar at mesmo seus pr pr i os pode-
res notvei s de r aci oc ni o) , foi levado hor r i f i ante doutri na,
segundo a qual a "Razo , e somente deve ser, o escravo de
pai xes, e nunca poder pretender a nenhuma outra f uno
que a de servi-las e obedec- l as"
3
. Estou pronto a admi ti r
que nada de grande jamais foi al canado sem pai xo, mas
acredito exatamente no oposto da af i r mao de Hume. O do-
m ni o das nossas pai xes atr avs daquela racionalidade l i mi -
tada da qual somos capazes , ' a meu ver, a ni ca esper ana
para a humanidade.
Spinoza i um santo dentre os grandes filsofos e, como
Scr ates e Hume, no era filsofo de profi sso ensinava
praticamente o contr r i o de Hume, mas de uma manei ra no
somente er r nea como eticamente i nacei tvel . El e era um
determinista (a exemplo de Hume) e a liberdade do homem
residia unicamente no fato de se ter um claro, distinto e
adequado entendimento das causas verdadeiras de nossas
aes: "Um afeto que uma pai xo deixa de ser uma
pai xo to logo dele seja formada uma i d i a "
4
. Enquanto
se tr ata de uma pai xo, estamos em suas garras e sem l i -
berdade, mas quando chegamos a formar uma i di a clara e
di sti nta, embora ainda subjugados pela pai xo, ns a trans-
formamos numa parte de nossa r azo. E isto apenas c l i -
berdade.
Eu considero estes ensinamentos uma forma perigosa e
i nsustentvel de racionalismo, mesmo sendo eu pr pr i o um
raci onal i sta de certo tipo. Antes de tudo, eu n o acredito no
determinismo, e no acho que Spinoza ou qualquer outro te-
nha desenvolvido argumentos bastante slidos para funda-
mentar esta teoria ou estabelecer uma r econci l i ao do deter-
mi ni smo com a liberdade humana (e, portanto, com o senso
comum). Parece-me que o determinismo de Spinoza um
erro tpi co dos filsofos, embora tenhamos que reconhecer
que mui to do que estamos fazendo (mas no tudo) seja de-
3 David Hume, A TreatUe of Human Nature, 1739-1740; ed. Selby-Blgge,
Olarendon Press, Oxford, 1888 (e muitas edies ulteriores), livro H,
parte iii, sec. III, p. 415.
4 Benedictus de Spinoza, Ethics, livro V, proposio III.
88
terminado e mesmo previsvel. Em segundo lugar, embora
tenha sentido, de alguma maneira, que um excesso daqui l o
que Spinoza entende por "pai xo" nos tire a liberdade, a sua
f r mul a citada por mi m nos faria no- r esponsavei s
por nossas aes, sempre que n o possamos tomar consci n-
cia, de uma maneira adequadamente raci onal , di sti nta e cl a-
r a, ' dos motivos dessas mesmas aes. Mas posso assegurar
que nunca haveremos de chegar a tal e, embora^ o fato
de ser racional em nossas aes e em nossas tr a nsa e s com
o nosso prxi mo seja, a meu ver, um objetivo dos mai s i m-
portantes (e Spinoza certamente t a mbm pensava assi m),
eu penso que poderemos dizer t-lo al canado.
K a nt um dos poucos pensadores realmente ori gi nai s e
admi rvei s dentre os filsofos de profisso, tentou solucionar
o problema de Hume, da rejeio da r azo, e o problema de
determinismo de Spinoza, falhando, entretanto, em ambos
os casos.
Estes so alguns dos maiores filsofos, que eu mui to
admiro. Vocs entender o porque eu devo fazer apologia da
filosofia.
V
E nunca fui um membro do Crculo de Vi ena, dos po-
sitivistas lgicos como os meus amigos Fr i tz Wai sman Her-
bert Fei gl e Vi ctor K r af t. Na verdade, Otto Neur ath chama-
va-me "a opi ni o ofi ci al ". Eu nunca fui convidado para ne-
nhuma das reuni es do Crculo, talvez devido a mmha co-
nhecida oposio ao positivismo. (Eu teria aceito um convite
com imenso prazer, pois n o somente alguns dos membros
do Crculo eram amigos meus pessoais, mas eu t a mb m
nutr i a a maior admi r ao por alguns dos outros _ mem-
bros ) Sob a i nfl unci a do Tractatus Logico-Philosophicus de
Ludwi g Wittgenstein, o Crcul o tornou-se n o somente anti -
metafsico como antifilosfico. Schliclc, o l der do Ci r cul o &,
formulou este pr i ncpi o mediante a profecia de que a filoso-
fi a "que nunca fala com sentido, mas somente a tr a vs de
5 o Crculo de Viena era, na verdade, um seminrio particular de Schlick
e os membros eram convidados pessoalmente por ele.
89
absurdos sem sentido", desapar ecer brevemente, pois os f i -
lsofos descobr i r o que sua audi nci a, cansada de tiradas
vazias, foi-se embora.
Wai sman concordou com Wittgenstein e Schl i ck duran-
te muitos anos. Eu acho que posso detectar em seu entusias-
mo pela Fi l osofi a o entusiasmo do convertido.
Eu sempre defendi a filosofia, e mesmo a metaf si ca, con-
tra o Crculo, embora tendo que admi ti r que os filsofos n o
estavam produzindo grandes coisas. Isto porque eu acredi-
tava que mui ta gente, e eu dentre eles, ti nha problemas
genuinamente filosficos de vri os graus de seriedade e di -
ficuldade, e que estes problemas no eram i nsol vei s.
Na verdade, a exi stnci a de problemas filosficos sri os
e urgentes e a necessidade de discuti-los criticamente , a
meu ver, a ni ca apologia para aquilo chamado de filosofia
acadmi ca ou profisisonal.
Wittgenstein e o Crculo de Vi ena negavam a exi stnci a
de problemas filosficos srios.
De acordo cm a parte fi nal do Tractatus, os problemas
aparentes da filosofia (incluindo aqueles do Tractatus) so
pseudo-problemas, que surgem por se falar sem se ter dado
sentido a todas as nossas palavras. Esta teoria pode ser con-
siderada como i nspi rada pela soluo de Russell de paradoxos
lgicos como pseudo-proposi es que nem so verdadeiras
nem falsas, mas sem significado. Isto conduz moderna tc-
ni ca filosfica de estigmatizar todo tipo de proposi es i n -
convenientes ou problemas como "sem sentido". O j falecido
Wittgenstein costumava falar de "quebr a- cabeas" resul tan-
tes de abusos filosficos de linguagem. Eu s posso dizer que,
se no tivesse problemas filosficos srios e n o tivesse es-
per ana de resolv-los, eu no teria razo de ser um filsofo.
A meu ver, h o haveria apologia para a filosofia.
VI
Nesta seo enumerarei algumas idias filosficas e ati -
vidades que so mui tas vezes tidas como car acter sti cas da
filosofia e que eu, positivamente, reputo i nsati sf atr i as. A se-
o poderia ser i nti tul ada: "O que no entendo por filosofia".
1. Eu no entendo por filosofia a sol uo de quebra-
cabeas l i ng sti cos.
2. Eu no entendo por filosofia uma srie de trabalhos
de arte, tal como notvei s e ori gi nai s modos, de descrever o
mundo. Eu acho que se ns encaramos a Filosofia dessa ma-
neira, cometemos uma verdadeira i njusti a para com os gran-
des filsofos. Os grandes n o estavam preocupados com um
esforo esttico. Eles n o tentaram ser arquitetos de sistemas
engenhosos, mas como os grandes cientistas, eles eram antes
de tudo pessoas que procuravam a verdade qu e procura-
vam solues verdadeiras de problemas genu nos. No, eu
considero a hi str i a da Fi l osofi a como uma parte essencial
da hi str i a da busca da verdade e rejeito o aspecto 'puramente
estti co da mesma, embora a beleza seja importante na filo-
sofia, como na ci nci a.
Eu sou par ti dr i o da a u d ci a intelectual. Ns no pode-
mos ser intelectualmente covardes e ao mesmo tempo buscar
a verdade. Aquele que busca a verdade deve ousar ser s-
bio ele deve ousar ser um r evol uci onr i o no campo do
pensamento.
3. Eu no considero a l onga hi str i a dos sistemas filo-
sficos como um dos edifcios intelectuais onde todas as idias
possveis so testadas e onde a verdade pode talvez vi r luz
como um subproduto. Eu acredito que estamos cometendo
uma i njusti a para com os filsofos verdadeiramente gran-
des, do passado, se duvidamos, por um momento, que cada
um deles no teria se desvencilhado do seu sistema (o que
ele deveria ter feito) tivesse ele se convencido de que, embora
brilhante, talvez, no estava dando um passo no caminho da
verdade. (Esta, a pr opsi to, a r azo pela qual no considero
Fi chte ou Hegel como verdadeiros filsofos: eu desconfio da
sua devoo pela verdade.)
4. Eu no entendo por Filosofia uma tentativa, seja de
esclarecer, analisar ou "expl i car" conceitos, palavras ou l i n-
guagens.
Conceitos ou palavras so meros instrumentos para for-
mul ar proposies, conjeturas e teorias. Conceitos ou pa-
lavras no podem ser verdadeiros per se: eles servem mera-
mente linguagem humana descritiva e de ar gumentao.
Nosso objetivo n o deveria ser analisar significados, mas bus-
car verdades importantes e interessantes, ou seja, teorias
verdadeiras.
5. Eu no entendo por Filosofia uma maneira de ser
esperto.
90
91
6. Eu n o entendo por Filosofia um tipo de terapia i n-
telectual (Wi ttgenstei n), uma atividade voltada para ajudar
as pessoas diante de perplexidades filosficas. Na mi nha opi -
ni o, Wi ttgenstei n (em seu l ti mo trabalho) no mostrou ao
inseto o cami nho para sair da garrafa. Mais especificamente,
eu vejo no inseto, incapaz de escapar da garrafa, um sur-
preendente auto-retrato de Wittgenstein. (Wittgenstein era
um caso wi ttgenstei ni ano assim como Freud era um caso
Freudiano. )
7. Eu n o considero a Filosofia como um estudo visan-
do expressar as coisas com mais preciso ou exati do. Pr eci -
so e exati do n o so valores 'intelectuais por si mesmos e
nunca devemos tentar ser mais precisos ou exatos do que o
exigido pelo probl ema que temos em mos.
8. Da mesma maneira, eu no considero a Fi l osofi a
como uma tentati va de supri r as fundaes ou a estrutura
conceptual par a solucionar problemas que podem vir a apa-
recer num futuro pr xi mo ou mais distante. John Lock fez
i sto: ele queri a escrever um ensaio sobre tica e achou ne-
cessri o antes fornecer as preliminares conceptuais.
Seu Ensaio consiste destas preliminares, e filosofia br i -
tni ca , desde e nt o (com muito poucas excees, como al -
guns ensaios pol ti cos de Hume), permaneceu atolada nestas
preliminares.
9. Outrossi m, n o considero a Filosofia como uma ex-
pr esso do espr i to da poca. Esta uma idia hegeliana que
no resiste cr ti ca. Exi stem modas na filosofia, como na
ci nci a. Mas um pesquisador genu no da verdade no segui-
r a moda; ele desconf i ar de modas e haver mesmo que
combat- l as.
VII
Todos os homens e todas as mulheres so filsofos. Se
eles no tm consci nci a de seus problemas filosficos, de
qualquer manei ra eles t m preconceitos filosficos. Na maio-
r i a das vezes trata-se de teorias que eles tomam como cer-
tas: eles absorveram as mesmas atr avs do meio ambiente
intelectual ou pela tr adi o.
Considerando que poucas destas teorias sao adotadas
conscientemente, elas so preconceitos, uma vez que so ado-
92
tadas sem um exame cr ti co, apesar de serem de grande i m-
por tnci a para os atos pr t i cos da pessoa e para toda a sua
vida.
uma apologia par a a e xi stnci a da filosofia profissio-
nal os homens terem que examinar criticamente estas teorias
to poderosas e difundidas.
Teorias como estas so um ponto de parti da pr ecr i o
para toda ci nci a e toda filosofia. Toda filosofia deve parti r
de pontos dbi os, e mui tas vezes perniciosos, do senso comum
no-crtico. Seu objetivo a l ca n a r o senso comum crti co e
esclarecido: al canar um ponto mai s perto da verdade e com
uma influncia menos perni ci osa na vi da humana.
VI I I
Apresentarei alguns exemplos de preconceitos filosficos
difundidos.
Existe uma viso filosfica da vi da, de grande i nf l un-
cia, no sentido de que sempre que algo realmente r ui m (ou
que nos desagrada profundamente) acontece no mundo, en-
to tem que haver a l gum r esponsvel por isto: deve haver
al gum que provocou isto i ntenci onal mente. Esta i di a
muito antiga.
Para Homero a inveja e f r i a dos deuses eram os respon-
sveis por quase todas as de sgr a a s que aconteciam no campo
antes de Tr i a e a Tr i a mesma; e Poseidon foi responsa-
bilizado pelas desventuras de Odisseu. Mai s tarde, no pensa-
mento cri sto, o demni o o r esponsvel pelo mal ; no mar-
xismo vulgar a conspi r a o dos cobiosos capitalistas que
impede o advento do soci al i smo e o estabelecimento do cu
na terra.
A teoria que considera guerra, pobreza e desemprego
como um resultado de al guma m i nte n o, de al gum pro-
jeto sinistro, faz parte do senso comum mas no cr ti ca.
Eu chamei esta teoria n o- cr ti ca do senso comum de "teoria
de conspi rao da sociedade". Pode-se mesmo cham- l a a teo-
ria de conspi rao do mundo. amplamente difundida e,
como uma busca de bodes e xpi a tr i os, i nspi rou muitos con-
flitos polticos e gerou os mai s ter r vei s sofrimentos.
Um aspecto da teoria de conspi r a o da sociedade que
ela encoraja reais conspi r aes. Mas, uma i nvesti gao cr -
93
ti ca mostra que conspi raes quase nunca a l ca n a m seus fins.
Le ni n, que sustentava a teoria da conspi r ao, foi um cons-
pi rador, e da mesma maneira Mussol i ni e Hi tl er. Mas os ob-
jetivos de Leni n n o foram concretizados na Rssi a, nem os
objetivos de Mussol i ni ou Hi tl er foram al canados na I t l i a
e Al emanha.
Todos estes conspiradores se tornaram conspiradores
porque acreditavam, sem espri to crti co, numa teoria de
conspi r ao da sociedade.
Pode ser talvez uma modesta, mas no completamente
insignificante contr i bui o Filosofia, chamar a te n o para
os erros da teoria de conspi rao da sociedade. Al m do mai s,
esta contr i bui o conduz a outras contr i bui es tais como
descoberta do significado para a sociedade de conseqncias
no premeditadas de atos humanos, e sugesto de consi-
derarmos como sendo a finalidade das ci nci as sociais ter i -
cas a descoberta daquelas relaes sociais qu acarretam as
conseqnci as no premeditadas das nossas aes.
O problema da guerra, por exemplo. Mesmo um filsofo
cr ti co da envergadura de Bertrand Russell acreditava que
temos de explicar guerras por motivos psicolgicos por
causa da agressividade humana. No nego a exi stnci a da
agressividade, mas me surpreende que Russell no visse que
as guerras modernas, em sua maioria, foram inspiradas mais
por medo de agresso do que por agressividade pessoal. Fo-
r am, ou guerras ideolgicas inspiradas pelo medo do poder de
al guma conspi r ao, ou guerras que ni ngum queria, mas que
surgi ram como resultado do medo inspirado por al guma si -
t u a o objetiva. Um exemplo o medo mt u o de agr esso,
que conduz a uma corrida de armamentos e da guerra,
talvez a uma guerra preventiva como a que, mesmo Russel l ,
um i ni mi go da guerra e da agresso, recomendou uma vez,
temendo (com razo) que a Rssi a logo tivesse a bomba de
hi dr ogni o. ( Ni ngum desejava a bomba: foi o medo de
Hi tl er vi r a monopol i z-l a que levou sua constr uo. )
Ou, ento, tomemos um exemplo diferente de um pre-
conceito filosfico. Existe o preconceito de que as opi ni es
de um homem so sempre determinadas pelo seu interesse
pr pr i o. Esta doutrina (que pode ser descrita como uma for-
ma degenerada da doutrina de Hume de que a r azo , e deve
ser, o escravo das paixes) no uma regra aplicada ao pr -
94
prio (isto foi feito por Hume, que pregava a modsti a e o
ceticismo com respeito aos nossos poderes de r azo, os seus
prprios i ncl u dos) ; como regra somente era aplicada ao pr -
ximo cuja opi ni o difere da nossa. El a nos impede de es-
cutar pacientemente as opinies divergentes das nossas e de
consider-las seriamente, porque ns podemos ta ch- l a s como
"interesses" do pr xi mo.
Mas, isto torna i mpossvel uma discusso raci onal . Leva
a uma deter i or ao de nossa curiosidade natural , de nosso
interesse em descobrir a verdade das coisas. Ao i nvs da i m-
portante pergunta "O que a verdade sobre este assunto?",
levanta outra questo, decididamente menos i mportante: "O
que o seu interesse pr pr i o, quais so seus motivos ocul -
tos?". Impede que aprendamos com as pessoas cujas opi ni es
diferem da nossa, e conduz a uma dissoluo da unidade da
humanidade, unidade esta que est fundada na nossa racio-
nalidade comum.
Um semelhante preconceito filosfico a tese, pre-
sentemente mui to difundida, de que a discusso somente
possvel entre pessoas que concordam entre si quanto a pr i n-
cpios bsicos. Esta perniciosa doutrina implica em que uma
discusso cr ti ca ou raci onal sobre princpios i mpossvel e
conduz a conseqnci as to indesejveis como aquelas das
doutrinas discutidas anteriormente
6
.
. Estas doutrinas so adotadas por muita gente, mas per-
tencem a um campo de filosofia que foi uma das pri nci pai s
preocupaes de muitos filsofos profissionais: a teoria do
conhecimento.
I X
A meu ver, os problemas da teoria do conhecimento for-
mam o verdadeiro cor ao da filosofia, tanto da filosofia do
senso comum popular ou no-crti co como da filosofia aca-
dmi ca. Eles so mesmo decisivos para a teoria da ti ca (co-
mo Jacques Monod nos advertiu, recentemente"?).
6 Vide tambm meu trabalho "The Myth of the Pramework", em Schilpp
Pestschrift, The Abdication of Philosophy, ed. E. Freeman, Open Court.
La Salle, Illinois.
7 Jacques Monod, Chanceand Necessity, Alfred Knopf Inc., New York, 1971.
95
Focal i zado sob um prisma mais simples, o principal pro-
bl ema aqui como em outras r eas da f i l osof i a o conf l i to
entre "oti mi smo e pi ste mol gi co" e "pessimismo e pi ste mol -
gi co". Podemos ter conhecimento? At onde podemos enten-
der? Enquanto o otimista epi stemol gi co acredita na possi bi -
l i dade do conheci mento humano, o pessi mi sta acredita que
o conhecimento genu no est alm do poder do homem.
Eu sou um admirador do senso comum, embora no de
todo ele; acho que o senso comum nosso ni co ponto de
partida poss vel . Mas ns no devemos tentar erigir um edi -
fcio seguro de conhecimento sobre ele, pois, ao contrri o, de-
vemos cr i ti c- l o e me l hor - l o. Portanto, eu sou um realista
do senso comum; eu acredito na real i dade da matr i a (que
consi dero como o verdadeiro' par adi gma daqui l o que a pa-
l avra "real " deve denotar), e por esta r azo, eu deveria cha-
mar a mi m mesmo um "mater i al i sta", n o fosse pel o fato
de que este termo ta mbm denota um credo que (a) conde-
na a matr i a como essencialmente i r r edut vel e (b) nega a
realidade dos campos imateriais de f or as e, naturalmente,
ta mbm da mente, ou consci nci a; e de qualquer outra coisa
que no seja matri a.
Eu sigo o senso comum na suposi o de que existem am-
bos, matr i a ("mundo 1") c mente ("inundo 2"), c eu pro-
ponho que t a mbm existem outras coisas, especialmente, os
produtos da mente humana, que i ncl uem nossas conjeturas
ci entf i cas, teorias, e problemas ("mundo 3"). Em outras pa-
lavras, eu sou um pluralista do senso comum. Eu estou bem
preparado para ver esta posi o cr i ti cada e substi tu da por
uma mais vl i da, mas todos os argumentos crticos contra
ela que conheo so, na minha opinio, ilegtimos^. (A pro-
psi to, eu considero o pl ural i smo aqui descrito como sendo
necessr i o tica.)
Todos os argumentos que foram enunciados contra um
realismo pluralista so baseados no m ni mo, numa aceitao
no-crtica da teoria do senso comum do conhecimento, que
eu considero a parte mais fraca do senso comum.
A teoria do senso comum do conhecimento altamente
oti mi sta, na medi da que ela equaci ona conhecimento com
8 Vi de, por exemplo, K . R. Popper, Objeclive Knowledge: An Evolutionary
Approach, Cl arendon Press, Oxf or d, 1972: 4
3
e di o, 1975 (especi al -
mente captulo 2).
96
certos conhecimentos; tudo o que conjetura, segundo esta
teoria, nao realmente "conhecimento". Eu repudio este ar-
gumento como meramente verbal. Eu devo admi ti r que o ter-
mo "conhecimento" traz consigo, em todas as linguagens que
conheo, a conotao da certeza; mas o programa do senso
comum, no sentido de comear a parti r daquilo que parece
ser o conhecimento mais seguro ou bsi co que podemos ad-
qui ri r (conhecimento observacional), a fi m de eri gi r sobre
estes fundamentos um edifcio de conhecimento seguro, no
resiste cr ti ca. A pr opsi to, ela conduz a duas vises da rea-
lidade isentas do senso comum, que entram em contr adi o
direta uma com a outra:
1. Imaterialismo (Berkeley, Hume, Mach) .
2. Materi al i smo behaviourista (Watson, Ski nner ) .
A pri mei ra destas nega a realidade do fato, porque a ni -
ca base certa e segura de nosso conhecimento so nossas pr -
prias experincias relativas -percepo; e estas permanecem,
para todo o sempre, i materi ai s.
A segunda nega a exi stnci a da mente (e, portanto, da
liberdade humana) , porque tudo o que podemos realmente
observar o comportamento humano que em cada faceta
como o comportamento ani mal (exceto que incorpora um
campo importante e amplo, "comportamento l i ng sti co") .
Ambas estas teorias esto baseadas na i l eg ti ma teoria
do conhecimento do senso comum, que conduz a uma cr ti ca
tradi ci onal , mas n o vl i da da teoria do senso comum sobre
a realidade. Ambas estas teorias n o so eticamente neutras,
mas perniciosas; se eu desejo confortar uma cr i ana que cho-
ra, eu nao. desejo parar com algumas percepes i rri tantes
(minhas ou suas); nem desejo mudar o comportamento da
cr i ana; ou parar as gotas d' gua de rolar de sua face abaixo.
No, meus motivos so diferentes n o demonstr vei s, no
dedut vei s, mas humanos.
O imaterialismo (que deve sua origem i nsi stnci a de
Descartes que natural mente n o era um imaterialista
de que devemos parti r de uma base i ncontestvel tal como
o conhecimento de nossa pr pr i a exi stnci a) al canou seu
apogeu na passagem do scul o com Ernst Mach, mas agora
j perdeu mui to de sua i nf l unci a. No est mais na moda.
97
O behaviourismo a negao da exi stnci a da mente
est muito na moda atualmente. Embor a louve a obser vao,
ela n o somente afronta toda a exper i nci a humana, mas
t a mbm tenta originar a parti r de suas teorias uma teori a
eticamente terrvel a teoria do condicionamento
9
; embo-
ra nenhuma teoria ti ca seja, na verdade, dedutvel da na-
tureza humana. (Jacques Monod enfatizou este ponto com
toda a r azo IO; vide t a mbm meu trabalho Open Society and
Its Enemies (A Sociedade Aberta e Seus Inimigos) l i ) . de
se esperar que esta moda, baseada numa acei tao na o- cr ti -
ca da teoria do conhecimento do senso comum cuja insus-
tentabilidade eu tentei mostr ar
1 2
, um di a perca a sua i n -
fl unci a.
X
O que eu considero por filosofia, nunca t e r que ser, e
na verdade nunca poder ser, divorciada das ci nci as. Hi s-
toricamente, toda a ci nci a ocidental um produto da es-
pecul ao filosfica grega sobre os cosmos, a ordem do mun-
do. Os ancestrais comuns de todos os filsofos so Homero,
Hesodo e os pre-socrti cos. O fundamental para eles a ques-
t o sobre a estrutura do universo, e do nosso lugar neste uni -
verso, incluindo o problema do nosso conhecimento do uni ver-
so (um pr obema que, a meu ver, permanece decisivo para
toda a filosofia). E a pergunta cr ti ca dentro das ci nci as,
suas descobertas, e seus mtodos que permanecem u ma ca-
r acter sti ca da pergunta filosfica, mesmo depois de as ci n-
9 o sonho do condicionador onipotente pode ser encontrado no Behaviou-
rismo de Watson e tambm no trabalho de Skinner (por exemplo,
Beyond Freeom and Dignity, Alfred Knop, New York 1971). Eu posso
citar "Watson: "D-me uma dzia de infantes sadios . . . e eu garanto
pegar qualquer ao acaso e trein-lo para tornar-se qualquer tipo de
especialista que eu venha a escolher mdico, advogado, artista . . .
(ou) ladro" (J. B. Watson, Behaviourism, 2.
a
ed., Routledge, London, 1931,
p. 104). Portanto, tudo depender das morais do condicionador onipo-
tente. (Ainda, de acordo com os condicionadores, estas morais no so
nada, mas sim o produto de condicionamento.)
10 Ver nota 7.
11 K. R. Popper, The Open Societyand its Enemies, 2 volumes, Routledge
& Kegen Paul, London, 1945; 5.
a
ed., 1969; l l .
a
edio 1974.; Princenton
University Press, Princeton, N. J., 1950; e Princeton (brochura), 1971.
12 Ver Objective Knowlege: An Evolutionary Approach, captulo 2.
98
cias terem se separado dela. Os Mathematical Principies oi
Natural Philosophy, de Newton, fizeram, na mi nha opi ni o
a maior r evol uo i ntel ectual , em toda a hi str i a da huma-
nidade. Este trabalho mar ca a r eal i zao de um sonho que
ti nha uns mi l anos; ele mar ca a maturi dade da ci nci a e sua
separ ao definitiva da filosofia. Mas o pr pr i o Newton, co-
mo todos os grandes cientistas, permaneceu um filsofo; e
apesar do perfecionismo que i mpr egna seu trabalho, ele per-
maneceu um pensador cr ti co, um pesquisador, e um cti co
com respeito s suas pr pr i a s teorias. Tanto que escreveu,
em sua carta a Bentl ey (25 de fevereiro de 1693), sobre sua
pr pr i a teoria que envolve a o di stnci a (os grifos so
meus):
Que a gravidade deva ser congnita, inerente, e essencial
matria, a jim e que ningum possa agir sobre outro a uma
distncia... para mim um tal absurdo que eu acredito que
nenhum homem que, em assuntos filosficos, tenha uma fa-
culdade apta de pensar possa jamais cair nisso.
Poi sua pr pr i a teoria de ao a uma di stnci a que o
conduziu necessariamente a ambos; ceticismo c misticismo.
Ele raciocinava que se todas regi es vastamente distantes
do espao pudessem i nter agi r instantaneamente uma com
a outra, e nt o isto se deve oni pr esena, ao mesmo tem-
po, de uma mesma entidade em todas as regi es onipre-
sena de Deus. Poi , portanto, a tentati va de solucionar este
problema de ao a uma di st nci a que conduziu Newton
sua teoria m sti ca de acordo com a qual o espao o senso-
r i um de Deus; uma teoria na qual ele transcendeu a ci nci a
e que combinava filosofia cr ti co- especul ati va e rel i gi o es-
peculativa. Sabemos que Ei nstei n era motivado de manei r a
si mi l ar.
XI
Eu admito que existem al guns problemas sutis na fi l o-
sofia que tm seu l ugar natur al , e na verdade seu ni co l u -
gar, na filosofia acadmi ca, por exemplo, os problemas da l-
gi ca ma t e mt i ca e, mais genericamente, a filosofia da mate-
mti ca . Eu estou imensamente impressionado pelo assombro-
so progresso feito nestes campos, no nosso scul o. -
Entretanto, no que se refere filosofia acadmi ca, em
99
y*><
geral, eu estou preocupado com a i nfl unci a do que Berkeley
costumava chamar de "filsofos do momento". A crti ca o
sangue vital da filosofia, com toda a certeza. Mesmo assim,
ns devemos evitar filigranas. Uma crti ca minuciosa de ques-
tes pontuais, sem um entendimento dos grandes problemas
de cosmologia, de conhecimento humano, de tica, e de filo-
sofia poltica, e sem uma tentativa sria e devotada de solu-
cion-los, parece-me fatal. >
como se cada passagem impressa que pudesse, com
algum esforo, ser mal-entendida ou mal-interpretada fosse
bastante boa para justificar a confeco de outro trabalho
crtico filosfico. O escolasticismo, no pior sentido da palavra,
abunda; todas as grandes idias so sepultadas numa torren-
te de palavras. Ao mesmo tempo, uma certa arrognci a e.
rudeza antes uma raridade na literatura filosfica pa-
rece ser aceita pelos editores de muitos jornais, como uma
prova de coragem de pensamento e originalidade.
Eu acredito que o dever de todo intelectual estar cons-
ciente da posio privilegiada que ocupa. Ele tem o dever de
escrever da maneira mais simples e clara a seu alcance, e
da maneira mais civilizada possvel; e nunca esquecer quer
os grandes problemas que afligem a humanidade e que exi-
gem novas e corajosas, mas pacientes idias, quer a mods-
tia de Scrates, do homem que sabe quo pouco ele sabe.
Como fui contra os filsofos do momento com seus problemas
do momento, eu acho que a principal tarefa da filosofia es-
pecular criticamente sobre o universo e sobre nosso lugar no
universo, incluindo nossos poderes de conhecimento .e nossos
poderes para o bem e para o mal .
XI I
Eu deveria talvez finalizar com um pouco de filosofia
decididamente no-acadmi ca.
Um dos astronautas participantes da primeira visita
l ua recebido com uma observao simples e sbi a fei ta.
quando de seu retorno (estou citando de me mr i a ) : "Eu vi
alguns planetas no meu dia, mas d-me a terra sempre". Eu
acho isto no somente sbio, mas ilosoficamente sbio. Ns
no sabemos como estamos vivos neste pequeno planeta ma-
ravilhoso ou porque existe algo como a vida, para fazer
nosso planeta to maravilhoso. Mas aqui estamos e temos
100
toda razo de nos maravilharmos com isso e nos sentirmos
gratos por isto. Isto quase um milagre. Conforme os ensi-
namentos da ci nci a, o universo quase vazio de ma t r i a s; e
onde h matr i a, a ma tr i a se encontra em toda parte num
estado catico e i nabi tvel . Talvez haja outros planetas com
vida. Assim mesmo, se escolhemos, ao acaso, um l ugar no uni -
verso, ento as probabilidades (calculadas com bases em nos-
sa cosmologia dbi a de hoje) de encontrarmos um corpo com
vida naquele l ugar ser de zero, ou quase de zero.
Portanto a vi da, seja como for, tem o valor de algo raro;
ela preciosa. Ns somos inclinados a esquecer isto e tratar
a vida como algo sem valor, talvez por falta de reflexo, ou
talvez porque esta nossa l i nda terra , sem dvi da, um pouco
superpovoada.
Todos os homens so filsofos, porque de uma manei r a
ou de outra assumem uma atitude diante da vida e da morte.
Existem aqueles que pensam que a vida no tem valor por-
que um dia termina. Eles deixam de ver que um argumento
contr r i o t a mbm pode ser proposto, que se n o existisse um
fim para a vida, a vi da no teria valor; que , em parte, o
perigo sempre presente de per d- l que nos ajuda a trazer
at ns o valor da vi da.
Traduo de Vilma de Oliveira Moraes e Silva, do ori-
ginal "How I see Philosophy". In: The Owl oi Miner-
va. New York, C. J. Bontempo and S. J. Odell, Mc
Gran Hill, 1975.
101
You might also like
- Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilFrom EverandPensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilNo ratings yet
- Bourdieu e GuiddensDocument345 pagesBourdieu e GuiddensShuzana SilvaNo ratings yet
- Acompanhamento de Competencias Ramo EscoteiroDocument34 pagesAcompanhamento de Competencias Ramo EscoteiroAnna100% (1)
- Agnes Heller - Uma Teoria Da HistoriaDocument6 pagesAgnes Heller - Uma Teoria Da HistoriaHellNo ratings yet
- AME Enfermagem PDFDocument8 pagesAME Enfermagem PDFCarlos Alberto Costa0% (6)
- Curso de Introdução À Economia Politica - Paul SingerDocument94 pagesCurso de Introdução À Economia Politica - Paul Singereng_arodriguesNo ratings yet
- Teorias Sociológicas: Os Fundadores e os ClássicosDocument168 pagesTeorias Sociológicas: Os Fundadores e os ClássicosMariaNo ratings yet
- 34 - SociologiaDocument29 pages34 - Sociologiafrancisco santosNo ratings yet
- Teoria Crítica e Cultura na ModernidadeDocument4 pagesTeoria Crítica e Cultura na ModernidadeAndré SoaresNo ratings yet
- Metodologia Da Aprendizagem em EadDocument133 pagesMetodologia Da Aprendizagem em Eadondaweb100% (1)
- Crítica da Filosofia do Direito de HegelDocument8 pagesCrítica da Filosofia do Direito de HegelRafael LoureiroNo ratings yet
- A tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXIFrom EverandA tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXINo ratings yet
- 5 - A Ecologia Do Desenvolvimento Humano - RESENHA DO LIVRODocument4 pages5 - A Ecologia Do Desenvolvimento Humano - RESENHA DO LIVROkawachan100% (1)
- Filosofia Da CiênciaDocument79 pagesFilosofia Da CiênciaMarcia FerraresiNo ratings yet
- Reflexões sobre Maquiavel e a políticaDocument257 pagesReflexões sobre Maquiavel e a políticaMiqueeNo ratings yet
- Arte e tridimensionalidadeDocument2 pagesArte e tridimensionalidadeAdriana CarrionNo ratings yet
- Estágio de Geografia no CEDIMDocument3 pagesEstágio de Geografia no CEDIMVictor AcousticNo ratings yet
- A virada linguística e os novos rumos da filosofiaDocument18 pagesA virada linguística e os novos rumos da filosofiaKárida MateusNo ratings yet
- Régis Jolivet - Tratado de Filosofia Tomo I - Lógica E Cosmologia PDFDocument419 pagesRégis Jolivet - Tratado de Filosofia Tomo I - Lógica E Cosmologia PDFDavi Rodrigues de SouzaNo ratings yet
- ADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaDocument182 pagesADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaLinda Mara Fraga100% (2)
- Ética, Política e Educação em Aristóteles - Trabalho CompletoDocument23 pagesÉtica, Política e Educação em Aristóteles - Trabalho CompletoPaulo Tarso100% (1)
- A Filosofia do Iluminismo segundo Ernst CassirerDocument238 pagesA Filosofia do Iluminismo segundo Ernst CassirerDenise Scandarolli100% (1)
- As críticas de Honneth e Fraser à política deliberativa de HabermasDocument14 pagesAs críticas de Honneth e Fraser à política deliberativa de HabermasThor VerasNo ratings yet
- Vida e obra do filósofo alemão Gottfried LeibnizDocument20 pagesVida e obra do filósofo alemão Gottfried LeibnizL Proscholdt AlmeidaNo ratings yet
- Conhecimento, Ciência e Ética na Epistemologia de FourezDocument8 pagesConhecimento, Ciência e Ética na Epistemologia de FourezSilvanderson SantosNo ratings yet
- Bourdieu coleção grandes cientistas sociaisDocument4 pagesBourdieu coleção grandes cientistas sociaisMateus Alves0% (1)
- STRAUSS, Anselm L. Espelhos e Máscaras. Capítulos 1-3Document2 pagesSTRAUSS, Anselm L. Espelhos e Máscaras. Capítulos 1-3Martha Rhodes0% (1)
- A "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Document9 pagesA "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Rosi GiordanoNo ratings yet
- ALBERTI, Verena. Manual de História OralDocument12 pagesALBERTI, Verena. Manual de História OralSheyla FariasNo ratings yet
- Horkheimer Teoria Critica IDocument254 pagesHorkheimer Teoria Critica IFabiano Soares Gomes0% (1)
- Ideologia e contraideologia: temas e variações de Alfredo BosiDocument5 pagesIdeologia e contraideologia: temas e variações de Alfredo BosiMauro L.No ratings yet
- A importância dos sofistas no ensino de filosofiaDocument136 pagesA importância dos sofistas no ensino de filosofianicacio18No ratings yet
- A história da Escola de Frankfurt e sua teoria críticaDocument6 pagesA história da Escola de Frankfurt e sua teoria críticaOtonNo ratings yet
- Entre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerFrom EverandEntre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerNo ratings yet
- Max Weber - Ciencia e Politica - Duas Vocações (Livro)Document58 pagesMax Weber - Ciencia e Politica - Duas Vocações (Livro)Fran Siqueira100% (4)
- Ciência e Ética em Popper - A Ética Da Responsabilidade Dos CientistasDocument20 pagesCiência e Ética em Popper - A Ética Da Responsabilidade Dos CientistasAlexNo ratings yet
- A Transformação Da Filosofia, Seguido de Marx e Lênin Perante Hegel - Louis AlthusserDocument63 pagesA Transformação Da Filosofia, Seguido de Marx e Lênin Perante Hegel - Louis AlthusserAgnus LaurianoNo ratings yet
- Guia para a utilização do compêndio de matemáticaDocument198 pagesGuia para a utilização do compêndio de matemáticaDrumom AndrNo ratings yet
- Fundamentos Metodológicos Das Ciências SociaisDocument205 pagesFundamentos Metodológicos Das Ciências SociaisJulio RibeiroNo ratings yet
- Scheler Essencia Da FilosofiaDocument54 pagesScheler Essencia Da FilosofiaAcleylton CostaNo ratings yet
- HUSSERL, Edmund. A Ideia Da FenomenologiaDocument64 pagesHUSSERL, Edmund. A Ideia Da FenomenologiaPôlipìpô SalamandraNo ratings yet
- Fiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015Document25 pagesFiolosofia EDU UN03 00 22-04-2015William PimentelNo ratings yet
- UFSC Racionalidade e Objetividade CientíficaDocument259 pagesUFSC Racionalidade e Objetividade CientíficakkadilsonNo ratings yet
- Karl Popper e a refutabilidade como critério da demarcação entre ciência e não-ciênciaDocument2 pagesKarl Popper e a refutabilidade como critério da demarcação entre ciência e não-ciênciaFelipe MotaNo ratings yet
- A comunicação e as organizações como sistemas complexosDocument16 pagesA comunicação e as organizações como sistemas complexosMarcelynne AranhaNo ratings yet
- O Valor Da Ciencia - Henri Poincare PDFDocument155 pagesO Valor Da Ciencia - Henri Poincare PDFMateus TarozoNo ratings yet
- Origens da Sociologia na França do século XIXDocument3 pagesOrigens da Sociologia na França do século XIXAnderson AntunesNo ratings yet
- VEBLEN, Thorstien - Consumo Conspícuo - A Teoria Da Classe OciosaDocument17 pagesVEBLEN, Thorstien - Consumo Conspícuo - A Teoria Da Classe OciosaJulia Sellanes100% (1)
- Lima VazDocument14 pagesLima VazMarcos MayelaNo ratings yet
- Casamento e Amor Na Pós-Modernidade FaseDocument133 pagesCasamento e Amor Na Pós-Modernidade FaseGiovana BiancoNo ratings yet
- Karl Popper, As Ciências Sociais e A EconomiaDocument14 pagesKarl Popper, As Ciências Sociais e A EconomiaJoão Marcos OliveiraNo ratings yet
- A Arte Diante Do Mal Radical Thierry de DuveDocument16 pagesA Arte Diante Do Mal Radical Thierry de DuveLelo IurkNo ratings yet
- MERLEAU - PONTY. Conversas, 1948Document50 pagesMERLEAU - PONTY. Conversas, 1948renan_pazinatto100% (1)
- Cassirer Ensaio Sobre o HomemDocument64 pagesCassirer Ensaio Sobre o HomemLuisNo ratings yet
- Axel Honneth PDFDocument18 pagesAxel Honneth PDFivanpf50% (2)
- O Homo Sociologicus em Weber e DurkheimDocument10 pagesO Homo Sociologicus em Weber e DurkheimRaphael T. SprengerNo ratings yet
- Ciência e Desenvolvimento - Mario BungeDocument144 pagesCiência e Desenvolvimento - Mario BungeAntonioNo ratings yet
- Sociologia Volume 2 PDFDocument70 pagesSociologia Volume 2 PDFMatheusNo ratings yet
- A Relação Dialética - KowarzikDocument17 pagesA Relação Dialética - KowarzikAdriano SantosNo ratings yet
- Fenomenologia e DialéticaDocument172 pagesFenomenologia e DialéticaDalvaro SouzaNo ratings yet
- A Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtFrom EverandA Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtNo ratings yet
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosFrom EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNo ratings yet
- Referenciais de Qualidade para A EadDocument31 pagesReferenciais de Qualidade para A EadRobert CooperNo ratings yet
- Gestao PedagogicaDocument3 pagesGestao PedagogicaRobert CooperNo ratings yet
- O Tempo Piaget BergsonDocument9 pagesO Tempo Piaget BergsonRobert CooperNo ratings yet
- DEMO Pedro Metodologia Cientifica em Ciencias SociaisDocument146 pagesDEMO Pedro Metodologia Cientifica em Ciencias SociaisjosesilvaaNo ratings yet
- Arete - v6 - n10 2013 p.87 97Document11 pagesArete - v6 - n10 2013 p.87 97Robert CooperNo ratings yet
- Sociedade Da InformacaoDocument21 pagesSociedade Da InformacaoRobert CooperNo ratings yet
- Bruner - 1991 A Construção Narrativa Da RealidadeDocument21 pagesBruner - 1991 A Construção Narrativa Da RealidadeRobert CooperNo ratings yet
- PI Final para Aprovação - Revisao SheiladocxDocument29 pagesPI Final para Aprovação - Revisao Sheiladocxsheila schuindtNo ratings yet
- Modelo Artigo Completo Obrigatório Relato de CasoDocument9 pagesModelo Artigo Completo Obrigatório Relato de CasoAndré LuísNo ratings yet
- Escolha da variedade de espanholDocument105 pagesEscolha da variedade de espanholDiego OmeroNo ratings yet
- Plano de Trabalho Docente IFCEDocument8 pagesPlano de Trabalho Docente IFCEEnio RomagnomeNo ratings yet
- O primeiro dia de aulaDocument2 pagesO primeiro dia de aulaJosé Gomes de CarvalhoNo ratings yet
- 2022 PV Reaplicacao PPL D1 CD1 PDFDocument32 pages2022 PV Reaplicacao PPL D1 CD1 PDFVitorNo ratings yet
- Relatório Económico de Angola 2013Document408 pagesRelatório Económico de Angola 2013Walter ClarkeNo ratings yet
- Atividade ProbabilidadeDocument9 pagesAtividade ProbabilidadeGabriel FurtadoNo ratings yet
- 2014 Anuário Conscienciologia 2014 Site PDFDocument272 pages2014 Anuário Conscienciologia 2014 Site PDFCida NicolauNo ratings yet
- A poesia no letramento de jovens e adultosDocument4 pagesA poesia no letramento de jovens e adultosMeire C N Moreira100% (1)
- Regulamento Moradia Estudantil PDFDocument14 pagesRegulamento Moradia Estudantil PDFSamara KilluaNo ratings yet
- PLANO DE CURSO INTRODUÇÃO À LÍNGUA GREGADocument5 pagesPLANO DE CURSO INTRODUÇÃO À LÍNGUA GREGAAgenicosKEKNo ratings yet
- Anexo 4 - Ficha de PresençaDocument2 pagesAnexo 4 - Ficha de PresençaNailde MariaNo ratings yet
- Cuidados para Os Aficionados em GamesDocument2 pagesCuidados para Os Aficionados em GamesAndreane Lima E SilvaNo ratings yet
- Formação de professores de ciências: interdisciplinaridade e resolução de problemasDocument23 pagesFormação de professores de ciências: interdisciplinaridade e resolução de problemasMaría Elena Infante-MalachiasNo ratings yet
- Edital IFMGDocument35 pagesEdital IFMGMagno TarantinoNo ratings yet
- Humberto MariottiDocument11 pagesHumberto Mariottirafael_marzpc100% (1)
- SonetoDocument86 pagesSonetoPétis PétisNo ratings yet
- TermoAditivoEstagioDocument2 pagesTermoAditivoEstagioClara NunesNo ratings yet
- Núcleo de Concursos UFPRDocument5 pagesNúcleo de Concursos UFPRJúnior SilvaNo ratings yet
- Apostila ADS 2014-2 PDFDocument34 pagesApostila ADS 2014-2 PDFncaminiNo ratings yet
- Concurso público aprova enfermeiros, inspetores e médicosDocument118 pagesConcurso público aprova enfermeiros, inspetores e médicosGuilhermeVenturimNo ratings yet
- Quadros de Mérito e Excelência 2014/2015Document19 pagesQuadros de Mérito e Excelência 2014/2015Agrupamento de Escolas de Alvalade, LisboaNo ratings yet