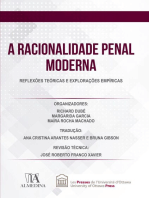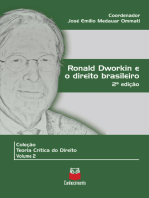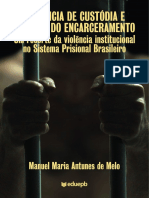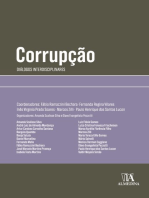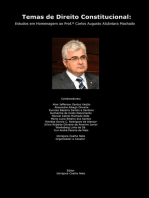Professional Documents
Culture Documents
Criminologia & Cinema - Perspectivas Sobre o Controle Social
Uploaded by
Antunes Marcus ViníciusCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Criminologia & Cinema - Perspectivas Sobre o Controle Social
Uploaded by
Antunes Marcus ViníciusCopyright:
Available Formats
Perspectivas sobre o Controle Social
Criminologia
&
Cinema
_
Organizadores
Cristina Zackseski | Evandro Piza Duarte
Prefcio de Roberto A. R. de Aguiar
Autores
Adriane Reis de Arajo
Andr Ribeiro Giamberardino
Barbara Hudson
Carmen Hein de Campos
Cristina Zackseski
Eliezer Gomes da Silva
Evandro Piza Duarte
Menelick de Carvalho Netto
Virglio de Mattos
Braslia - 2012
Cristina Zackseski | Evandro Piza Duarte
Prefcio de Roberto A.R. de Aguiar
Criminologia
& Cinema_
Perspectivas sobre o Controle Social
REITORIA
Reitor
Getlio Amrico Moreira Lopes
Vice-Reitor
Edevaldo Alves da Silva
Pr-Reitora Acadmica
Presidente do Conselho Editorial
Elizabeth Lopes Manzur
Pr-Reitor Administrativo-Financeiro
Edson Elias Alves da Silva
Secretrio-Geral
Maurcio de Sousa Neves Filho
DIRETORIA
Diretor Acadmico
Carlos Alberto da Cruz
Diretor Administrativo-Financeiro
Geraldo Rabelo
Organizao
Biblioteca Reitor Joo Herculino
Centro Universitrio de Braslia UniCEUB
SEPN 707/709 Campus do CEUB
Tel. 3966-1335 / 3966-1336
Capa
Renato Wilmers de Moraes
Projeto Grfco
Renovacio Criao
Diagramao
Roosevelt S. de Castro
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Criminologia e cinema: perspectivas sobre o controle social / Cristina Zackseski,
Evandro C. Pisa Duarte (orgs.); Prefcio de Roberto Aguiar. Braslia :
UniCEUB, 2012.
236 p.
ISBN: 85-61990-06-0
1. Criminologia. 2. Sociologia jurdica. 3. Cinema. I. Zackseski, Cristina.
II. Duarte, Evandro C. Pisa
CDU 343.9
Ficha catalogrfca elaborada pela Biblioteca Reitor Joo Herculino
Adriane Reis de Arajo
Doutoranda em Derecho del Trabajo na Universidad Complu tense de
Madrid. Mestre em Direito das Relaes Sociais PUC/SP (2005). Procurado-
ra Regional do Trabalho. Integra o corpo docente da Escola Superior do Mi-
nistrio Pblico da Unio ESMPU. Tem experincia na rea de Direito, com
nfase em Direito do Trabalho, atuando, principalmente, nos seguintes temas:
Trabalho Voluntrio, Questes de Gnero, Condutas Anti-sindicais, Ao Ci-
vil Pblica e Assdio Moral.
Andr Ribeiro Giamberardino
Mestre em Direito pelo Programa de Ps-Graduao da Uni versidade
Federal do Paran (2008). Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo
Instituto de Criminologia e Poltica Criminal (ICPC) & Universidade Fede-
ral do Paran (2008). Cursou Master in Criminologia Critica, Prevenzione e
Sicure zza Sociale pela Universit di Padova (2009). Professor de Direito Penal
na Universidade Federal do Paran.
Barbara Hudson
Doutora pela Universidade de Essex. Professora Titular de Direito na
Universidade de Central Lancashire (Reino Unido), Diretora do Centro de
Criminologia e Justia Criminal da Fa culdade de Artes, Humanidades e Cin-
cias Sociais. Pesqui sa temas relacionados a teoria e flosofa da pena, punio
e desigualdade social e as tenses entre segurana e estado de direito. Possui
inmeras publicaes sobre Raa e Justia Criminal, Gnero e Justia, Pobre-
za e Punio, Justia Res taurativa, Direitos Humanos e Desigualdade Social,
Imigra o e Justia criminal.
AUTORES
Carmen Hein de Campos
Doutoranda em Cincias Criminais na PUC/RS. Mestre em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1998), Mestre em Direito pela Uni-
versidade de Toronto, no Programa Direitos Sexuais e Reprodutivos (2007).
Conselheira-Dire tora da Temis - Assessoria Jurdica e Estudos de Gnero, em
Porto Alegre (2004-2007). Advogada visitante no Center for Reproductive Ri-
ghts, Nova York (2006-2007). Secretria Executiva da Associao pela Refor-
ma Prisional, Rio de Ja neiro (2004-2006). Advogada feminista, Professora de
Direito, Consultora e Pesquisadora com interesse em Direito Penal, principal-
mente, nos seguintes temas: Juizados Especiais, Violncia Domstica, Direitos
Humanos, Violncia contra a Mulher, Criminologia, Teoria Legal Feminista,
Direitos Sexu ais e Reprodutivos.
Cristina Zackseski (Org.)
Doutora em Estudos Comparados Sobre as Amricas pela Universida-
de de Braslia (2006). Mestre em Direito pela Uni versidade Federal de Santa
Catarina (1997). Professora ti tular do Centro Universitrio de Braslia (Uni-
CEUB) desde 1998, ministrando atualmente as disciplinas de Criminologia
(Graduao em Direito), Poltica Criminal e Segurana Pblica (Mestrado em
Di reito e Polticas Pblicas). Lidera o Grupo de Pesquisa Polti ca Criminal.
Atua principalmente como pesquisadora no mbi to do Direito Penal, da Polti-
ca Criminal, da Criminologia, dos Direitos Humanos e da Segurana Pblica.
Eliezer Gomes da Silva
Doutor em Direito Penal pela Universidade de So Paulo, Mestre em
Criminologia pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, Mestre em Lin-
gustica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de Criminolo-
gia e Direito Penal na Graduao e no Mestrado em Direito da UNIBRASIL,
em Curitiba, onde integra o NUPECONST (Ncleo de Pesquisas em Direito
Constitucional). Promotor de Justia no Estado do Paran desde 1990.
Evandro Piza Duarte (Org.)
Doutor em Direito pela UnB, Mestre em Direito Pblico UFSC, Pro-
fessor de Criminologia e Direito Penal do UniCEUB (2007-2010), Professor
de Direito Penal e Processo Penal na UnB, autor de Criminologia e Racismo
Introduo Crimi nologia Brasileira (Juru, 2001). Organizou o livro Cotas
Ra ciais no Ensino Superior Entre o Jurdico e o Poltico (Juru, 2008).
Menelick de Carvalho Netto
Doutor em Filosofa do Direito pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais UFMG (1990). Professor Associado da Uni versidade de Braslia (UnB)
desde 2006. Atua na rea de Di reito, com nfase em Direito Constitucional e
Teoria do Direito.
Virglio Matos
Graduado, Especialista, Mestre (UFMG) e Doutor (Universit Degli
Studi di Lecce) em Direito. Do grupo de amigos e familiares de privao de
liberdade. Do frum mineiro de sade Mendel. Professor universitrio. Advo-
gado criminalista.
FILMES
Minority Report A Nova Lei. (Minority Report, EUA, 2002). Di reo de Steven
Spielberg. Fico Cientfca. 20th Century Fox, 146 min.
Blade Runner - O Caador de Andrides. (Blade Runner, EUA, 1982). Direo de
Ridley Scott. Roteiro baseado na obra Do An droids Dream of Electric Sheep?,
de Philip K. Dick. Fico Cien tfca. Te Ladd Company, 118 min.
Cannon Fodder. (Memories - Memorzu Trilogia, Japo, 1995). Direo e
Roteiro de Katsuhiro Otomo, Koji Morimoto e Tensai Okamura. Animao,
Fico Cientfca. Mash Room, 113 min.
Domsticas O Filme. (Brasil, 2001). Direo de Fernando Mei relles e Nando
Olival. Roteiro baseado na pea de teatro de Re nata Melo. Drama-Comdia. O2
Filmes, 90 min.
O Homem Nu. (Brasil, 1968). Direo de Roberto Santos. Rotei ro baseado na
Crnica de Fernando Sabino. Comdia. Wallfl mes, 181 min.
O Segredo de Vera Drake. (Vera Drake, Ingaterra, 2004). Dire o de Mike Leigh.
Drama. Fineline, 125 min.
Crash No Limite. (Crash, EUA, 2004). Direo de Paul Haggis. Drama. Lions
Gate, 107 min.
Notcias de Uma Guerra Particular. (Brasil, 1999). Direo de Joo Moreira Salles
e Ktia Lund. Documentrio. 57 min.
SUMRIO
Prefcio .................................................................................................................................. 13
Introduo ............................................................................................................................ 15
PARTE I - UTOPIAS DO CONTROLE SOCIAL
Minority Report: Prevendo o futuro na vida real e na fco .............................. 33
Blade Runner: O caador de colaboradores ............................................................. 49
A Cidade da Guerra e a Represso Humanitria: as Fan tasias de Katsuhiro
Otomo sobre a Cidade Fortaleza .................................................................................. 67
PARTE II - SISTEMA PENAL: REALIDADE-FICO
Os Gilvans ............................................................................................................................ 133
O Acusado nu do Processo Penal ............................................................................... 149
O Segredo de Vera Drake (E de milhares de mulheres brasileiras) ................ 165
Raa, gnero, classe, igualdade e justia Rep resentaes simblicas e
ideolgicas do flme Crash, de Paul Haggis ........................................................... 185
Notcias de uma guerra particular: Um olhar sobre as subculturas criminais
cariocas do f nal do Sculo XX .................................................................................... 219
E
sta coletnea de textos demonstra a grande gama de possibilidades de
dilogos entre a arte e a teoria, para alm do quantitativismo e da compulso
classifcatria de certas opes metodolgicas. Penso que possvel fazer
cincia ri gorosa , sem a obstinao da busca de um objeto puro, j que no existe o
isolamento entre o que estudamos e a complexi dade do mundo que o cerca.
preciso tambm refetirmos sobre a tenso que per passa por vrios
textos, que diferencia estes trabalhos dos que comumente lemos. O Direito, de
um lado, expe seus praticantes ao torvelinho do mundo, ou mesmice de suas
pesadas patas burocrticas. Quem pensa, pratica e refete sobre o direito vive
em tenso: a tenso do dever-ser, que nunca ser, e a imobilizao conceitual
de fatos dinmicos e complexos. Isso signifca retirar sentimentos, esfriar as
emo es, esquematizar a situao e enquadr-la em descries pr-defnidas e
procedimentos previamente aceitos. Por isso no temos receio de afrmar que o
direito esfria o mundo, an tes de trat-lo e normatiz-lo, deixando para o teri-
co uma franja de aspectos que ele no pode tratar dados os limites de seu saber.
Acontece que o acmulo de fenmenos no trata dos agua a curiosi-
dade dos pesquisadores o que os levam a adentrar para uma dimenso multi-
disciplinar, que fornece subsdios de outras tcnicas e outras cincias, alm do
afron tamento das artes, seja como procedimentos, seja como te mas.
Encontramos juristas e grandes tericos e poetas como Haroldo e Au-
gusto de Campos, assim como tantos outros que escapam dos limites jurdicos
para pesquisar e criar em ou tros campos.
Aqui estamos perante leituras intertextuais entre direi to e cinema que
dialogam, alm das dimenses citadas com flosofa e criminologia, como, por
exemplo, o artigo Minority Report - prevendo o futuro na vida real e na fc-
o. O destino da humanidade est problematizado no texto Blade Runner, o
caador de andrides. O que acontecer com os seres hu manos, se continuar-
mos vivendo com os atuais valores?
PREFCIO
A utopia de uma cidade da guerra e da represso hu manitria est pre-
sente nos textos que discutem a Cidade Fortaleza. O texto Os Gilvans retrata
as contradies das sociedades e a constituio de seres diferentes pela via da
assimetria scio-antropolgica-social.
O Acusado Nu do Processo Penal denuncia a ma nipulao do proces-
sado pelos procedimentos judiciais, pela mdia, pela opinio pblica, retirando
dele qualquer possibi lidade de argumentao e de elementos de salvaguarda de
seus direitos.
O Segredo de Vera Drake adentra para o tratamen to da subjetividade,
da interioridade, muitas vezes deixadas de lado pelo epidrmico comporta-
mentalismo do direito. As questes de justia, igualdade, raa, gnero, classe,
utopia e representaes simblicas e ideolgicas so os temas da discusso so-
bre o flme Crash.
As refexes sobre o flme Notcias de uma guerra particular apresen-
tam um dilogo entre a Criminologia e a violncia urbana, a formao das
subculturas e o trfco de drogas.
So tratamentos como os dessa coletnea que con tribuem para a trans-
formao do direito no sentido da supe rao das frmulas que o perseguem
desde Roma e para a disseminao social de novas teorias e prticas libertrias
do relacionamento poltico e intersubjetivo dos cidados.
O mundo de hoje, com o tempo instantneo que o ca racteriza, no ces-
sa de urdir novos desafos, novas rupturas, novas tecnologias e novas formas
de dominao. O direito, apesar de viver na conjuntura, no urde respostas
ou propos tas na velocidade necessria, j que suas prticas e concei tos esto
ancorados, no mnimo, no sculo XIX. Por isso, a contribuio do direito para
deslindar o novo, para ressignif car de modo contextual e rigoroso os fenme-
nos criminais mais um instrumento para libertao dos velhos dogmas, da
leitura de um cartesianismo mal lido.
Auguramos aos autores a continuidade da caminha da no sentido da
produo de teses ousadas e profundas. O mundo acadmico, poltico e cida-
do brasileiro esto neces sitando disso.
Roberto A. R. de Aguiar
INTRODUO
A
possibilidade de usar obras cinematogrfcas para a refexo
criminolgica ou sociojurdica , sem dvida, con trovertida.
Integrantes da teoria crtica mantiveram reservas sobre a emergncia
do cinema e, posteriormente, da televi so. A lista de aspectos negativos longa.
O cinema integra a indstria do entretenimento, aliena a razo crtica moderna,
mecanismo de internalizao do controle social, compe a sociedade do
espetculo, impede o contato com o real, ins trumento de propaganda; e,
intrinsecamente, a velocidade da mensagem por imagens violenta o corpo e
impede o desen volvimento da subjetividade. Por outro lado, o uso do universo
simblico como forma de resolver as angstias humanas e de representar e de
reproduzir poderes sociais no privilgio do capitalismo ou do cinema.
Todavia, em um mundo em que os dispositivos de in terao fragmen-
tam as mensagens, dispersam os pontos de referncia e pedem a mobilizao
no apenas dos olhos, mas de todo o corpo; o silncio diante da imagem-som
guar da, paradoxalmente, um estado de viglia que as tecnologias interativas
parecem suprimir. Formas distintas de alienar o pensamento? Talvez apenas
distintas, mas no sem suas contradies. O que o cinema ainda mantm vivo
a narra tiva. Porm, isso no pouco para uma sociedade em que a compre-
enso transformada em fragmentos e em retorno mesmice de uma subjeti-
vidade amesquinhada. No cinema, permanece a fantasia de um Outro que tem
algo a dizer e que recebe a ateno devida. Essa disposio, cada vez mais rara,
alimenta a esperana daqueles que, de algum modo, acreditam no dilogo.
Os textos que integram essa coletnea partem de diversos pontos da
teoria crtica. As obras cinematogrfcas lis tadas na contracapa servem para
a refexo de temas, tais como: modelos de justia preventivos e repressivos,
assdio moral organizacional, impacto das novas tecnologias na se gurana p-
blica e da mdia nos sistemas processuais, violn cia urbana, prticas policiais
e representaes sobre estere tipos raciais, trfco de drogas, violncia de g-
nero e aborto. Se o espectro temtico parece ser amplo, ele converge, toda via,
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 16
para apresentar tendncias e problemas atuais do que se convencionou deno-
minar de controle social.
O projeto da obra surgiu ao longo das atividades do centes desenvolvidas
pelos seus organizadores nos ltimos anos como uma tentativa de consolidar
uma prtica desen volvida nas Faculdades de Direito no mbito da disciplina
de Criminologia.
Os trs primeiros textos, por terem sido inspirados em obras de fco,
espelham o que Stanley Cohen
1
denominou de utopias negativas. A projeo
de mundos futuros, transfor mados pelo uso da tecnologia, serve de ocasio
para o debate de tendncias importantes na organizao dos sistemas de jus-
tia criminal, em especial, sobre as polticas de preven o, fundadas em pers-
pectivas cientfcas, sobre o controle de comportamento futuro (periculosida-
de e suspeio) e so bre o emprego das tecnologias que refetem essa tendncia.
Porm, no so textos fccionais, reencontram na imaginao cinematogrfca
discursos e prticas que esto efetivamente postos como problemas para a
poca atual.
Nos cinco textos seguintes predominam a anlise de flmes nacionais e
o dilogo com o cotidiano da violncia vivi do nas grandes cidades brasileiras.
Os textos discutem temas que esto na ordem do dia (criminalidade, trfco de
drogas, aborto, atuao da mdia e da polcia), porm no o fazem de forma
usual. Intentam apresent-los numa perspectiva que desconstri a ideologia
dos discursos dominantes, trazendo novas dimenses sobre esses problemas,
com infexo sobre seus aspectos econmicos, raciais e de gnero.
Os pargrafos seguintes propem ao leitor elementos sobre as questes
abordadas nesses textos. Convm advertir que, assim como os flmes comenta-
dos, os respectivos textos so obras abertas, escritos na forma de ensaio e, por
conse guinte, suscitam diferentes interpretaes.
Em Minority Report prevendo o futuro na vida real e na fco, Bar-
bara Hudson toma o flme de Steven Spielberg como metfora do atual debate
entre a adoo de modelos de justia criminal preocupados com o controle
do crime (redu o do crime) e aqueles preocupados com o devido proces so
(julgamentos e punies justas). Como anota a autora:
1
COHEN, Stanley. Visiones del control social. Barcelona: PPU, 1988.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 17
No mago do flme se encontra a questo do equilbrio a ser
alcanado entre a efccia na pre veno do crime e respei-
to s garantias do es tado de direito, o que evidentemente
representa um dilema importante para todos ns que vive-
mos em pases onde as pessoas enfrentam ele vados riscos
de serem vtimas de crimes, espe cialmente de crimes vio-
lentos, mas que se vem como sociedades democrticas,
onde o estado de direito constitui um valor fundamental.
Os modelos de controle do crime necessitam respon der tambm, segun-
do a autora, se a efccia a nica ques to a ser considerada ou se existem limi-
tes ticos que devem ser defendidos como fundamentais ao estado de direito
Por outro lado, at mesmo no plano da fco, a possi bilidade da real
efccia dos programas preventivos questio nada. No conhecido enredo, a po-
lcia de uma cidade desen volve um programa Pr-crime que, ao se valer dos
poderes medinicos para prever o comportamento futuro de provveis infra-
tores, impede a prtica de crimes, todavia, no consegue se livrar das falhas da
administrao do sistema e oculta os relatrios minoritrios, ou seja, aquelas
previses negativas sobre o comportamento.
Na fco, o programa desmantelado pelo heri da trama que, como
policial, integrante da diviso dos cavalhei ros da justia, se v na eminncia de
cometer um crime. Bar bara Hudson fnaliza:
reconfortante que os cavalheiros da justia ainda ques-
tionem esses experimentos, e que o programa Pr-crime
tenha sido desmantelado.
Trata-se de fco, obviamente. No mundo real parece ha-
ver muito poucas pessoas a defender idias de justia e
poucas formulando questes diversas de isso funciona?
Surpreende, ao fnal, no o fato de que a fco esteja to prxima da
realidade, mas que, como demonstra a autora, a realidade de programas de
controle do crime seja constru da sobre pressupostos fccionais ou, no mni-
mo, bem pouco realistas, malgrado o realismo seja o ncleo da propaganda de
defesa desses programas.
Em Blade Runner - o caador de colaboradores, Adria ne Reis de Arajo
prope a comparao entre os replicantes, trabalhadores andrides da fco
cientfca, e os trabalhado res das empresas do modelo toyotista de gesto de
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 18
mo-de -obra, criada a partir das transformaes econmico-sociais da dcada
de 1970. Realidade e fco se mesclam de forma particular. A autora revela a
proximidade da fco com as re laes de trabalho existentes no momento de
sua criao.
Se a obra fccional foi inspirada numa tendncia, o panorama atual de
assdio organizacional no interior das empresas pa rece confrm-la, denuncia
o texto.
Como revelam este e outros textos dessa coletnea, o uso da fco como
exerccio da imaginao sociolgica
2
tema de maior importncia, diante de
uma sociologia marcada pela descrio do presente. Se a fco toma do real
algumas tendncias para radicaliz-las, redefnindo o quadro de rela es, ela
no mera fantasia nem reproduo do real, mas um real possvel. A sociolo-
gia da tcnica, imaginao cien tfca, contem sempre esse If da tendncia que a
descrio sociolgica no alcana. As utopias negativas
3
apresentam mundos
latentes e diferem das utopias da modernidade por que no propem explici-
tamente a organizao do mundo a partir de um projeto moral. So, ao invs
disso, tentativas de revelar os projetos polticos contidos no desenvolvimento
tc nico que, em nosso meio, apenas se justifca pela sua efcin cia.
O desenvolvimento da Modernidade props a neutra lidade da tcnica e
sua dissociao da poltica (do controle racional de suas alternativas). Ao revs,
a imaginao cien tfca recoloca a centralidade da tcnica na criao de novas
sociedades e, como refora Adriane Reis de Arajo, de novas sociabilidades.
Por outro caminho, o paradoxo da imaginao cientfca o do uso da imagi-
nao na esfera da produo. O desenvolvimento tcnico pressupe a fantasia
criativa e, ao liberar essa fantasia, revela que as tendncias de desenvolvi mento
tcnico so sempre escolhas polticas.
Nesse sentido, as formas de organizao da produo no seio do mode-
lo toyotista de gesto de mo-de-obra apre sentam o impasse entre explorar o
homem em suas mlti plas dimenses, liberando sua capacidade criativa e sua
au todeterminao, ou sua reduo fora de trabalho. O que disso resulta,
enquanto o humano for o humano que ainda conhecemos, a violncia e o
sofrimento. Como destaca a autora do texto, o que realmente chama ateno
2
MILLS, Wright. A imaginao sociolgica. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.
3
COHEN, Stanley. Visiones del control social. Barcelona: PPU, 1988.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 19
nessa obra a importncia que a emoo do trabalhador tem para a em presa e
a utilizao da violncia como forma de controle da mo-de-obra insurgente.
Na utopia negativa de Blade Run ner, o problema parece ter sido resolvido com
a supresso do humano, porm, e ao mesmo tempo, o bom trabalhador pre cisa
de traos de humanidade. A conscincia da morte ou do descarte, aliada me-
mria de uma existncia (ainda que im plantada artifcialmente) humanizam
os replicantes, e a nica resposta humana que lhes resta a de negar a racio-
nalidade instrumental da empresa que lhes considera um meio para alcanar
seus objetivos.
De volta ao real, ou apenas ao presente, o texto de Adriane Reis de
Arajo, ao estabelecer semelhanas entre realidade e fco e denunciar os
traos dessa nova realida de fccional, expe que o nico caminho possvel
conside rar o sofrimento individual no como uma patologia de no adaptao
ao mundo do trabalho ou como resultante de in teraes individuais entre tra-
balhadores no seio da empresa, mas como uma patologia do prprio modelo
de organizao. A identifcao do assdio moral organizacional rompe o tra-
tamento psicolgico do problema e devolve a discusso so bre as condies de
trabalho e os mecanismos de gesto de mo-de-obra aos espaos coletivos.
O subttulo do texto expressa esse universo patolgi co -ou esse impasse
para o qual o poder, como diria Michel FOUCAULT, busca respostas efcientes
e de baixo custo
4
que ope o comportamento de colaborao desejado a um
estado permanente de suspeio. No fnal, e com certo pes simismo de uma
poca, descobrimos que todos somos captu rados nas relaes de poder.
Nos caminhos trilhados pela autora, entre outras re fexes, resta a su-
gesto de que as idias de suspeio e preveno utilizadas no combate cri-
minalidade, apresenta das no texto anterior por Brbara Hudson, sejam apenas
uma parte desse contnuo que estrutura tanto as relaes de pro duo quanto
as relaes de domnio poltico.
Em A Cidade da Guerra e o Controle Social Humani trio: as Fanta-
sias de Katsuhiro Otomo sobre a Cidade For taleza, Evandro C. Piza Duarte
e Menelick de Carvalho Netto tomam como parbola um dos flmes da trilo-
gia Memories, obra do mestre dos animes Katsuhiro Otomo. Cannon Fodder
apresenta a jornada diria de um menino que vive numa cidade-fortaleza em
4
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janeiro: NAU, 1999.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 20
que todas as atividades humanas so destinadas manuteno de canhes que
disparam balas no entorno da cidade. Na interpretao dos autores do texto:
[...] se toda parbola prope uma moral, a men sagem
de Katsuhiro sensvel e direta: As balas ultrapassam o
limite urbano e caem num grande campo vazio, repleto
de crateras provocadas pela artilharia dos dias anteriores.
No se sabe quem o inimigo. No se conhece a funo
do projtil para a estratgia. A guerra a atividade fm. A
cidade vive para a guerra e a guerra no precisa ser justi-
fcada. A fora de sugesto da parbola do pequeno solda-
do impressiona: O que aconte ceria a sociedade se a guerra
passasse a ser a sua atividade produtiva (ou destrutiva)
principal?
Os autores buscam situar o problema da integrao entre a cidade e a
produo blica at a emergncia da So ciedade Global da Guerra. Nela, a
guerra passa a fazer parte no apenas da esfera da produo organizada para
confi tos externos, mas est disseminada, integrada s demandas da sociedade
de consumo mundial. No presente, o mercado consumidor da guerra no se
compe apenas dos grandes Estados, mas dos Estados fracos e da prpria po-
pulao civil preocupada com a segurana pblica.
A disseminao civil dependeu, sobretudo, do proces so de humanizao
das armas. Nesse ponto, os autores se propem a refetir sobre o surgimento
das chamadas armas no-letais e o controle da violncia. O humanitarismo
seria uma resposta tcnica no apenas para suprimir alguns dos efeitos visveis
da violncia, mas para retirar o sentido trgico e espetacular dos atos de vio-
lncia numa sociedade em que somente os meios de comunicao conseguem
mobilizar as aes coletivas. O humanitarismo serve para despolitizar a ao,
especialmente quando as novas armas so utilizadas pelos governos civis para
lidarem com confitos urbanos.
De outra parte, a mudana de estratgia, das ar mas duras
para as armas leves um elemento capaz de tirar da esfe-
ra de regulao o arma mento. Insere-se na luta travada em
torno da le galidade e da possibilidade de aproveitamento
da regulamentao do ilcito. A inovao tecnolgica fora
de um padro preexistente provoca o efeito da sua no
conteno jurdica. Se no est limi tada pelas regras da
guerra, a tecnologia blica se converte no melhor arma-
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 21
mento. As demandas civis ainda esto situadas na conten-
o das ar mas de sangue e, por razes tratadas adiante, no
so capazes de pensar no carter letal das novas armas.
A letalidade, neste caso, no de veria mais ser pensada no
plano da causalidade (causa e efeito diretos) e das vtimas
individuais, mas necessitaria da ponderao sobre seus re-
fexos no cenrio das mortes coletivas e anni mas.
O tema apresentado como um debate com os argu mentos de Michel
FOUCAULT e alguns dos seus crticos. Os autores resgatam para a compreen-
so da sociedade presen te o conceito de sociedade do espetculo, afastado pelo
autor francs em nome da emergncia do surgimento da sociedade disciplinar.
Ao contrrio, espetculo e disciplina seriam dois elementos do exerccio do
poder poltico e do poder econ mico que agora restariam integrados pelo uso
das Novas Tecnologias de Comunicao. Essa integrao se daria em vrias
direes: As formas modernas de vigilncia por c meras deixaram obsoletas
as velhas formas de controle que eram limitadas a um ambiente fsico (arquite-
turais). Porm, a integrao contnua ao ambiente prope o desaparecimen-
to absoluto de qualquer vestgio da existncia de mecanis mos de vigilncia,
podendo-se supor uma regra geral de que quanto mais imperceptvel, mais
absoluto o dispositivo de controle. invisibilidade soma-se a integrao da
fantasia na disseminao de novas formas de controle, de tal modo que na
sociedade presente o controle contm elementos fc cionais (da fantasia na sua
produo) desde a esfera de sua produo tcnica e, ao mesmo tempo, busca
a desrealizao dos confitos com a transformao do espetculo punitivo. A
luta em torno da defnio das ilegalidades como criminais tambm uma luta
em torno do uso do espetculo e de seus efeitos negativos.
Para alm da forma, ou seja, do modo como disciplina e espetculo so
construdos, a cidade da guerra ou a fanta sia disseminada da guerra reencon-
tra nas relaes de poder a razo de sua existncia. O paradoxo da cidade da
guerra que ela captura a todos, quer se percebam na posio de controladores
ou de desviantes e, sobretudo, afasta a ima gem de uma cidade do contrato (ou
do direito).
Em Os Gilvans, Virglio de Mattos revisita o universo de empregados(as)
domsticos(as), mulheres e jovens da peri feria apresentado em As Domsticas
e, sobretudo, valoriza a estrutura narrativa da obra. No flme, as personagens
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 22
fa zem um dirio ntimo de suas vidas ou prestam depoimentos como se esti-
vessem a compor um documentrio diante da cmera. A crnica do cotidiano
inclui o mundo dessas rela es de trabalho a partir de um ponto de vista par-
ticular e, desse modo, provoca no espectador a identifcao incmoda com
os empregadores. A ausncia dos patres nas cenas, aparente pretexto de uma
crnica do cotidiano para fazer o pblico de classe mdia rir, inverte e denun-
cia a apropriao do discurso como elemento do poder do espao domstico.
Se o riso pblico depende do monoplio privado dos patres sobre os causos
de seus empregados domsticos, o flme comove e incomoda.
a partir dessa contradio do produto cultural que Virglio de Mattos
caminha e revela a continuidade da narrativa:
Empregada Domstica, a profsso prevalente entre o re-
botalho selecionado pelos processos de criminalizao se-
cundria do direito penal. Como se essas trabalhadoras
tivessem um alvo gigante tatuado nas costas. Um signo,
um sinal, uma senha que permita a busca e a captura, pelo
direito penal, j no primeiro deslize.
So essas personagens discriminadas, por sua con dio social e racial,
que compem o alvo preferencial das agncias do sistema penal. Este qualifca
os atos de desespe ro, os sonhos e as tentativas de revolta como criminosos. Co-
nhecida frmula para a reproduo das hierarquias sociais.
Andando para o fnal, pulando as tocantes his trias, cada
sequncia um baque costurado e costurando as vidas que
se cruzam, todas elas simples, apertadas, tristes. Vidas de
trabalhado ras! Cada dilogo fere, incomoda quando voc
quer rir e a dor que aparece na tela no tem gra a. A ig-
norncia no tem graa. A invisibilidade no tem graa. A
explorao no nada engra ada.
Imobilidade social, violncia e invisibilidade, os compo nentes desse co-
tidiano domstico e perifrico, to familiar. No ttulo do texto, evoca-se a
invisibilidade e a revolta de Gil van, lavador de carro, preso no elevador de um
edifcio.
Enfm, o discurso de Virglio de Mattos retoma as tradi es do incon-
formismo intelectual diante da excluso. Guar dadas as distines de poca,
poderia ter dito como o Padre Antonio Vieira, no 20 sermo do Rosrio: Trs
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 23
causas tm nesta nossa Repblica, os que se chamam Senhores, para a grande
distino que fazem entre si, e os seus Escravos. O nome, a cor e a fortuna. O
nome de escravos, a cor preta e a fortuna de Cativos, mais negra que a mesma
cor.
5
No obstante, o autor vai mais longe, pois se Vieira no venceu o precon-
ceito da metfora do destino negro, Virgilio de Mattos induz o leitor a refetir
sobre o sadismo intrnseco ao riso da boa piada.
Em O Acusado Nu do Processo Penal, Andr Ribeiro Giambernardi-
no trata as relaes entre formas de comunica o de massa e criminalizao,
apontando para as tenses entre as funes positivas, declaradas da mdia, e
sua funo legitimante do sistema penal.
De certo modo, a crnica de Fernando Sabino, utiliza da na composio
do roteiro do flme, um convite ao tema explorado no texto. A construo de
fatos pela narrativa da mdia acompanha a:
[...] histria em que um sujeito, completamente sem rou-
pas, se v despido tambm de qualquer possibilidade de
comunicao com o outro, transitando entre posies
opostas na escala do sta tus social (de respeitado intelec-
tual a criminoso psictico) apenas porque a porta, sem
querer, se fechou.
O texto, porm, explora a stira e a metfora sugerida na crnica brasi-
leira de um cotidiano urbano da dcada de 1970. Nesse novo espao, marcado
por relaes impesso ais, em que as interaes face a face entram em declnio e
a realidade mediada pela comunicao de massa, nascia um novo poder que
iria se consolidar nas dcadas seguintes.
O carter acidental da nudez da personagem refora a tese de que a cri-
minalizao independe dos fatos, mas no pode prescindir de uma narrativa
transformada em espetcu lo. Como sintetiza o autor:
[...] um professor carioca especializado em fol clore e cul-
tura brasileira que, prestes a embar car para So Paulo onde
lanaria um livro, acaba tendo o vo cancelado. Seduzi-
do pela sobrinha de um amigo que estava no aeroporto
(Marialva), ele acorda nu, no dia seguinte, em seu aparta-
mento. Aps despertar, Marialva entra no banho e Slvio,
5
VIEIRA, Padre Antonio. Vigsimo sermo do rosrio. In. ______. Sermes. Porto: Livraria Lello
& Irmo, 1948a. v. 12. p. 85-121.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 24
nu, vai buscar o po deixado do lado de fora da porta, que
s podia ser aberta por dentro. Esta, subitamente, bate
com o vento, dando incio a uma bizarra jornada pelas
ruas do Rio de Janei ro. Rapidamente aparecem vizinhos
que, enfure cidos, perseguem Slvio nas escadas do prdio,
chamando-o inicialmente de tarado e logo em seguida
de o assaltante nu. Escondido em um caminho, Slvio
acaba em Ipanema, onde se v obrigado a praticar alguns
delitos como, por exemplo, a tentativa de roubo do ca-
saco de uma mulher que depois ser chamada de vtima
de tentativa de estupro e o emprstimo da bici cleta de
um garoto, que largou na praia, antes de correr para o mar.
Na conhecida frmula brasileira da modernizao, sem modernidade,
ou da conciliao entre o novo e o velho, a vio lncia penal, presente no pas
desde os tempos imemoriais, encontra novas formas de se legitimar com o
desenvolvimento da mdia e a proliferao do discurso do medo que serve
para a produo, enfim, de um acusado nu perante a sociedade, despido de
seus direitos e garantias processuais. O reforo do medo depende da cons-
truo de novos monstros penais. Como sintetiza Andr Ribeiro Giamber-
nardino, antes do fato em si, h o fato que narrado: com exceo do pr-
prio Silvio Proena, todo o mundo a sua volta j o via enquanto perigoso cri-
minoso correndo nu; enquanto um acusado de tentativas de roubo e estupro.
Criminoso perigoso, correndo nu... Rememorao de uma velha frmu-
la colonial? Uma das personagens, um psi canalista, sugere que o homem nu
representaria a revolta do ser humano contra a civilizao, a volta do homem
natural. No valeria dizer que a nudez da personagem uma metfora da fr-
mula brasileira de considerar os criminosos como sel vagens e os integrantes
dos povos chamados de selvagens, ndios e negros, como criminosos? A nudez
dos acusados no seria mais uma representao da tentativa de reduz-los ao
plano do biolgico, cor de sua pele? A nudez, despojada da cidadania, no
representaria a condio de vida nua, ma tvel, contida no projeto moderno, de
toda a diferena? No mnimo, h de se aceitar que a outra face da Modernida-
de, da Conquista Ibrica, do genocdio e do Estado Colonialista, ainda deixa
seus rastros no presente.
Em O Segredo de Vera Drake (E de milhares de Mulhe res brasileiras),
Carmen Hein de Campos retoma a discusso sobre o controle penal do aborto.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 25
O segredo de Vera Drake, personagem que foi levada a julgamento na Ingla-
terra quan do vigorava uma poltica criminal proibicionista semelhante atual
poltica brasileira, o ponto de partida para que a autora retome os diferentes
aspectos da criminalizao do aborto.
Ao segredo de Vera Drake, condenada a clandestini dade para poder
exercitar e garantir que outras mulheres ti vessem o respeito sua liberdade,
Carmen Hein de Campos ope o segredo da ideologia da criminalizao do
aborto em seus efeitos sociais negativos e sua instrumentalizao para o dom-
nio poltico das mulheres.
O lugar comum do constitucionalismo, a oposio abs trata, e comu-
mente delirante, entre direito vida e o direito liberdade, redefnido por
Carmen Hein de Campos, ao con siderar os elementos empricos da proposta
criminalizadora: A ilegalidade do aborto transforma-o em um comportamen-
to de alto risco para as mulheres, pois realizado, na maioria das vezes, sob
condies inadequadas e por pessoas sem a de vida qualifcao.
Particularmente no caso do aborto, reclama-se o uso da legislao penal
para a proteo do feto. No entanto, os elevados ndices de abortos pratica-
dos clandestinamente de monstram que a proteo ao feto no realizada pelo
siste ma de justia criminal. Se a pretendida proteo ao feto no acontece,
ento, qual o signifcado da proteo penal?
So recolocados em sua exata dimenso, no reve lada ofcialmente, a
inefccia da conteno do aborto pela criminalizao, a permanncia do abor-
to como problema de sade pblica, com a consequente morte de centenas de
mu lheres, a construo de um discurso jurdico conservador, jun to a sobreva-
lorizao da vida intrauterina em detrimento da vida j constituda das mulhe-
res e a identifcao da mulher com a maternidade idealizada.
A criminalizao do aborto compe uma poltica de do mnio sobre o
corpo feminino e de manuteno das hierar quias engendradas na defnio
dos papis sociais do mas culino e do feminino:
As razes da utilizao da legislao penal para regular
o aborto estendem-se para alm da pro teo da vida do
feto. O discurso da proteo do feto acima dos direitos das
mulheres assinala uma preocupao com a regulao da
autono mia sexual e reprodutiva feminina, um interesse em
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 26
conformar as mulheres ao papel social de mes, como se
esse papel social fosse natural e no historicamente constru-
do. Um interesse em regular o corpo reprodutivo feminino,
em domes tic-lo, em negar-lhe autonomia da vontade, em
submet-lo desigualmente ao controle social, j que o corpo
masculino no sofre as mesmas res tries normativas.
O domnio do biolgico pelo Estado representa no apenas o ataque
liberdade, mas em sua incapacidade de realizao efetiva, a expresso de
busca de legitimidade de instituies, grupos sociais e discursos que perdem
poder social numa sociedade pluralista. Como exemplifca a autora, o recru-
descimento da posio da Igreja Catlica pode ser atribudo perda de espao
de seu discurso antiaborto na sociedade.
Ao mesmo tempo, esse jogo de inefccia, demonstra que o domnio do
biolgico, por meio do corpo feminino, re produz uma violao da igualdade
de gnero e, tambm, da igualdade econmica.
Ao reinserir o aparente confito de princpios na di menso emprica
do caso, que no apenas aquele de Vera Drake, Carmen Hein de Campos
demonstra a lgica da viola o da Dignidade Humana existente no discurso
proibicionis ta e a poltica criminal genocida que ele sustenta, malgrado o faa
em nome de belas intenes de tutela da vida.
Em Raa, gnero, classe, igualdade e justia repre sentaes simblicas e ide-
olgicas do flme Crash, Eliezer Gomes da Silva prope-se a realizar (e cumpre a pro-
posta) um verdadeiro trabalho de dissecao desse flme que, por to premiado, re-
presenta um novo ponto de infexo dos dis cursos sobre raa no cenrio americano.
Certamente, no ter sido mera coincidncia a forma desnecessariamente
racista com que as personagens negras so moralmente estruturadas, guisa de
inseri-las numa ci nematografa engajada na luta pelo racismo. Crash apresen ta-se
de cunho antiracista, na medida em que delineia perso nagens vtimas de discrimi-
nao e preconceito, diretamente relacionado sua etnia ou nacionalidade, perce-
bidas pelos ofensores como intelectual, social e moralmente inferiores. Entretanto,
o flme tambm subscreve essa ideologia racis ta quando deixa de atribuir a essas
personagens (vtimas do racismo) qualidades morais, ticas ou intelectuais posi-
tivas, que no hesita em vincular s personagens brancas do fl me, a despeito das
falhas morais que lhes delineia. Como que imbudo do propsito de deixar claro
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 27
na trama fccional que, talvez, em certos aspectos, as vtimas do preconceito e da
discriminao justifquem, com seu comportamento e com suas atitudes, muitos
dos fundamentos da ideologia racista. Reedita-se aqui, com ferramentas contem-
porneas, um su breptcio e subliminar discurso de uma intrnseca superiori dade
moral, social e intelectual dos brancos, sob o perverso manto protetivo de um
flme que aparentemente se prope a combater o racismo (o que nos induz leg-
tima expectativa de que deixaria uma mensagem positiva de pacifcao so cial).
Alm de tratar da interpretao de inmeros fenme nos debatidos no
mbito da Criminologia, tais como os es teretipos de vtimas e agressores, a
seletividade da polcia, a desigualdade da atuao das agncias do sistema pe-
nal etc., o texto apresenta uma importncia particular. No cenrio americano,
o instrumental terico que permitiu uma crtica do sistema da justia criminal
nutriu-se das denncias formula das pelos movimentos civis, em especial, os
movimentos ne gro e feminista. Na medida em que o autor detecta um novo
cenrio ideolgico sobre o tratamento da questo racial, no estranho se
esperar que se produza (ou j se tenha produzi do) refexos no tratamento da
questo penal e na abordagem cientfca.
A demarcao do flme Crash como uma estratgia ideolgica antira-
cista racista (ou melhor, racista com a pre tenso declarada de no ser racista)
adquire ainda maior im portncia. Conforme a anlise do autor, o flme assume
que os desvios criminais e morais (entre eles, o preconceito racial e o sexismo)
so comuns a toda sociedade, inclusive aos ne gros, acentuando os elementos
individuais da aceitao des te ou daquele ponto de vista moral. Todavia, a obra
suprime do debate as dimenses institucionais e histricas desses fe nmenos.
Ou seja, o agressor branco naquele momento se faz racista e a vtima negra no
sabe lidar com a situao e, quando muito, apenas reverte o plo da agresso. A
con cluso bvia: devemos deixar as denncias sobre racismo de lado e punir
os agressores pelo que eles fzeram. A nova ideologia sugere que uma desigual-
dade de todos contra to dos pode substituir o lugar do ideal de igualdade que
no foi realizado.
H uma novidade, extremamente perversa. No se trata apenas da pro-
jeo do discurso da tradicional direita americana, sempre bem recebida nos
crculos fechados das conversas informais em nosso pas, mas de uma direita
culta, capaz de ler autores negros e cit-los para negar aos negros o direito
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 28
igualdade, e que j comea a ser aplaudida nos cr culos universitrios brasi-
leiros. Se a primeira poderia sugerir a reduo aberta de direitos aos negros,
a segunda diz, gen tilmente, dane-se essa idia de igualdade racial. O resulta-
do prtico sempre o mesmo, assim como todo antiracismo ra cista apenas
racismo, a indiferena diante da desigualdade institucional e historicamente
produzida apenas outra forma de defender a desigualdade. Porm, agora os
partidrios da desigualdade pretendem viver, claro, sem culpa. Quem cria o
racismo quem o denuncia e prope medidas para combat-lo. Uma afrmao
sem nenhuma justifcao cientfca, mas cada vez mais usual nos meios univer-
sitrios, revelando que a estreiteza ideolgica ainda domina a esfera da cincia.
Em Notcias de Uma Guerra Particular, Cristina Zack seski encerra
essa coletnea com a anlise de um documen trio sobre o trfco de drogas no
Rio de Janeiro. A tentativa de censura pelo aparelho policial desta obra dirigi-
da por Joo Moreira Salles e Ktia Lund se constitui em mais um captulo das
formas de violncia nela retratadas. Embora essa colet nea tenha iniciado com
obras fccionais, esse documentrio, ao apresentar depoimentos de policiais,
trafcantes e mora dores, produz no espectador a certeza de que a realidade
flmada somente poderia ser fccional.
O absurdo do projeto genocida vivenciado na periferia do capitalismo e
que tem como alvo os excludos dos projetos modernizadores complementa a
imagem das obras de fco. Nisso, no h novidade. J em Admirvel Mundo
Novo
6
, uma das mais conhecidas obras de fco cientfca, descreviam -se dois
mundos, o da sociedade controlada pela tecnologia, marcada por estratgias
de internalizao de comportamen tos, e o da sociedade dos que viviam fora
da fronteira, sub metidos a poderes paralelos. A obra, inspirada nas ambguas
relaes de proximidade e estranhamento entre EUA e Mxico, sugeria que o
futuro poderia comportar, tambm, uma volta ao passado para aqueles que
viviam fora das fronteiras do desenvolvimento econmico.
A anlise proposta no texto, ao tomar como ponto de partida as teorias
funcionalistas do desvio e das subculturas criminais, denuncia tanto o com-
ponente crimingeno da es trutura social brasileira quanto os discursos repro-
dutores de uma cultura da violncia. A propsito, revelador um dos tre chos
do texto:
6
HUXLEY, Aldous. Admirvel mundo novo. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 29
Para o discurso policial so utilizadas, principal mente, falas
do Capito do Batalho de Opera es Especiais (BOPE),
Rodrigo Pimentel. Ele comea dizendo que em certos dias
chega de manh para trabalhar e se sente invencvel, que
queria ter participado de uma guerra de verdade e que de
fato participa de uma guerra, com a di ferena de poder ir
para casa todos os dias. De acordo com Luiz Eduardo So-
ares o Capito se exonerou em 2001 porque foi perseguido
dentro da corporao pela falta de respeito a dois va lores da
Polcia Militar: hierarquia e silncio. Pri meiro pela reper-
cusso de seu depoimento no documentrio que estamos
analisando, depois [...] pelas crticas falta de treinamento
da po lcia para enfrentar casos crticos como o do ni bus
174. Observe-se que o depoimento e a entre vista haviam
sido previamente autorizados pela instituio. O policial
escreve hoje com Luiz Edu ardo Soares. Em um de seus re-
centes trabalhos, que se chama A elite da tropa, est estam-
pado o Hino do BOPE, que revelador da lgica equivo cada
do treinamento e da cultura policial destina da ao combate
e eliminao do inimigo. O difcil nesta lgica de guerra,
como veremos, a com preenso de como so estabelecidos
os critrios para a identifcao do inimigo numa sociedade
cuja viso sobre os direitos no est relacionada compre-
enso de modos de vida diferentes e das necessidades de
cada um ou de cada grupo, e sim de pr-conceitos e estere-
tipos que se fra gilizam rapidamente no contato com reali-
dades sociais como aquelas explicitadas no documen trio.
Ou seja, a via criminal seria uma alternativa s frustra es decorrentes
da excluso social sofrida, mas esta declarao diferente do discurso de um
preso entrevistado para o documentrio, no qual se percebe mais a revolta
contra a discriminao feita na sociedade. Ele diz: Nunca gostei de ser massa-
crado pela sociedade. O que eu tenho no foi a sociedade que me deu, fui eu
que consegui. Minha av tra balhou at os setenta e tal, e o que que ela ga-
nhou? No ganhou nada. Quando eu sair vai ser bem pior. Na teoria, a via
criminal aparece caracterizada justamente pela malvadeza e pelo negativismo,
que tambm aparece reafrmada na fala de outros bandidos.
Discursos e personagens de uma cidade que, apesar das comemoraes
de brasilidade, manteve-se fel s hierar quias implantadas com o projeto colo-
nialista.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 30
No menos signifcativo, o fato de a atuao repres siva de combate ao
crime, presente no mago de uma pol tica reiteradamente inefcaz de controle
s drogas, funcio nar como um componente decisivo para sepultar projetos
de emancipao social, reinserindo seus potenciais portadores em redes que,
ao gerenciarem os ilegalismos, fabricam cri minosos, num processo de legi-
timao tanto da violncia quanto das divises entre indivduos do mesmo
grupo social.
As concluses da autora denunciam a continuidade de uma estrutura
social excludente, em que os nicos espaos de perspectiva de mobilidade
social ainda so aqueles cons trudos pelas lutas sociais da primeira metade
do sculo XX. Se antes esporte e atividades culturais eram espaos segre-
gados, tanto do ponto de vista econmico quanto racial, eles se tornaram,
paradoxalmente, hoje, em espaos representa dos como abertos ao talento.
Numa sociedade em que as vias institucionais de ascenso social so inexis-
tentes, somente o talento nascido da cultura popular, sem apoio institucio-
nal, permanece no imaginrio popular como uma alternativa. A afirmao
de Darcy Ribeiro de que o Brasil um moinho de gastar gente
7
ainda
vlida. Matam-se talentos e suprime -se a beleza de uma cidade que nunca foi
maravilhosa para os habitantes que compem a populao marginalizada. A
frmula para o encontro da cidade com os seus habitantes bem conhecida,
como insiste Cristina Zackseski, cidadania e reconhecimento. Se a guerra
particular, estruturalmente in centivada, surge como obstculo, preciso tr-
gua, para fazer nascer a paz.
Enfm, entre fco e realidade, as vises do controle social propostas
nesta coletnea sugerem a refexo sobre as opes polticas feitas no presente,
na confgurao do siste ma da justia criminal e se constituem em instrumen-
to didti co til para o desenvolvimento de atividades pedaggicas.
Evandro Piza Duarte
Cristina Zackseski
7
RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 1995.
PARTE I
UTOPIAS DO CONTROLE SOCIAL
MINORITY REPORT
Prevendo o futuro
na vida real e na fco
Barbara Hudson
1
1. Introduo.
O
flme Minority Report, dirigido por Steven Spielberg e estrelado
por Tom Cruise, foi lanado em 2002,
2
tornando-se um sucesso de
bilheteria em muitos pases. O flme empre ga algumas conhecidas
convenes de fco cientfca (por exemplo, o rpido sistema de transportes,
as aranhas robs, a aurola eletrnica), mas para todos ns interessados em
crimes e penas, o flme envolve alguns dilemas da vida real, do aqui e do agora.
No mago do flme se encontra a questo do equilbrio a ser alcanado entre
efccia na preveno do crime e respeito s garantias do estado de direito, o que
evi dentemente representa um dilema importante para todos ns que vivemos
em pases onde as pessoas enfrentam elevados riscos de serem vtimas de
crimes, especialmente de crimes violentos, mas que se vem como sociedades
democrticas, onde o estado de direito constitui um valor fundamental.
O jurista norte-americano Herbert PACKER esboou dois modelos
de justia criminal: o modelo do controle do cri me e o modelo do devido
processo
3
. O modelo do controle do crime prioriza a reduo do crime, en-
quanto o modelo do devido processo prioriza os valores do devido processo
(jul gamentos e punies justas). Os sistemas penais de controle do crime ten-
tam reduzir a futura delinquncia por meio de es tratgias como a preveno, a
neutralizao e a reabilitao, enquanto os sistemas do devido processo alme-
jam fornecer punies justas e consistentes para infraes que j ocorre ram.
A preveno orienta-se tanto para o indivduo que come te o crime quanto para
1
Texto traduzido pelo Professor Eliezer Gomes da Silva que tambm colabora, a ttulo pr prio,
nessa coletnea de ensaios.
2
MINORITY report. Direo: Steven Spielberg. USA: Twentieth Century Fox e Dreamworks
Pictures, 2002.
3
PACKER, Herbert. Te limits of the criminal sanction. Stanford: Stanford University Press, 1969.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 34
o restante da populao. A preveno individual mostrar ao criminoso ou
criminosa o que acon tecer se tornar a delinquir. Por exemplo, determinando-
se um curto perodo de aprisionamento (um gostinho de priso) para cri-
minosos primrios cujos atos no sejam vistos como graves o sufciente para
que conduzam a um longo aprisiona mento na primeira vez em que so come-
tidos. A preveno geral pode ensejar penas muito severas para certos tipos
de crimes, para que os possveis infratores no considerem que a prtica do
crime valha a pena, diante do risco de serem pu nidos. A neutralizao signi-
fca tornar fsicamente impossvel para a pessoa voltar a delinquir: a pena de
morte obviamen te neutralizadora, como so as penas de priso muito longas,
as penas de priso perptua. A reabilitao visa tornar a pes soa sentenciada
menos propensa reincidncia, tornando-a uma pessoa melhor, com melho-
res atitudes, mais educao e mais habilidades laborais, curada de vcios ou
de outros pro blemas de sade mental. Essas tcnicas penais so usadas tanto
nos sistemas de devido processo como nos sistemas de controle do crime. A
diferena que nos sistemas de controle do crime, elas s cessaro quando a
pessoa avaliada como no apresentando nenhum risco futuro ao pblico,
enquanto que nos sistemas de devido processo elas devem ter lugar nos limi-
tes temporais de uma pena que fxada de acordo com a infrao pela qual a
pessoa foi condenada.
Embora as sociedades da vida real combinem ambos os modelos (isso
verdadeiro no Reino Unido e por certo evidente no Cdigo Penal Brasilei-
ro), a questo chave o equilbrio a ser alcanado entre eles. Enquanto essa
questo tem sido teorizada de modo mais completo em relao a jul gamentos
e punies, os mesmos modelos podem ser aplica dos preveno do crime. E
tem sido objeto de discusso na maioria dos pases o equilbrio a ser alcanado
entre efccia na reduo do crime e respeito aos direitos dos cidados ( pri-
vacidade, liberdade de locomoo, por exemplo).
Minority Report ambientado nos Estados Unidos em 2054. Uma cidade
a capital federal, Washington, D.C. (dis trito de Columbia) desenvolve por
seis anos um programa experimental de preveno de homicdios, e a trama tem
lugar no momento em que est sendo discutida, por um referendo nacional, a
ampliao ou no do programa para o pas in teiro. Aqueles envolvidos com o
programa, em particular seu criador e diretor, Lamar Burgess, apontam para o
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 35
sucesso do programa: ao fm do primeiro ano, o nmero de assassinatos em Wa-
shington se estagnou e no houve homicdio algum durante os cinco subsequen-
tes anos do programa. Represen tantes do Departamento de Justia querem o fm
do programa porque ele ocasiona a priso de pessoas que no cometeram crime.
O isto funciona passa a ser contestado como isso viola princpios de justia.
O programa Pr-crime envolve trs seres humanos que possuem dons
especiais de precognio, ou seja a ca pacidade de visualizarem homicdios an-
tes que eles ocorram (os Precogs). Tais vises so transpostas para telas de
com putadores para que ofciais do Pr-crime possam determinar a ocasio e o
lugar onde o assassinato ocorrer. Os ofciais ento correm at o local do crime
e prendem o infrator antes que o crime seja realmente praticado. A vtima
salva e o possvel homicida aprisionado, embora no tenha na ver dade come-
tido o homicdio. A sequncia de abertura do flme, na qual um homem pre-
so pelo homicdio iminente de sua esposa e de seu amante, mostra o programa
em ao e nos apresenta o principal protagonista do flme, o chefe de polcia
John Anderton, interpretado por Tom Cruise.
Os Precogs so mantidos em futuao numa piscina com nutrientes,
e os policiais no tm acesso a eles, para que as previses provenham genui-
namente dos trs Precogs, e no sejam infuenciadas pelos policiais. Quando
o pessoal do Departamento de Justia chega para investigar o programa, eles
entram na rea da piscina, e um estarrecido John Ander ton os segue. Ele
agarrado pela Precog feminina Agatha que revela uma viso anterior de um
homicdio prestes a acontecer. Anderton observa os registros desse homicdio
e descobre que o pretenso homicida no foi identifcado. Ele indaga por que
no houve identifcao e sobre o que acon teceu com a vtima, uma mulher
chamada Anne Lively. Sua investigao desse incidente o conduz a um proble-
ma: ele prprio logo identifcado como o infrator de um futuro ho micdio.
Trata-se do futuro homicdio de uma pessoa que ele descobre ser o sequestra-
dor de seu flho pequeno, retirado de uma piscina numa cena que assombra
nosso heri, que assiste a vdeos em hologramas de um garoto conversando
com ele e dizendo que o ama.
A trama ento segue a busca de Anderton para alcan ar o signifcado do
homicdio de Anne Lively, para descobrir quem estabeleceu as circunstncias
nas quais ele matar esse homem e para impedir sua prpria priso por um
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 36
homi cdio que ele est certo que no cometeria. Ele descobre que Anne Lively
a me da Precog Agatha e que esse homic dio realmente ocorreu. Quando
ele examina os registros da previso, Anderton nota que as marolas do lago na
imagem que examina esto correndo em direo oposta na segunda imagem.
No incomum que as vises dos Precogs eco em, se repitam na mente dos
Precogs, mas ele percebe que essa uma viso diferente. A primeira viso
uma fco, a representao de um imaginrio homicdio futuro, mas a se-
gunda imagem a do homicdio como ele realmente ocorreu. John Anderton
acaba deduzindo que o homicida o diretor do programa Pr-crime, Lamar
Burgess. Anne Lively queria que sua flha voltasse a seu convvio, mas como
Agatha a mais talentosa das Precogs, Burgess temia que o programa no so-
brevivesse sada de Agatha. para impedir a descoberta da identidade de
Lively e de sua prpria culpa que Burgess cria a armadilha para Anderton.
2. O problema dos falsos positivos
O termo falsos positivos frequentemente usado em debates acerca
dos erros e acertos de polticas penais de neutralizao, ou seja, polticas cujo
objetivo predominante a preveno da reincidncia, tornando impossvel
cometer o crime, normalmente mantendo presumveis reincidentes na priso
por muitos anos ou por toda a vida. A questo a seguinte: se duas pessoas
so consideradas culpadas do mesmo crime, admissvel que sejam punidas
de modo di ferente por causa das avaliaes acerca da probabilidade de come-
terem outros crimes? (Hirsch
4
, Hudson
5
). Crticos dos padres de dosimetria
da pena em sistemas penais onde a preveno da reincidncia (o modelo do
controle do crime) o nico ou principal objetivo, afrmam que independente-
mente de ser o no admissvel, caso as previses pudessem ser totalmente con-
fveis, no mundo real (onde tais previses no so totalmente confveis) o
problema dos falsos positi vos apresenta-se como inevitvel. Se algum con-
siderado como provvel reincidente, num sistema puro de controle do crime,
ele ser punido por mais tempo do que o infrator no considerado como um
provvel reincidente.
4
HIRSCH, Andrew von. Past or future crimes: deservedness and dangerousness in the sentencing
of criminals. Manchester: Manchester University Press, 1985.
5
HUDSON, Barbara. Undestanding justice: an introduction to ideas, perspectives and con-
troversies in modern penal theory. 2. ed. Milton Keynes: Open University Press, 2003.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 37
Se possvel que haja falsos positivos, claro que tambm podem surgir
falsos negativos. Haver infratores no considerados como provveis reinci-
dentes e que, por isso, recebam penas alternativas no lugar de penas de pri-
so, ou que sejam soltos mais cedo ou to logo tenham cumprido o perodo
de tempo proporcional infrao j cometida. Essas falhas de previso sero
conhecidas novos crimes sero cometidos e os infratores sero adiante
condenados e pu nidos. Mas os falsos positivos nunca sero conhecidos com
certeza, porque se eles forem mantidos na priso por conta de uma previso
positiva, eles no usufruiro da liberdade na qual poderiam demonstrar que
no mais representam um perigo para o pblico. Nas sociedades da vida real,
os fal sos positivos ao menos cometeram o pecado original para os quais foram
sentenciados, embora, claro, eles tambm este jam sendo punidos por crimes
que no cometeram quando cumprem um tempo extra de priso por crimes
que se acre dita provavelmente cometero, mas para os quais no tm oportu-
nidade (porque presos) de cometerem ou no. Em Mi nority Report, no entan-
to, os infratores ainda no cometeram (ainda) crime algum.
Os cavalheiros da Justia, como eles so denomina dos no flme, inda-
gam sobre falsos positivos, mas lhes dito que os Precogs somente podem ver
coisas que realmente es tejam prestes a acontecer. Essa viso precognitiva so-
mos conclamados a acreditar - uma forma de previso muito melhor do que
aquelas que ocorrem nos sistemas de justia criminal verdadeiros, onde dados
da vida pregressa do infra tor, como escolaridade e histrico de empregos, ta-
manho da famlia, envolvimento criminal na adolescncia, so usados para
fazer previses sobre o futuro. Ademais, tais fatores baseiam-se em estudos de
grupos, que so utilizados para prever o comportamento de indivduos. o
que os cientistas sociais denominam de falcia ecolgica: considerar que, por
exemplo, 60 por cento de infratores com as caractersticas X e Y provavelmente
reincidiro, no ajuda a saber se a pes soa que est sendo avaliada se revelar
como uma das 60 por cento ou uma das 40 por cento que no reincidir. E nos
demasiadamente elastecidos sistemas de justia criminal de muitos pases, tais
avaliaes fatoriais do tipo marque um x esto sendo utilizadas no lugar de
avaliaes individualizadas baseadas em contatos demorados, face a face, entre
os in fratores e os psiclogos e profssionais de assistncia social.
Destarte, o programa Pr-crime clama ter se livrado desses problemas
difceis envolvendo os falsos positivos. Baseia-se em vises de indivduos, vi-
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 38
ses de coisas que realmente es to prestes a acontecer. No h, como diz La-
mar Burgess, nenhuma possibilidade de falha.
Conforme investiga o homicdio de Anne Lively e busca evitar ser preso
como um futuro infrator, John Anderton, que at ento nunca teve dvidas
sobre o programa, descobre que nem sempre h consenso entre os Precogs.
Ele visita a mulher que originalmente desenvolveu a idia de usar as vises
das pessoas com dons de precognio e informa do sobre a possibilidade de
diferenas nas vises dos trs Precogs. Algumas vezes, um dos Precogs v um
resultado diferente, no qual o assassinato no ocorre: o infrator pode ter de-
cidido matar a vtima, mas por uma razo ou outra no consuma o ato. Essa
viso diferenciada corresponde ao re latrio minoritrio (minority report) do
ttulo do flme. Mesmo sendo o policial chefe do programa, Anderton no ti-
nha qual quer conhecimento dessas vises alternativas. Ele informa do de que
tais vises alternativas no so transpostas para os computadores e registradas,
como ocorre com os relatrios majoritrios, mas so ocultadas na memria do
Precog que as gerou.
A existncia de relatrios minoritrios em alguns casos signifca, evi-
dentemente, que os resultados dos cenrios dos homicdios no so fxos. Al-
guns supostos infratores pode riam se revelar falsos positivos. Mesmo nesse
sistema su postamente a prova de falhas, prever o futuro revela-se uma emprei-
ta inexata e sujeita a variaes que surgem de diferen as no pensamento dos
que fazem as previses, como em qualquer outro sistema de previso. Ander-
ton quer saber se h um relatrio minoritrio no seu caso, mas informado
de que no h.
3. Todos os homicidas so os mesmos?
Quando localiza o homem que ele acredita que se questrou seu flho pe-
queno, Anderton encontra a fotografa do garoto na cama do alojamento do
homem, entre uma pilha de outras fotografas de crianas jovens, o que sugere
trfco de crianas ou uma rede de pedoflia. O homem revela que ele de fato
um criminoso, mas que recebeu a promessa de liberdade e de assistncia a sua
famlia se ele fzer parecer que ou assassinou o garoto ou o ps em algum ter-
rvel ca tiveiro. Mesmo sob essa grave provocao, Anderton no o mata, mas
tenta prend-lo, e no curso da priso o sequestra dor tem uma queda fatal da
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 39
janela do quarto. Ocorre a morte que havia sido prevista, mas Anderton no
cometeu um homi cdio doloso.
J nos foi mostrado o lugar onde os futuros homici das so mantidos
e podemos ver que esto todos exatamen te nas mesmas condies: na gaiola-
bolha de vidro, com ane xas aurolas com escneres cerebrais eletrnicos, o
que constitui uma das convenes da fco futurista. No h ne nhuma va-
riao no destino desses potenciais assassinos de acordo com as circunstn-
cias do homicdio. J fomos infor mados de que todos os homicdios previstos
correspondem ao que geralmente mencionado como crimes passionais:
assassinatos espontneos, no premeditados em resposta a provocao. Assas-
sinatos premeditados cessaram desde a introduo do programa. As pessoas
tm entendido a men sagem informa-se aos representantes da justia de
que simplesmente no vale a pena matar no curso de um roubo, para extorquir
dinheiro, ou em meio a outra criminalidade pla nejada.
Isso signifca que o programa Pr-crime est prenden do e mantendo sob
custdia assassinos que, em muitos pa ses, seriam considerados como os que
menos mereceriam as penas mais severas. Na maioria dos sistemas de justia
criminal ocidentais, a legtima defesa constitui uma exclu dente da antijuridi-
cidade, e a provocao da vtima constitui uma atenuante ou uma excludente
parcial da culpabilidade. H discusses sobre quais circunstncias devem ser
aceitas como legtima defesa, estado de necessidade ou provocao da vtima,
mas h um consenso geral de que devem haver algumas circunstncias que
podem ser legalmente aceitas como causas excludentes da antijuridicidade ou
atenuantes. Por exemplo, casos de mulheres que matam seus esposos abusivos
no se encaixam, na maioria dos pases, nos crit rios da legtima defesa ou
da provocao, porque esses cri trios originaram-se do comportamento dos
homens, onde a reao provocao espontnea e imediata. As mulheres,
porque em geral so fsicamente mais fracas que os homens, frequentemente
aguardam seu algoz adormecer ou sair de sua esfera de vigilncia. A legtima
defesa ou estado de ne cessidade, na maior parte dos sistemas jurdicos, depen-
de da idia de uma crena realista de que ser morto. E da mesma forma que
a provocao defnida legalmente, a legtima de fesa normalmente se vincula
a uma nico instante em que a pessoa que mata est sendo ameaada fsica-
mente, ao pas-so que para muitas mulheres que sofrem abusos a crena da
morte provvel ou a provocao so processos cumulativos, construdos aps
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 40
meses ou anos de abuso. Em muitos pases tm se repensado formas de ampliar
as defnies de legtima e de provocao para fazer com que se apliquem s
circuns tncias em que mulheres vtimas de abuso possam recorrer ao assassi-
nato como ltimo recurso.
Uma outra classe de assassinatos que podem ser con siderados como de
menor reprovabilidade do que os homic dios premeditados para obteno de al-
guma vantagem cri minosa inclui os homicdios por misericrdia, onde algum
pode repentinamente responder ao reiterado pedido de uma pessoa amada para
que faa cessar um sofrimento insupor tvel. Tais situaes e os casos de resposta
a provocaes raciais extremas, esto sujeitas a constante debate na maio ria dos
sistemas jurdicos ocidentais. E mesmo quando as ca tegorias de excludentes de
antijuridicidade ou de atenuantes permanecem inalteradas, os juzes so em ge-
ral to lenientes quanto as leis permitem. Crimes passionais, em legitima de fesa
ou decorrentes de provocao da vtima no correspon dem, de certo, ao que
se considera na categoria especial de crimes hediondos no Brasil, e no Reino
Unido tem havido muita discusso nos ltimos cinco anos sobre se tais homic-
dios devem ter que permanecer obrigatoriamente sujeitos a pena de priso por
tempo indeterminado, que o que atual mente ocorre para todos os homicdios
na Inglaterra e no Pas de Gales. Em Minority Report, Anderton percebe que a
localiza o da fotografa de seu flho na cama do sequestrador, entre fotos de
tantas outras crianas presumivelmente sequestra das, cria a situao na qual ele
est mais propenso a perder o controle e matar sua futura vtima. Para ele esta a
mais grave provocao. Mas mesmo com essa arrasadora desco berta, Anderton
como a Precog Agatha reiteradamente o faz lembrar ainda tem uma escolha,
e ele escolhe prender ao invs de matar o sequestrador de seu flho. O tema da
provo cao da vtima e a questo dos falsos positivos surgem jun tos nesse caso:
a provocao to grave que a maioria das cortes da maioria dos pases no de-
sejaria aplicar a punio mais severa. E embora fosse to grave que nenhum dos
Pre-cogs previu que Anderton no mataria, a previso era falsa.
4. Vale tudo na preveno do crime?
Um outro tema suscitado em Minority Report sobre ser ou no ad-
missvel que se faa qualquer coisa que funcio ne na preveno do crime, ou se
algumas coisas so inacei tveis mesmo que sejam efcazes. Em outras palavras,
se a efccia a nica questo a ser considerada ou se existem limites ticos
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 41
que devem ser defendidos como fundamentais ao estado de direito. A questo
est obviamente no cerne do debate sobre ser admissvel ao projeto Pr-crime
aprisionar algum que no tenha verdadeiramente cometido um crime, mas
tambm surge em dois outros contextos: a sequncia com as aranhas robs e a
questo dos Precogs.
A poca em que Minority Report ambientado mos trada como um
tempo no qual o escaneamento dos olhos de uma pessoa constitui-se na forma
normal de identifcao. Empregados do programa Pr-crime tm seus olhos
escane ados quando entram no edifcio, e olhos so tambm escane ados para
identifcar vtimas, suspeitos e infratores. Quando ele est tentando evitar ser
preso como um futuro homicida e descobrir mais sobre o assassinato de Anne
Lively, John An derton sabe que ele ser identifcado pelos padres de seus
olhos. Ele tem ento seus olhos transplantados para enganar os escneres.
Anderton se esconde num bloco de apartamen tos, e a sequncia das aranhas
mostra a introduo de ara nhas robticas no prdio como parte da caada.
Robs fazem buscas em todas as fontes de calor humano e escaneiam os olhos
de todos os que encontram com seus longos sensores. Tropas robticas consti-
tuem um outro clich da fco cientf ca, e como em outros flmes do gnero,
a busca pelo homem caado pelas aranhas ocorre numa sequncia assustadora
e tensa. A pergunta que feita por alguns dos residentes do bloco de aparta-
mentos se admissvel deixar as aranhas rastrear todos no prdio, causando
terror em muitas destas pessoas, especialmente crianas. Anderton se esconde,
mas por acaso encontrado pelas aranhas, que falham em identi fc-lo por
causa da modifcao em seus olhos.
A outra questo, concernente aos limites das estrat gias de preveno do
crime eticamente admissveis vincula-se s condies de vida dos trs Precogs.
Eles so humanos, mas no tm qualidade de vida reconhecidamente humana.
So mantidos numa piscina com nutrientes que os mantm vivos e que estimu-
lam suas vises. Nenhum dos trs toma parte em qualquer atividade humana
normal; suas vidas in teiras so desperdiadas nessa piscina. John Anderton
solta Agatha e a leva com ele quando tenta descobrir o assassi no de Anne Live-
ly e o sequestrador de seu flho. Com isso percebemos que ela pode fazer bem
mais do que lhe per mitido fazer no programa. Agatha est com frio e assusta-
da, mas fsica e mentalmente capaz de caminhar, pensar, falar e interagir com
outros seres humanos. No fnal do flme, so mos informados que o programa
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 42
Pr-crime foi encerrado e que os trs Precogs esto vivendo num lugar onde
podem ter privacidade e os vemos levando uma vida reconhecidamen te hu-
mana. Como Precogs, eles tinham sido selecionados por seus dons especiais.
Eles no so defcientes fsicos ou mentais por natureza, mas foram mantidos
em cativeiro, com suas vidas restritas e controladas como se fosse perigosos
ou incapazes de desempenhar atividades humanas normais. Eles estavam sen-
do usados de forma completamente instru mental: eles existiam apenas para o
programa, e no tinham qualquer dignidade humana, escolha, ou perspectiva
de de senvolvimento humano.
O uso de seres humanos como instrumentos de um programa com-
pletamente contrrio ao imperativo estabe lecido pelo grande flsofo do ilu-
minismo europeu, Immanuel Kant, de que os seres humanos devem ser sem-
pre tratados como fns, nunca como meios. A ironia dessa traio da regra
de ouro de Kant que muitos conceitos fundamentais do es tado de direito
nas sociedades ocidentais modernas provm da mesma flosofa iluminista. As
idias de responsabilidade individual, de punio como uma reao justifcada
ao crime, de igualdade perante a lei, esto enraizadas na flosofa de Kant e de
outros pensadores iluministas europeus.
5. Os inocentes nada tm a temer
Quando questes relacionadas a direitos humanos ou a liberdades civis
so suscitadas, com relao a algumas das estratgias de preveno do crime
que esto sendo uti lizadas ao redor do mundo, uma resposta comum que os
inocentes nada tm a temer. Na Inglaterra, tem havido uma discusso sobre a
invaso de privacidade com o uso muito amplo de cmeras de circuito fecha-
do de TV em nossas cida des, shopping centers e outros lugares supostamente
pbli cos; sobre a tomada de impresses digitais de suspeitos bem como daque-
les que so condenados por crimes, mantendo tais impresses em arquivo; so-
bre a construo de coordena dos bancos de dados, que interligam todos os de-
partamentos governamentais; sobre o carter intrusivo de muitas das re centes
medidas de preveno das fraudes e dos furtos a lo jas e residncias. Somente
aqueles com algo a esconder tm com o que se preocupar a resposta usual
dos crticos. E o pblico clama por mais no por menos formas de vigiar
e fchar indivduos. Somente alguns poucos ativistas e advoga dos de direitos
humanos fazem objeo rpida difuso de invasivas tcnicas de vigilncia.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 43
Em Minority Report, todavia, vemos que no so ape nas os culpados ou
aqueles com algo a esconder que so pegos nas atividades operacionais do pro-
grama Pr-crime. Vemos na sequncia das aranhas que todos os residentes no
bloco de apartamentos so alvos, e que so os mais ino centes as crianas os
que se tornam mais aterrorizados. Ainda mais preocupante, sabemos que Jack
Anderton no previu do homicdio no qual identifcado como autor, e que a
precognio foi induzida por uma armadilha preparada pela prpria pessoa que
verdadeiramente culpada do assassi nato de Anne Lively, para impedir algum,
que inocente, de descobrir o que realmente aconteceu com Anne Lively.
Os projetos de preveno do crime so geralmente de uso indiscrimina-
do: eles tm por alvo qualquer pessoa de uma certa rea da cidade; qualquer
pessoa com uma certa identidade racial ou religiosa; qualquer pessoa que seja
um estranho. A idia de que somente os culpados tenham algo a temer no
to verdadeira como muitos de ns gostaramos de acreditar.
6. Fico e vida real
Minority Report evidentemente uma fco e am bientado no futuro.
Embora no possamos usar Precogs, ara nhas robs, ou manter os infratores
em bolhas de vidro, como em muitas fces futuristas de qualidade, as ques-
tes morais que o flme suscita certamente se aplicam ao mundo real de nossas
sociedades contemporneas. No Reino Unido, recente legislao penal intro-
duziu re gimes penais para proteo ao pblico. Isso signifca que um infrator
pode ser mantido na priso mais tempo do que o pe rodo normal cominado
para a espcie de crime pelo qual ele/ ela foi condenado/a, se a pessoa avalia-
da como oferecendo um provvel risco ao pblico. So geralmente os infrato-
res com maiores privaes sociais e econmicas que sero vis tos como sendo
propensos a cometer outros crimes se soltos, porque aqueles que se ressentem
de qualifcaes educacio nais ou de boa experincia de trabalho, ou que te-
nham vcios ou problemas de sade mental aparecero como tendo ps simas
probabilidades de manter uma vida livre de crimes se acaso forem soltos. Es-
ses regimes penais de proteo ao p blico tm feito a populao prisional au-
mentar para tal pata mar que nossas prises esto seriamente superpopulosas,
as condies prisionais esto se deteriorando e a quantidade de programas de
educao e reabilitao disponveis vm decli nando na medida em que os fun-
cionrios esto inteiramente engajados na manuteno da ordem.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 44
Claro, essa no a primeira vez que regimes penais de proteo ao p-
blico tm sido previstos no Reino Unido e claro que o Reino Unido no o
nico pas a ter esse tipo de regimes penais. Eles existem na maioria dos siste-
mas penais e tambm esto previstos no Brasil. Enquanto as prises, na maioria
dos pases, mantero algumas pessoas que so re almente perigosas e diante das
quais o pblico precisa de proteo, o fundamento para tais medidas certamen-
te deve estar ancorado nos crimes que j foram cometidos, no nas previses
do futuro. Para os crimes graves e violentos, a pena proporcional ao crime seria
normalmente um longo perodo de aprisionamento, para que no haja con-
fito entre a justia e a proteo ao pblico. O que perturbador sobre esses
novos regimes de proteo ao pblico, introduzidos na Inglaterra e no pas de
Gales em 2003, que eles tambm so previstos para crimes no-violentos.
Nos ltimos dez anos, novos projetos de lei tm sido trazidos ao Parlamento
para modifcar nossa legislao de sade mental, que permanecia inalterada
desde os anos 80. Embora muitos dos projetos j tenham se tornado leis, um
que ainda est sendo bastante discutido o que permite a de teno de pessoas
que so avaliadas como sofrendo de um transtorno de personalidade grave e
perigoso, mesmo que elas no tenham cometido crime algum. A legislao de
sa de mental sempre permitiu a deteno compulsria daqueles que represen-
tam um perigo para si prprios ou para os ou tros, desde que esse perigo tenha
sido evidenciado por algum comportamento real - um ataque em algum, uma
tentativa de suicdio, uma autoleso. J os projetos relacionados aos transtornos
de personalidade graves e perigosos caminham em direo ao territrio de Mi-
nority Report porque no exigem - para a aplicao das medidas nele previstas
- que qualquer comportamento perigoso tenha acontecido. Tampouco h uma
indicao especfca dos sintomas que permitam defnir o transtorno. O uso
da legislao de sade mental para deter pessoas que possam no se qualifcar
para uma deteno sob os parmetros da lei penal comum constitui-se numa
ca racterstica crescente nos pases de lngua inglesa como a Austrlia, assim
como o prprio Reino Unido, e esse um exemplo perturbador do tipo de
difuso do encarceramento em nossa sociedade moderna, que foi descrita pelo
flsofo francs Michel Foucault
6
. Os projetos de lei foram posteriores a um
caso em que a esposa e a flha de um professor universitrio foram mortos e a
outra flha gravemente ferida e abandonada na suposio de que estivesse mor-
6
FOUCAULT, Michel. Discipline and punish: the birth of the prison. London: Allen Lane, 1977.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 45
ta. Michael Stone foi acusado desse homicdio, mas a maioria dos advogados
e polticos interes sados no caso consideravam extremamente improvvel que
ele fosse condenado por uma corte, e mesmo que fosse con siderado culpado
a condenao seria vista como frgil e ele seria libertado em consequncia
de uma apelao. No havia nenhuma das provas usuais nesse caso: no havia
nenhuma testemunha, exceto a flha sobrevivente, que no forneceu uma iden-
tifcao frme. No havia nenhuma prova pericial da cena do crime. A nica
prova consistia no depoimento de um preso de que Michael Stone, ao tempo
em que se encontra va preso, no curso do processo, no mesmo estabelecimento
prisional, havia lhe confessado o crime. Esse outro prisioneiro foi informado
de que teria uma pena menor como compensa o por ajudar a condenar Stone.
O que levou aos projetos de lei sobre transtornos de personalidade graves e
perigosos foi a viso, mantida por muitos psiquiatras e funcionrios da pri-
so que mantiveram contato com Stone, de que ele era uma pessoa perigosa e
desagradvel, a quem, mesmo que no houvessem provas sufcientes para ser
condenado, provavel mente tinha cometido os homicdios ou certamente pode-
ria fazer aquele tipo de coisa caso estivesse em liberdade.
Essa proposta de alterao da lei de sade mental, e desde ento o pro-
jeto de deteno sem julgamento para aqueles suspeitos de envolvimento em
incidentes terroristas, mostram que no Reino Unido, como em outros lugares,
o te mor pelos crimes graves to dominante entre o pblico e os polticos
que est subestimando o comprometimento com os valores fundamentais do
estado de direito. Ademais, essa perda de compromisso com a justia nos cri-
mes graves evo lui para as formas mais rotineiras de crime, de sorte que, em
geral, a crena de que a culpa deve ser provada alm da dvida razovel
vista como um inconveniente, como algo a ser diludo para que mais pessoas
possam ser condenadas. Mesmo que isso signifque que mais pessoas que so
de fato inocentes possam ser condenadas e privadas de sua liberda de.
Para o Brasil, a questo sobre quais devem ser os limites se que de-
vam haver limites para as estratgias de preveno do crime, talvez parea
mais relevante do que a questo de embasar a custdia na previso do futuro (e
no na punio proporcional pelas condutas realizadas no passado). Embora o
crime violento precise ser contido (se os relatos que lemos nos jornais e vemos
na televiso no exageram, o controle das favelas, especialmente no Rio de Ja-
neiro, por quadrilhas de trafcantes de drogas, precisa ser rompido), chocante
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 46
a liberdade de matar que parece ter sido permitida Polcia Militar. E como
Minority Report nos adver te, no so apenas os culpados que so atingidas nos
emba tes entre os trafcantes e a Polcia Militar. Pessoas inocentes, mes e flhos,
so atingidas no fogo cruzado, e muitos tm receio de caminhar at a escola,
ao trabalho, frequentar um bar, e usufruir os hbitos de vida e as atividades
de lazer que a todos ns deveramos ter assegurados. Ainda que possa haver
oposio dos ativistas de direitos humanos, de alguns acadmicos, de polticos
e promotores de justia, o pblico em geral parece mostrar pouca oposio s
tticas brutais da Polcia Militar.
Embora a maioria de ns no vivamos nas zonas de guerra das favelas e
nas reas de alta incidncia de crime de muitas cidades inglesas e americanas,
a qualidade de vida reduzida e restrita para muitos de ns. O medo do crime
nos torna temerosos no apenas de visitar as favelas, ultrapassar as fronteiras
de nossas vizinhanas ou usufruir de nossas pr prias cidades aps o anoitecer.
Vivemos em blocos de apar tamentos e condomnios cheios de grades e suspei-
tamos de qualquer pessoa que no conheamos. Essa forma de vida nos priva
da fruio completa da diversidade, que deveria ser uma das principais fontes
de satisfao e riqueza da vida ur bana. Limitamos nossa interao s pessoas
parecidas com ns mesmos, evitando tanto quanto possvel encontros com es-
tranhos. E quanto menos encontramos pessoas que so diferentes de ns, mais
facilmente podemos esquecer do que elas tm em comum conosco. Podemos
esquecer que elas tm as mesmas esperanas e receios que temos. Quando co-
meamos a v-las como menos humanas, comeamos a nos importar, cada vez
menos, com qualquer noo de que elas tm direito liberdade e ao bem-estar.
E assim coloca mos cada vez menos limites no que pode ser feito na busca da
reduo do crime.
Minority Report tem muitos temas de relevncia para todos ns que
nos preocupamos com o equilbrio entre a efccia da preveno do crime e o
estado de direito. S em conversar com amigos e colegas, eles suscitam pon-
tos diferentes dos que eu discuto aqui, e tenho certeza que os leitores tero
identifcado questes no flme que no me ocor reram ou aos meus colegas do
Reino Unido. A idia de que haja uma leitura correta de um texto um texto
escrito ou um flme ultrapassada na crtica literria. No apenas os leitores
e espectadores vem coisas diferentes, mas as ver ses do mesmo texto abando-
nam alguns tpicos do original e tornam outros mais centrais e mais completa-
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 47
mente desenvol vidos. Um flme de um livro nunca exatamente o mesmo que
o prprio livro e flmes sucessivos baseados no mesmo livro sero diferentes
porque eles so adaptados para diferentes pocas e platias. Nenhum de ns,
leitores e espectadores, ler ou ver o mesmo livro ou flme exatamente da
mesma maneira. Estou certa de que a maioria das pessoas que lem o mesmo
livro ou vo assistir a um flme juntos, quando discu tirem-no mais tarde, te-
ro algumas vezes a sensao de que devessem ter lido ou assistido algo bem
diferente. Uns tero identifcado como importantes temas e sub-temas aquilo
que a pessoa que as acompanha parece no ter notado. o que o flsofo ale-
mo GADAMER denomina de fuso de horizon tes, a signifcar que trazemos
nossas prprias experincias e preocupaes para nossa leitura e nossa viso, e
portanto o que percebemos e nos lembramos um encontro de nossa prpria
perspectiva com aquela do autor ou do diretor.
7
Os assuntos que realcei aqui so aqueles que se mos tram relevantes para
importantes debates na teoria e na f losofa penais, os quais so relevantes para
algumas abor dagens que tm sido desenvolvidas no Reino Unido para a re-
duo do crime e para polticas penais. Para mim a puni o, se puder ser de
alguma forma justifcada, somente pode s-lo para os crimes j cometidos. As
pessoas no devem ser punidas por coisas que possam vir a fazer no futuro. A
deten o numa priso, asilo, com ou sem bolhas de vidro futursti cos, pode ser
chamada de preveno, mas ser certamente experimentada como punio.
E aqueles preocupados com a justia criminal devem evitar dar nomes mais
suaves ao trata mento mais rude. A pena deve conter elementos construtivos
para capacitar um infrator a viver uma vida livre de crimes no futuro. A pre-
veno do crime melhor alcanada atravs da reduo da desigualdade social
e reconhecendo o valor de cada indivduo como ser humano e como membro
de nossa sociedade.
O criminlogo Stanley Cohen em seu livro Vises do controle social,
8
observou que as sociedades modernas esto cada vez menos preocupados com
a culpa individual ou com aspectos morais do crime e das penas e previu o
desenvol vimento de mais estratgias de controle que visualizariam as pessoas
como abstraes, como membros de grupos suspei tos. Ele tambm observou
7
GADAMER, Hans-Georg. Truth and method. Lon dres: Sheed and Ward, 1975.
8
COHEN, Stanley. Visions of social control: crime, punishment and clarifcation. Cam bridge:
Polity Press, 1985.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 48
as prises tornando-se armazns para serem humanos indesejados, ao invs
de lugares onde eles pudessem se tornar cidados melhores, com melhores
oportunidades de vida. Minority Report nos mostra um futuro plausvel para
nossas prprias sociedades, um futuro que tem muitos dos traos que Cohen
considerou como vindo a ser a nova matriz para lidar com os crimes e as
penas. A Washing ton D.C. do flme usa as estratgias de preveno do crime
que devem ser consideradas inaceitveis em qualquer pas que queira ser regi-
do pelo estado de direito. reconfortante que os cavalheiros da justia ain-
da questionem esses expe rimentos, e que o programa Pr-crime tenha sido
desman telado. Trata-se de fco, obviamente. No mundo real parece haver
muito poucas pessoas a defender idias de justia e poucas formulando ques-
tes diversas de isso funciona?.
Referncias
COHEN, Stanley. Visions of social control: crime, punishment and clarifcation.
Cambridge: Polity Press, 1985.
FOUCAULT, Michel. Discipline and punish: the birth of the prison. London: Allen
Lane, 1977.
GADAMER, Hans-Georg. Truth and method. Londres: Sheed and Ward, 1975.
HIRSCH, Andrew von. Past or future crimes: deservedness and dangerousness in the
sentencing of criminals. Manches ter: Manchester University Press, 1985.
HUDSON, Barbara. Undestanding justice: an introduction to ideas, perspectives and
controversies in modern penal theory. 2. ed. Milton Keynes: Open University Press,
2003.
PACKER, Herbert. Te limits of the criminal sanction. Stan ford: Stanford University
Press, 1969.
MINORITY report. Direo: Steven Spielberg. USA: Twentieth Century Fox e
Dreamworks Pictures, 2002.
BLADE RUNNER:
O Caador de Colaboradores
Adriane Reis de Arajo
Deckard: Ela uma replicante, no? Tyrell: Eu estou
impressionado. Quantas questes normalmente so
necessrias para identifc-los?
Deckard: Eu no entendo, Tyrell. Tyrell: Quantas
questes? Deckard: Vinte, trinta, entrecruzadas.
Tyrell: Foram mais de uma centena para a Raquel,
no? Deckard: Ela no sabe?! Tyrell: Ela est co-
meando a suspeitar, eu acho. Deckard: Suspeitar?
Como ela pode no saber o que ?
1
O
flme Blade Runner, o caador de andrides (1982), dirigido por Ridley
Scott e roteiro de Hampton Fancher
2
, descreve a vida e o trabalho
dos replicantes no Mundo Perifrico e das pessoas da cidade de Los
Angeles, no ano de 2019. Essa fbula, embora ambientada no futuro, refete as
relaes socioeconmicas em formao na dcada de 1980.
Ali encontramos a globalizao da economia, a reduo do papel do Es-
tado, a invaso de modelos orientais (toyotismo e mtodos de qualidade total),
precarizao da mo-de obra e a acumulao fexvel, expressa na fexibilidade
dos processos de trabalho, dos mercados, produtos e padres de consumo. Mas
o que realmente chama ateno nessa obra a importncia que a emoo do
trabalhador tem para a empresa e a utilizao da violncia como forma de
controle da mo-de-obra insurgente.
1
Deckard: Shes a replicant, isnt she? Tyrell: Im impressed. How many questions does it usually
take to spot them? Deckard: I dont get it Tyrell. Tyrell: How many questions? Deck ard: Twenty,
thirty, cross-referenced. Tyrell: It took more than a hundred for Rachael, didnt it? Deckard: She
doesnt know?! Tyrell: Shes beginning to suspect, I think. Deckard: Suspect? How can it not
know what it is?
2
O roteiro foi baseado no livro Do androids dream of electric sheep?de Philip Dick.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 50
A ao se inicia com a vista area da cidade de Los Angeles, cuja paisa-
gem dominada pelo edifcio da Tyrell Corporation. Esta empresa, com expan-
so interplanetria, confecciona replicantes. Os replicantes so reprodues de
seres humanos, mais fortes e geis, obtidos pela engenharia gentica e dotados
de capacidade intelectual no mnimo igual a dos engenheiros que os criaram
(seus pais). Eles se distinguem dos seres humanos pela ausncia de memria
e de emoes. O interesse comercial est na sua utilizao como mo-de-obra
escrava em trabalhos perigosos e na colonizao de outros planetas. Tal qual
o trabalhador taylorista e fordista, a primeira gerao de replicantes apenas
valorizada por sua fora fsica e alijada de qualquer processo decisrio.
As condies de trabalho dos replicantes so pssimas. Com o desenrolar
de suas atividades, observa-se neles a capacidade de desenvolver emoes por
meio de suas experincias de vida processadas por uma memria prpria e re-
cente. As emoes aproximam os replicantes dos seres humanos e abrem a pos-
sibilidade de uma srie de rebelies, o que exige a implantao de um sistema
de segurana pela empresa. O primeiro sistema de segurana adotado corres-
pondente a um curto perodo de vida: 4 anos. Como disse Tyrell, o criador, ao
replicante Roy quando lhe nega a possibilidade de mais tempo de vida: Apro-
veite, uma chama que queima com dupla intensidade, vive a metade do tempo.
Retomando a refexo do nosso cotidiano, o incremento do ritmo da
produo, compensado com acrscimo salarial em decises coletivas entabu-
ladas com o sindicato, resulta na reivindicao dos trabalhadores pela partici-
pao na gesto e nos lucros da empresa, o que em ltima instncia se refere ao
reencontro de sentido para o seu trabalho e vida. Reafrma se assim o trabalho
como um dos espaos sociais centrais na humanizao do indivduo, expres-
sando sua liberdade, contribuindo para sua emancipao ou reifcao.3
No flme, um grupo de replicantes NEXUS 6 reivindica mais tempo de
vida, em uma colnia do Mundo Perifrico. Seis unidades NEXUS 6 sequestram
uma nave, chacinam a tripulao e passageiros e voltam Terra em busca da
reverso de sua programao gentica. Conforme a lei, os replicantes encon-
trados no planeta Terra devem ser executados sumariamente (pena de morte),
penalidade que se pressupe existente desde o primeiro modelo de replicante.
18
3
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afrmao e a negao do trabalho.
5. ed. So Paulo: Boitempo, 2001. p. 135.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 51
Imediatamente chamado Deckard, antigo membro do destacamento
policial especial - Unidade Blade Runner, para ca-los. Alis, segundo a ter-
minologia tcnica ali descrita: aposent-los.
Em contraposio fria dos rebelados, o flme nos apresenta Rachel,
replicante de ltima gerao. O aprimoramento do modelo de Rachel diz res-
peito sua memria implantada, que corresponde s lembranas da sobrinha
de Tyrell, inclusive em sua foto com a me. O novo sistema de segurana per-
mite um certo controle das emoes dos replicantes e encobre sua condio ar-
tifcial at deles mesmos. Rachel ignora sua origem at que Deckard lhe aplica
o teste Voight-Kampf, um teste que identifca os seres humanos por meio de
respostas emocionais. Desconfada, Rachel foge. Ela se d conta ento de que
no faz parte do negcio; ela o negcio!
A replicante Rachel expressa o trabalhador do ltimo modelo de gesto
de mo-de-obra: o toyotista. Este modelo de gesto de mo-de-obra permite
ao trabalhador participar dos atos decisrios da produo seja em seu poder
de parar a produo ao constatar qualquer problema ou defcincia do pro-
duto seja na sugesto de formas mais efcientes de processos produtivos nos
Crculos de Qualidade Total. Por abranger diversas peculiaridades somadas
ao incremento da tecnologia da microinformtica e das telecomunicaes, tal
inovao merece uma anlise mais acurada.
1. O novo mundo do trabalho:
modelo toyotista de gesto de mo-de-obra
A crise econmica e o desmantelamento do Estado So cial que se segue
a 1970 foram acompanhados da extino do modelo fordista de organizao
da produo. Os grandes complexos fabris, assentados em um nico territrio,
abran gendo todo o processo produtivo cede lugar empresa, mais gil, com-
posta internamente apenas por um pequeno ncleo de trabalhadores incum-
bidos da elaborao do produto fnal e assessorada por inmeros fornecedores
e prestadores de servios disseminados pelo mundo (sistema de redes e con-
tratadas). A prtica de grandes estoques de materiais e pro dutos abandona-
da; a produo segue o sistema just in time em que a atividade empresarial
provocada pela demanda.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 52
Nesse sistema, exige-se do trabalhador mais do que o conhecimento tc-
nico da sua funo. Ele deve ser capaz de detectar - e mesmo antecipar - fa-
lhas no processo produtivo, propondo solues tanto para seu aprimoramento
como do prprio produto fnal. A denominao do operrio ou emprega do
se transmuda para colaborador. Para o desenvolvimento de sua atividade, o
colaborador deve estar apto a trabalhar em equipe e dividir seu conhecimento
com os demais colegas e a empresa. O colaborador ideal capacitado e fexvel.
O conceito de qualifcao profssional d lugar competncia e empregabili-
dade. Magda de Almeida Neves explica:
A noo de competncia, assim entendida, re duz a noo
de qualifcao compreendida em seus aspectos multidi-
mensionais e se apresenta centrada na habilidade indivi-
dual de se mobilizar para resoluo de problemas, muito
mais do que na sua bagagem de conhecimentos.
4
O conceito de empregabilidade padece da mesma impreciso. Segundo
Graa Druck, a empregabilidade se caracteriza pelas condies do trabalha-
dor de manter ou ob ter emprego, sendo de responsabilidade do trabalhador e
da empresa.
5
Com vistas a demonstrar sua habilidade para re soluo de pro-
blemas e dessa forma apresentar condies para obter e manter o emprego,
diante de um trabalho imate rial, os trabalhadores buscam incessantemente a
atualizao do conhecimento pertinente a sua atividade produtiva sem con-
seguir identifcar objetivamente os requisitos necessrios a sua permanncia
no mercado de trabalho. A avaliao indi vidual e constante pautada em con-
ceitos to efmeros resulta na falta de parmetros para fscalizao e exame,
fomentan do a competio ilimitada entre colaboradores, entre equipes e entre
empresas (at mesmo entre empresas do mesmo gru po situadas em locais di-
ferentes).
O desenvolvimento da microeletrnica e dos meios de comunicao
agrava o quadro ao fazer desaparecer as fron teiras da fbrica e permitir o al-
cance do trabalhador em qual quer parte do mundo, inclusive em seu ambiente
4
NEVES, Magda de Almeida. Reestruturao produtiva, qualifcao e relaes de gnero. In:
ROCHA, Maria Isabel Baltar da (Org.). Trabalho e gnero: mudanas, permanncias e desafos.
Campinas: ABEP, NEPO/UNICAMP, CEDEPLAR/UFMG; So Paulo: Editora 34, 2000. p. 178.
5
DRUCK, Graa. Qualifcaes, empregabilidade e competncia: mitos versus realidade. In: O
TRABALHO no sculo XX: consideraes para o futuro do trabalho. So Paulo: A . Garibal di;
Bahia: Sindicato dos Bancrios da Bahia, 2001, p. 86.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 53
domstico e vice-versa. Esse tipo de modulao do espao e do tempo exige
uma nova modulao do engajamento subjetivo, uma vez que a liberdade do
colaborador pressupe um forte com promisso com a empresa, ou seja, ele
deve por si mesmo se obrigar a faz-lo
6
. E ele o faz, ainda que seja por medo
do fantasma do desemprego estrutural. Marcio Pochman ressal ta:
No mais o relgio que organiza decisivamen te o tem-
po de trabalho. [...] As novas ferramentas fazem com que
voc fque plugado 24 horas no trabalho. O empregado vai
para casa, sonha com o trabalho, fca com medo de ser
demitido... Essa insegurana nos coloca vinculados ao tra-
balho o tempo todo
7
.
A empresa atual exige do colaborador a dedicao integral tanto no as-
pecto fsico e intelectivo quanto emocional para o desempenho de suas ativi-
dades. As emoes so relevantes e devem ser moldadas segundo os interesses
da empresa. De maneira geral, o trabalhador valorizado pela organizao
no somente enquanto lhe til, produtivo, cordato e materialmente feliz, mas
quando se sente parte fundamental da gesto empresarial, acreditando-se cria-
tivo e responsvel pelo sucesso ou pelo fracasso do empreendimento como
um todo. O ideal que, na execuo contnua de atividades, o colaborador
abandone suas expectativas individualistas passadas ou futuras, viva apenas o
presente, assumindo os interesses da empresa como os seus prprios.
O controle do trabalho se intensifca deixando para um segundo plano
os cartes-de-ponto e se concentra nos objetivos e resultados da produo,
com a modulao da remunerao por meio da distribuio de prmios (e
sanes). Esse novo modelo permite a modulao do prprio contrato de tra-
balho por meio de jornadas fexveis e modalidades de contratos atpicos. A
fnalidade ltima manter a competitividade dentro do mercado globaliza-
do de produo que deve ser alcana a qualquer custo e estimulada de forma
consciente ou inconsciente.
A memria emocional do trabalhador construda segundo os interes-
ses da empresa, com a utilizao inclusive de mensagens subliminares nos sof-
twares distribudos para o trabalho:
6
ZARIFIAN, Philippe. Engajamento subjetivo, disciplina e controle. Novos estudos Ce brap. n. 64,
p. 27, nov. 2002.
7
KASSAB, Alvaro. O novo mundo do trabalho: o trabalho no novo mundo. Jornal da Unicamp,
Campinas, 9 abr. 2007. Edio 364, p. 2-20.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 54
Os sofwares subliminares vm sendo aplicados pelos de-
partamentos de pessoal e de recursos humanos de diversas
empresas norte-americanas com o objetivo de aumentar
a produtividade dos funcionrios que operam terminais.
Um gerente de recursos humanos pode adquirir estes pro-
gramas que piscam frases em velocidade taquicoscpica
como trabalhe mais depressa ou adoro meu servio.
[...] Tais programas geram efeitos semelhantes sugesto
ps-hipntica, induzindo o trabalhador a acreditar que
deve ser mais rpido e dedicado no trabalho, que sua jorna-
da curta e agradvel, seu emprego o melhor possvel etc.
8
O consentimento do colaborador tambm cooptado nos espaos in-
ternos de discusso dos contornos da produo, como antes mencionado, fa-
zendo com que ele se sinta parte integrante do grupo decisrio. Bons pen-
samentos signifcam bons produtos
9
. Esse slogan da fbrica da Toyota retra-
ta bem a nova exigncia da produo: a criatividade, emoo, participao e
preocupao do trabalhador tal qual fosse ele o proprietrio do investimento.
Todavia, como observa Pedro Proscurcin, tais modifcaes no acarretam a
diminuio do poder do empregador:
[...] o poder empresarial fcou mais forte. As novas formas
de gerir tecnologias, aumentando a autonomia e o poder
de deciso dos empregados, favoreceram o empregador.
Hoje, dado o aumento da competncia nos processos in-
ternos, todos na empresa esto preocupados com seus
objetivos e resultados. Nesse sentido, o empresrio conse-
guiu dividir as responsabilidades pela sorte do empreen-
dimento, sem uma proporcional diviso dos lucros. Vale
dizer, a autonomia dos empregados no empreendimento
no implica em mudanas no centro do poder da organi-
zao. Nesse centro, nada mudou.
10
8
CALAZANS, Flvio. Propaganda subliminar multimdia. 7. ed. So Paulo: Summus, 2006, p. 37.
O autor ainda destaca que esses programas so escritos por mdicos psiquiatras, especialistas
em neurofsiologia e que as empesas anunciam explicita mente os efeitos hipnoterapeuticos
que exercem sobre os funcionrios. Como exemplo apre senta a empresa Greentree Publishers
of Camerillo Califrnia, com programas assinados pelos psiquiatras Ronald Levy e Sidney
Rosen.
9
Slogan da fbrica da Toyota, na cidade japonesa de Takaoka, citada por Ricardo Antunes.
KASSAB, Alvaro. O novo mundo do trabalho: o trabalho no novo mundo. Jornal da Uni camp, 9
abr. 2007. Edio. 364, p. 4.
10
PROSCURCIN, Pedro. O fm da subordinao clssica no direito do trabalho. Revista LTr, v.65,
n 3, p. 288, mar. 2001.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 55
A reengenharia da administrao tem objetivo semelhante quele in-
dicado na alegoria do Blade Runner para os replicantes de ltima gerao: a
manipulao da emoo dos colaboradores a favor da produo. Todavia, o
discurso empresarial de acolhimento do trabalhador apresenta falhas na exe-
cuo cotidiana do contrato de trabalho cercado de intenso ritmo de produ-
o, sobrecarga, metas impossveis ou simplesmente incompatibilidade com
trabalhadores mais onerosos, doentes, reivindicativos ou questionadores. O
colaborador percebe o estreito limite de sua infuncia nos poderes decisrios
e, do mesmo modo que Rachel, vislumbra a sua condio de replicante.
A inconsistncia do discurso empresarial democrtico pode acionar
mecanismos abusivos de gesto de mo-de-obra. Podemos citar exemplifca-
tivamente a prtica de atos anti sindicais, dispensas e listas discriminatrias,
intensifcao da vigilncia por cmeras, sofwares e revistas ntimas e as men-
sagens subliminares antes citadas. O presente estudo tem como foco uma nova
modalidade de abuso do poder diretivo do empregador frequentemente noti-
ciada nos espaos de trabalho, qual seja o assdio moral, principalmente aque-
le fomentado pela prpria organizao produtiva.
Vejamos ento quem e quais so os instrumentos do Blade Runner con-
temporneo.
2. Assdio moral no trabalho critrios de identifcao
O terror psicolgico a que so submetidos os colaboradores tem levado
expressivo contingente ao adoecimento e incapacidade laboral, quando no
resulta em morte (como os casos de suicdios de trabalhadores nas empresas
montadoras francesas). O isolamento e desqualifcao da vtima geram um
quadro de destruio da autoestima, reconhecida como morte simblica, a
qual equivale execuo dos replicantes relatada no flme.
A denominao assdio moral foi utilizada pela primeira vez em 1998
por Marie-France Hirigoyen que, em 2002, aprimora seu conceito e prope a
seguinte defnio:
[...] o assdio moral no trabalho defnido como qualquer
conduta abusiva (gesto, palavra, com portamento, atitu-
de...) que atente, por sua repe tio ou sistematizao, con-
tra a dignidade ou integridade psquica ou fsica de uma
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 56
pessoa, ameaando seu emprego ou degradando o clima
de trabalho
11
.
O assdio moral pode ser identifcado de acordo com sua origem como
assdio moral vertical descendente, hori zontal ou vertical ascendente. O ass-
dio moral oriundo do superior hierrquico da vtima denominado assdio
vertical descendente. A perseguio praticada pelos prprios colegas de traba-
lho se identifca como assdio moral horizontal. E o assdio vertical ascenden-
te, mais raro, traduz aquele realiza do pelos subordinados contra um superior
hierrquico. Essas modalidades em geral se manifestam de forma combinada,
confgurando o assdio moral misto.
Os critrios costumeiramente utilizados para a identi fcao do assdio
moral no trabalho so: a repercusso da conduta abusiva na sade fsica e psi-
colgica da vtima, a periodicidade e durabilidade do ato faltoso, as espcies de
condutas abusivas, a sua fnalidade, o perfl e a intencionali dade do agressor.
Para a primeira corrente, entre os quais se encontra Heinz Leymann,
somente h o assdio quando a vtima de senvolve algum sintoma de estres-
se ou doena, de natureza psicossomtica ou mental, como reao situao
hostil a que foi submetida. A exigncia de que a vtima apresente um quadro
de doenas mentais ou fsicas condiciona o reconhe cimento do assdio moral
a sua subjetividade, ignora os ca sos em que ela seja mais resistente agresso
ou aqueles em que seus problemas fsicos ou psquicos transparecem apenas
aps o trmino da violncia.
12
Alm do mais, o enfoque biolgico ou mental
permite o questionamento de aspectos privados da vida do empregado como
motores dos distrbios explicitados, afastando ou minimizando os efeitos da
agres so sofrida no ambiente de trabalho.
11
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefnindo o assdio moral. Traduo
Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 17. A redao indicada foi pro posta
pela autora perante os grupos de trabalhos no poder legislativo francs em 2002. O pri meiro
conceito no inclua a necessidade de repetio e sistematizao da conduta abusiva.
12
Marie-France descreve vtimas que desenvolvem o quadro psicossomtico ou psicolgico aps
o trmino do assdio moral (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redef nindo o
assdio moral.). Este disturbio se chama neurose ps-traumtica.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 57
O segundo critrio se traduz na frequncia e periodi cidade da conduta
abusiva
13
. Heinz Leymann enfatizao ao sustentar que a diferena entre con-
fito e mobbing no est focalizada no que feito ou como feito, mas sim na
frequn cia e durao de seja l o que for feito.
14
Esse estudioso, bem como
Dieter Zapf,
15
somente reconhece o mobbing no caso de a conduta abusiva se
repetir semanalmente pelo prazo mni mo de seis meses. Para Marie-France
Hirigoyen, conforme conceito transcrito acima, a repetio e sistematizao
so importantes na confgurao dessa prtica abusiva.
Em territrio brasileiro, a frequncia do assdio mo ral apurado em uma
pesquisa envolvendo um universo de 10.000 entrevistados autodeclarados v-
timas confrma o po sicionamento acima, pois em 50% dos casos a conduta
abu siva se repetiu vrias vezes por semana, em 27% uma vez por semana, em
14% uma vez por ms e em 9% raramente.
16
De toda maneira, em vista da pre-
cariedade das relaes de trabalho no Brasil, com a possibilidade de ruptura
injustifcada e imediata pelo empregador tambm do contrato de trabalho a
prazo indeterminado, justifca-se a rejeio de qualquer de limitao temporal
mnima, como decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 9 Regio:
ASSDIO MORAL. SUJEIO DO EMPREGA DO. IRRE-
LEVNCIA DE QUE O CONSTRANGI MENTO NO TE-
NHA PERDURADO POR LON GO LAPSO DE TEMPO.
Conquanto no se trate de fenmeno recente, o assdio mo-
ral tem me recido refexo e debate em funo de aspectos
que, no atual contexto social e econmico, levam o traba-
lhador a se sujeitar a condies de traba lho degradantes, na
medida em que afetam sua dignidade. A presso sobre os
empregados, com atitudes negativas que, deliberadamente,
de gradam as condies de trabalho, conduta re provvel
13
Adotamos tambm o critrio de frequncia e periodicidade sem desconhecer estudos e legislao
comparada que aceitam um nico ato abusivo como assdio moral, desde que as consequncias
sejam graves e permanentes, como o caso da legislao canaden se, porque vislumbramos no
assdio a prtica da perseguio, o cerco da vtima. LE CLERC, Chantal. Intervenir contra o assdio
no trabalho: cuidar e reprimir no basta. Plur(e)al, Local, v. 1, n. 1, 2005. Disponvel em: <http://
plureal.up.pt/revista/artigo.php?id=37t45nSU547112245:2:397391>. Acesso em: 2 fev. 2007.
14
Bullying; Whistleblowing. Information about psychoterror in the workplace. In: Te mobbing
encyclopaedia: Bullying; whistleblowing: the defnition of mobbing at workplaces. Disponvel
em <http://www.leymann.se/English/frame.html> . Acesso em: 13. Jun. 2005, traduo livre.
15
Workplace bullying (mobbing). Disponvel em <http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/
Abteil/ABO/forschung/mobbing_e.htm>. Acesso em: 13 jul. 2005.
16
ASSDIO moral: o lado sombrio do trabalho. Revista Veja, ano 38, n. 28, p. 108, 13 jul. 2005.
Edio 1913.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 58
que merece punio. A humilhao, no sentido de ser ofen-
dido, menosprezado, inferio rizado, causa dor e sofrimento,
independente do tempo por que se prolongou o comporta-
mento. A reparao do dano a forma de coibir o emprega-
dor que intimida o empregado, sem que se cogite de que
ele, em indiscutvel estado de sujeio, pudesse tomar provi-
dncia no curso do contra-to de trabalho, o que, certamen-
te, colocaria em risco a prpria manuteno do emprego.
Recur-so provido para condenar a r ao pagamento de inde-
nizao por danos provocados pelo assdio moral
17
.
O terceiro critrio enfatiza as condutas abusivas pro priamente ditas, com
base em sua intensidade e sua vincu lao s vrias facetas da relao de trabalho:
as condies materiais de trabalho, as condies sociais de trabalho e a pessoa do
trabalhador. A classifcao de Marie-France Hi rigoyen divide os diversos atos
hostis em quatro categorias: 1) deteriorao proposital das condies de traba-
lho (como retirar a autonomia da vtima; no lhe transmitir mais informa es
teis para a realizao das tarefas; priv-la do acesso aos instrumentos de traba-
lho: telefone, fax, computador, ...; atribuir-lhe proposital e sistematicamente ta-
refas superiores ou inferiores s suas competncias; entre outros), 2) isola mento
e recusa de comunicao (exemplifcativamente, a vti ma interrompida siste-
maticamente; superiores hierrquicos e colegas no dialogam com ela; a comu-
nicao unicamen te por escrito; recusa de qualquer contato com a vtima, at
mesmo visual), 3) atentado contra a dignidade (como utilizar insinuaes des-
denhosas para qualifc-la; fazer gestos de desprezo diante dela como suspiros,
olhares desdenhosos, desacredit-la perante os colegas, superiores e subordina-
dos; espalhar rumores a seu respeito; atribuir-lhe problemas psicolgicos;) e 4)
violncia verbal, fsica ou sexual (entre as quais, amea-la com violncia fsica,
agredi-la fsicamente ainda que de leve, falar com a vtima aos gritos, invadir
sua vida privada com ligaes telefnicas ou cartas)
18
. Tratando da realidade
brasileira, Margarida Barreto destaca os pro cedimentos mais corriqueiramente
utilizados: dar instrues confusas ou imprecisas, bloquear o andamento do tra-
balho, atribuir erros imaginrios e ignorar a presena dos trabalha dores.
19
17
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. Acordo do TRT 9 Regio, autos Trt-pr-09329 aco-
00549-2004. -2002-004-09-00-2. Curitiba, 23 de janeiro de 2004.
18
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefnin do o assdio moral. Rio de Ja neiro:
Bertrand Brasil, 2002. p. 108.
19
BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violncia, sade e trabalho: uma jornada de humilhaes.
So Paulo: EDUC. 2003.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 59
Marie-France Hirigoyen admite a manifestao do as sdio desde os atos
sutis at os mais ostensivos como isola mento, avaliaes rigorosas, obstruo
da atividade por meio da sonegao de informaes e equipamentos necess-
rios ou exigncia acima ou abaixo da funo contratada e con dutas de expl-
cita agresso verbal, sexual e fsica, ainda que leves. O que importa ressaltar
que as agresses nem sem pre so humilhantes ou constrangedoras se tomadas
isolada mente, ou seja, fora de sua contextualizao. Valrie Malabat salienta:
Podero caracterizar atos de assdio as decises normais
nas relaes de trabalho, mas que em razo de seu con-
texto, de suas circunstncias, de seu modo de execuo
ou de sua repetio tendam a degenerar as condies de
trabalho.
20
O quarto aspecto diz respeito fnalidade do assdio moral. Identifca-
se o assdio pelas condutas voltadas de gradao das condies humanas,
sociais e materiais do tra balho ou, especifcamente, o afastamento da vtima
do local de trabalho. Embora na maioria das situaes, o assdio re sulte na
sada da vtima, seja por meio da dispensa ou pedido demisso ou ainda a
aposentadoria por invalidez
21
, a excluso do grupo se manifesta como objetivo
em situaes extremas.
A identifcao desse resultado com a fnalidade principal do assdio
decorre da sua maior visibilidade por fora da maior intensidade ou continui-
dade da agresso. Todavia no se pode confundir os instrumentos ou resulta-
dos com a fnalida de da prtica abusiva. A fnalidade especfca geralmente se
revela to-somente na investigao do panorama geral das redes internas de
poder da organizao produtiva, como ve remos.
O ltimo critrio (subjetivo) focaliza sua ateno na pessoa do agressor
e da vtima. Para o agressor, destaca se a sua intencionalidade destrutiva como
fos condutores para a caracterizao do assdio, geralmente o relacionando
com a fgura do gestor ou empregador. Esse parmetro seduz em virtude do
20
MALABAT, Valrie. la recherche du sens du droit pnal du harclement, Droit Social, n. 5,
mars, p. 496, 2003.
21
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefnin do o assdio moral. Rio de Ja neiro:
Bertrand Brasil, 2002. p. 120, Marie-France Hirigoyen relata que 66% dos casos resultam no
afastamento do emprega do, sendo: 20% despedida por justa causa, 9% demisso negociada,
7% pedido de demis so, 1% pr-aposentadoria e 30% em licena para tratamento de doenas,
aposentadoria por invalidez ou desempregadas por incapacidade laboral.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 60
desequilbrio de foras entre o trabalhador e o empregador ou seus represen-
tantes e interessa empresa na medida em que a sua responsabilidade se limita
ao controle da conduta abusiva manifesta, bastando a ela adotar cdigos de
tica e criar setores internos legitimados para a resoluo do confito individu-
al estabelecido. As pesquisas, contudo, indicam que o assdio moral se dirige
a empregados dos mais diversos nveis hierrquicos e praticado nos mais va-
riados sentidos: vertical descendente, horizontal ou vertical ascendente. Alm
do mais, o assdio moral se confunde muitas vezes com prticas de poder e
resistncia na relao de trabalho, as quais, ainda que abusivas, no precisam
necessariamente se assentar em desvio de personalidade do agressor.
Igual desconfana repousa no estudo da pessoa do agredido. A litera-
tura especializada reconhece a possibilidade de a vtima ser selecionada sem
nenhum motivo diretamente a ela vinculado, mas simplesmente porque ela foi
eleita como integrador negativo
22
ou o chamado bode expiatrio em uma
situao de crise na empresa. Heinz Leyman descarta veementemente qual-
quer trao da personalidade da vtima como o propulsor ao assdio:
Como mencionado anteriormente, a pesquisa at o mo-
mento no revelou particular importncia aos traos da
personalidade tanto em respeito aos adultos no local de
trabalho ou s crianas na escola. Um local de trabalho
sempre regulado por regras de comportamento. Uma
dessas regras reclama cooperao efetiva, controlada pelo
supervisor. Confitos podem sempre surgir, mas, de acor-
do com estas regras comportamentais, a ordem deve ser
restaurada para promover uma produtividade efciente.
[...] Uma vez que o confi to atinja esse estgio de gravi-
dade, no tem sen tido culpar a personalidade de algum
por isso. Se o confito se desenvolver em um processo de
mobbing, a responsabilidade recai primeiramente sobre
a gerncia, seja porque a administrao de confitos no
foi trazida para estacar a situao ou porque h uma fa-
lha nas polticas organiza cionais em tratar as situaes de
confito.
23
22
Integrador negativo aquela pessoa que eleita a vtima de dois grupos rivais que ento deixam
suas rivalidade de lado e se unem para agredi-la. Ela serve como um catalizador do confito.
23
LEYMAN, Heinz. Why Does Mobbing Take Place? In: Te mobbing encyclopaedia: Bul lying;
whistleblowing: the defnition of mobbing at workplaces. Disponvel em: <http://www. leymann.
se/English/frame.html> . Acesso em: 13 jun. 2005.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 61
O critrio subjetivo nefasto na medida em que responsabiliza a prpria
vtima pelo assdio sofrido, reafrmando preconceitos vigentes na sociedade.
3. Assdio moral organizacional
Em 29 de junho de 2000, a Comisso Nacional Consultora dos Direi-
tos do Homem, com base em trabalhos realizados dentro do Ministrio de
Emprego e Solidariedade francs, distinguiu trs formas de assdio moral no
trabalho: a) assdio institucional, que faz parte de uma estratgia de gesto de
pessoal; b) assdio profssional, apresentado contra um ou mais trabalhadores
determinados e destinado a refutar os procedimentos legais de afastamento;
e c) assdio individual, praticado com a fnalidade gratuita de destruio do
outro e de valorizao do poder do agressor, seguindo a classifcao de Marie-
France Hirigoyen como assdio perverso.
24
A comisso mencionada reconhe-
ceu ao menos duas espcies de assdio moral voltado a uma coletividade, ain-
da que os atos abusivos se dirijam to somente a um trabalhador. Entretanto,
conforme Michel Debout, inmeros observadores declararam sua difculdade
na identifcao dessas fguras em face de seu carter insidioso e da ausncia
de clareza da integrao do assdio moral s estratgias de gesto de pessoal.
25
Realmente, a visualizao do assdio moral como estratgia de gesto
de pessoal exige o debruar cuidadoso sobre as condies gerais de trabalho
dos envolvidos. A investigao quanto fnalidade da prtica do assdio moral
pode nos guiar nesse trabalho. Utilizarei trs situaes paradigmticas descri-
tas na doutrina e jurisprudncia como exemplos.
No primeiro caso, resgato as descries das condutas abusivas utilizadas
contra trabalhadores da indstria qumica paulista
26
. Ao retornarem de licen-
a mdica, os trabalhadores foram obrigados a fcar sentados em local visvel
aos demais, perante a linha de produo, durante a jornada de trabalho sem
exercer qualquer funo. A inatividade imposta pelo em pregador est emba-
sada no exerccio de seu poder de gerir a mo-de-obra. Na presente hiptese,
porm, essa determi nao claramente visa constranger o trabalhador adoecido
a abdicar de sua estabilidade no emprego, pedindo demisso, ao mesmo tem-
24
DEBOUT, Michel. Le harclement moral au travail. Paris: Conseil conomique et social, 2001. p. 21.
25
DEBOUT, Michel. Le harclement moral au travail. Paris: Conseil conomique et social, 2001. p. 22
26
BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violncia, sade e trabalho: uma jornada de humilhaes.
So Paulo: EDUC. 2003.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 62
po em que transmite a todo grupo a inutilidade para a empresa daqueles que
adoecem, confgurando ver dadeiro abuso de direito. Consequentemente, tra-
balhadores no-licenciados (mesmo que adoecidos) silenciam em rela o s
adversidades encontradas nas condies de trabalho e muitas vezes at aumen-
tam o ritmo da produo para se distanciar da imagem da vtima, consentindo
com a adminis trao abusiva. A conduta abusiva aqui no decorre de um con-
fito degenerado entre pessoas especfcas; ela utilizada como mecanismo de
saneamento do espao empresarial a baixo custo e controle da subjetividade
da mo-de-obra envol vida. A vtima imediata selecionada objetivamente por
fugir do padro da organizao produtiva, sem que se registre ne cessariamente
qualquer confito interpessoal anterior (salvo o confito com as regras impl-
citas: o afastamento da linha de produo em decorrncia do adoecimento).
A mesma situa o se repete em relao a executivos japoneses que no fnal da
carreira so isolados e transformados em colaboradores virtuais ou trabalha-
dores invisveis, a fm de que a empresa no arque com os custos econmicos e
de imagem que uma dispensa implicaria:
[...] ele [diretor] jamais avisado de reunies, a copeira
ou os prprios colegas se esquecem de lhe servir o ch e
o chefe raramente lhe dirige a palavra. S o estritamente
necessrio lhe dito para que ele no se esquea que exis-
te e que, por isso mesmo, se transformou num estorvo
no trabalho.
27
O segundo caso paradigmtico extrado da jurispru dncia brasileira.
Algumas demandas trabalhistas denun ciaram a utilizao da humilhao e
constrangimento, como pretensas medidas motivadoras da mo-de-obra. A
prtica abusiva consistia na exigncia de que o grupo de trabalha dores com
menor produo pagasse prendas nas reunies mensais de trabalho, como
por exemplo, realizasse fexes de brao, vestisse fantasias, danasse em cima
de mesas, ou recebesse um trofu depreciativo (trofu tartaruga, trofu aba-
caxi, trofu pig). Essas prticas caracterizam situaes de assdio moral orga-
nizacional em que as represlias se apre sentam como um elemento do duplo
sistema de gratifcao -sano. Importante destacar que na mesma reunio em
que se pagavam as prendas eram distribudos prmios aos mais produtivos,
reforando a identifcao entre as duas fguras: prendas e prmios.
27
HELOANI, Roberto. Gesto e organizao no capitalismo globalizado: historia da manipu lao
psicolgica no mundo do trabalho. So Paulo: Atlas, 2003. p. 161.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 63
Por fm, o estudo de Leonardo Mello Silva sobre a indstria txtil paulis-
ta chama ateno para a possibilidade de o prprio mtodo toyotista de gesto
de mo-de-obra propiciar o exerccio do poder e da resistncia em todos os
sentidos e vetores dentro da hierarquia empresarial, inclusive horizontal, re-
sultando nessas prticas ilcitas. Como observou, Leonardo Silva a sobrecarga
de trabalho e a modulao da remunerao rompe os laos de solidariedade
entre os membros da equipe, que so impulsionados a seguir o trabalho a des-
peito da difculdade alheia
28
. Nesse cenrio, o grupo pode facilmente hostilizar
qualquer integrante com difculdades pessoais comprometedoras da produo
a fm de obrig-lo a aumentar o ritmo ou voluntariamente se retirar da equipe.
A fnalidade bsica extrada das prticas de assdio moral no trabalho
acima mencionadas instrumental, qual seja a promoo do envolvimento
subjetivo dos trabalhadores s regras da administrao, pressionando-os re-
signao aos parmetros da empresa e excluindo aqueles com o perfl inade-
quado. A docilizao e padronizao do comportamento de todo grupo de
trabalho obtida pela sano imputada aos diferentes se difunde em todos os
nveis da organizao por intermdio do exemplo, saneando o espao empre-
sarial. H casos inclusive em que a repercusso do exemplo extrapola o espao
de trabalho e atinge o trabalhador em seu meio social ou familiar, como no
caso de empregados menos produtivos que foram obrigados a levar um bode
para casa a p ao longo da cidade, aliment-lo e mant-lo vivo.
A utilizao da humilhao e constrangimento como instrumentos de
disciplina em estabelecimentos como escolas, quartis, fbricas e prises foi
denunciada por Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, sob a denomi-
nao de sano normalizadora. Na empresa contempornea, essa prtica
abusiva tem sido utilizada de forma mais sofsticada e sutil, como mais um
dos instrumentos de controle da subjetividade dos trabalhadores. Estabeleci-
dos os contornos e extenso do assdio moral organizacional, propugnamos
sua conceituao como a prtica sistemtica, reiterada e frequente de varia-
das condutas abusivas, sutis ou explcitas contra uma ou mais vtimas, dentro
do ambiente de trabalho, que, por meio do constrangimento e humilhao,
visa controlar da subjetividade dos trabalhadores. O controle da subjetivida-
de abrange desde a anuncia a regras implcitas ou explcitas da organizao,
28
SILVA, Leonardo Mello. Trabalho em grupo e sociabilidade privada. So Paulo: USP, 2004. p. 247.
(Curso de Ps-graduao em Sociologia).
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 64
como o cumprimento de metas, tempo de uso do banheiro, mtodo de traba-
lho, at a ocultao de medidas ilcitas, como sonegao de direitos (registro
em Carteira de Trabalho, horas extras, estabilidade no emprego) ou o uso da
corrupo e poluio pela empresa. Essa prtica resulta na ofensa aos direitos
fundamentais dos trabalhadores, podendo inclusive resultar em danos morais,
fsicos e psquicos.
4. Concluso
A cultura da suspeio, desencadeada pela frentica concorrncia em-
presarial, atualmente se dirige e envolve todos os colaboradores que, alm de
ter sua liberdade e intimidade violadas pela empresa sob a justifcativa de ra-
zes de segurana, proteo do patrimnio ou simplesmente viabilidade da
atividade empresarial, voltam-se uns contra os outros para assegurar sua parte
na escassa reserva de empregos, comprovando seu engajamento subjetivo
empresa. A hostilidade no ambiente de trabalho, com a banalizao da violn-
cia psicolgica, mais do que segurana ou sobrevivncia da corporao, tem se
revelado como instrumento de gesto de mo-de-obra. O intuito obter o ple-
no controle sobre a ao e pensamento do colaborador, com a quebra dos laos
de solidariedade do grupo. De modo que no surpreende a revelao na verso
do diretor de o prprio Deckard (o caador dos andrides) ser um replicante.
Tampouco causa espanto o fato de, ao fnal, ele prprio passar a ser a caa.
A identifcao do assdio moral organizacional rompe o tratamento
psicolgico do problema e devolve a discusso sobre as condies de trabalho
e os mecanismos de gesto de mo-de-obra aos espaos coletivos. A sua visu-
alizao explica a inrcia dos setores internos da empresa diante das denn-
cias individuais e a desconfana dos trabalhadores em relao a esses rgos.
Permite-nos tambm averiguar a efccia e barreiras dos mecanismos internos
de preveno difundidos no mundo, tais como: cdigos de tica, observat rios
de violncia, cursos de autodefesa para trabalhadores e a mediao. Chantal
Leclerc alerta:
Sem negar a utilidade das formas de interveno que
se desenvolvem actualmente nas empresas, importa re-
conhecer os limites das intervenes de natureza essen-
cialmente psicolgica e jurdica que so frequentemente
privilegiadas. Por um lado, elas correm o risco de ocul-
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 65
tar as dimenses colectivas e organizacionais da questo,
fazendo transportar sobre os indivduos ditos frgeis
ou maliciosos todo o peso dos problemas de violncia
psicolgica em meio de trabalho. [...] A anlise de teste-
munhos ouvidos revela que o assdio tem quase sempre
origem na organizao. Em consequncia, uma luta efcaz
contra esta forma de violncia no se reduziria a inter-
venes que se fzessem margem dos lugares concretos
do trabalho.
29
Consequentemente, o tratamento efciente do assdio moral no trabalho
se estende para alm da ponta do iceberg da anlise subjetiva e individualiza-
da da questo, para abranger o seu uso estrutural e corrente, de forma difusa,
na prpria admi nistrao da empresa, propiciando a sua denncia e a reao
coletivas.
Espelhando-nos em Rachel, comeamos a suspeitar ...
Referncias
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. Acordo do TRT 9 Regio, autos Trt-pr-09329
aco-00549-2004. -2002-004-09-00-2. Curitiba, 23 de janeiro de 2004.
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afrmao e a negao do
trabalho. 5 So Paulo: Boitempo. 2001.
ASSDIO moral: o lado sombrio do trabalho. Revista Veja. ano 38, n. 28, 13 jul. 2005.
Edio 1913
BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violncia, sade e tra balho: uma jornada de
humilhaes. So Paulo: EDUC. 2003.
BULLYING; Whistleblowing. Information about psychoterror in the workplace. In:
Te mobbing encyclopaedia: Bullying; whis tleblowing: the defnition of mobbing at
workplaces. Disponvel em: <http://www.leymann.se/English/frame.html>. Acesso em:
13 jun. 2005.
CALAZANS, Flvio. Propaganda subliminar multimdia. 7. Ed. rev, atual, ampl. So
Paulo: Summus, 2006.
29
LECLERC, Chantal. Intervenir contra o assdio no trabalho: cuidar e reprimir no basta.
Plur(e)al, v. 1, n. 1, 2005. Disponvel em <http://plureal.up.pt/revista/artigo.php?id=37t4
5nSU547112245:2:397391>. Acesso em: 02 fe. 2007. p. 76/77.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 66
DRUCK, Graa. Qualifcaes, empregabilidade e compe tncia: mitos versus realidade.
In: O TRABALHO no sculo XX: consideraes para o futuro do trabalho. So Paulo: A .
Gari baldi; Sa Paulo: Sindicato dos Bancrios da Bahia, 2001.
HELOANI, Roberto. Gesto e organizao no capitalismo glo balizado: historia da
manipulao psicolgica no mundo do trabalho. So Paulo: Atlas, 2003.
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefnin do o assdio moral. Rio de
Ja neiro: Bertrand Brasil, 2002.
KASSAB, Alvaro. O novo mundo do trabalho: o trabalho no novo mundo. Jornal da
Unicamp, Campinas, 9 abr. 2007. Edio 364.
LECLERC, Chantal. Intervenir contra o assdio no trabalho: cuidar e reprimir no basta.
Plur(e)al, v. 1, n. 1, 2005.
Disponvel em: <http://plureal.up.pt/revista/artigo.php?id=37t4 5nSU547112245:2:397
391>. Acesso em: 02. Fev. 2007.
LEYMAN, Heinz. Why Does Mobbing Take Place? In: Te mobbing encyclopaedia:
Bullying; whistleblowing: the defni tion of mobbing at workplaces. Disponvel em
<http://www.ley mann.se/English/frame.html> . Acesso em 13.06.2005.
MALABAT, Valrie. la recherche du sens du droit pnal du Harclement. Droit Social,
n. 5, mars, 2003.
NEVES, Magda de Almeida. Reestruturao produtiva, quali fcao e relaes de gnero.
In: ROCHA, Maria Isabel Baltar da (Org.). Trabalho e gnero: mudan as, permanncias
e desafos. Campinas: ABEP, NEPO/UNICAMP; Belo Horizonte: CEDEPLAR/ UFMG,
2000.
PROSCURCIN, Pedro. O fm da subordinao clssica no direito do trabalho. In: Revista
LTr, vol. 65, n 03, mar. So Paulo: LTr, 2001.
SILVA, Leonardo Mello. Trabalho em grupo e sociabilidade privada. So Paulo: USP,
Curso de Ps-graduao em Socio logia: Ed. 34, 2004.
WORKPLACE BULLYING (mobbing). Disponvel em <http:// www.psychologie.uni-
frankfurt.de/Abteil/ABO/forschung/mobbing_e.htm>. Acesso em 13.07.2005.
ZARIFIAN, Philippe. Engajamento subjetivo, disciplina e con trole. In: Novos estudos
Cebrap. N 64, nov. 2002.
A CIDADE DA GUERRA
E A REPRESSO HUMANITRIA:
as Fan tasias de Katsuhiro Otomo
sobre a Cidade Fortaleza
1
Evandro Piza Duarte
Menelick de Carvalho Netto
A
guerra que esse claro ilumina no nem a
eterna, que os novos alemes invocam, nem a
ltima com que se entusiasmam os pacifs tas.
Na realidade, apenas isto: a nica, ter rvel e derradeira
oportunidade de corrigir a incapacidade dos povos para
ordenar suas re laes mtuas segundo o modelo das suas
re laes com a natureza, atravs da tcnica. Se o corretivo
falhar, milhes de corpos humanos sero despedaados
pelo gs e pelo ao porque eles o sero, inevitavelmen-
te e nem mesmo os habitues dos assustadores poderes
etnicos, que guardam seu Klages em mochi las de campa-
nha, vivero um dcimo do que prometido pela nature-
za a seus flhos menos curiosos e mais sensatos, que no
manejam a tcnica como um fetiche do holocausto, mas
como uma chave para a felicidade. Estes da ro uma prova
de sua sensatez quando se recusa rem ver na prxima guer-
ra um episdio mgico e quando descobrirem nela a ima-
gem do cotidia no; e, com essa descoberta, estaro prontos
a transform-la em guerra civil: mgica marxista, a nica
altura de desfazer esse sinistro feitio da guerra.
2
1
Cannon Fodder integra o flme Memories (1996, Colmbia, 114 min), composto por mais dois
flmes, Magnetic Rose, dirigido por Koji Morimoto e Stink Bomb, dirigido por Tensai Okamura.
A trilogia Memories uma das obras mais festejadas do mestre dos animes Katsuhiro Otomo.
O game, inspirado neste flme, foi, paradoxalmente, proibido em alguns pases, acusado de incitar
comportamentos violentos, e, em outros, banido para as crianas. O texto, por sua vez, tem sua
trajetria. Luciano F. Piza Duarte sugeriu o flme e apresentou o universo dos animes. A primeira
verso do texto foi apresentada no Projeto Direito & Ci nema nas Faculdades do Brasil (PR) em
2006. Agradeo s sugestes feitas pelos alunos presentes nas duas oportunidades em que o flme
foi debatido. Em 2008, os dilogos com o Professor Menelick de Carvalho Netto, no Programa
de Ps Graduao em Direito - Douto rado na UnB, deram novo impulso e dimenso proposta
inicial, conduzindo a essa verso em coautoria, marcada por incurses na teoria constitucional.
2
BENJAMIM, Walter. Teorias do Facismo Alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 72.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 68
1. A Fantasia: A Cidade da Guerra
A Cidade Fortaleza apresenta a jornada diria do me nino que vive numa
cidade marcada pela guerra. No se trata de uma cidade devastada pela guerra,
mas construda para a guerra. Sobre os telhados da cidade vem-se enormes
ca nhes. A imagem de uma fortaleza-fbrica. Ali, a atividade de seus ci-
dados converge para que, durante o dia, sob o acompanhamento de sirenes
ensurdecedoras, as balas sejam disparadas. A rotina detalhada. O pai do me-
nino frequenta o arsenal que dispara as balas. A me trabalha na fbrica de ar-
mamento. O menino vai escola onde ensinado sobre a arte da guerra. Seus
desenhos e fantasias retratam o sonho cavalheiresco do soldado. No quarto do
garoto, sobre a cama, est a foto de seu dolo, o general e lder.
Se toda parbola prope uma moral, a mensagem de Katsuhiro sens-
vel e direta: As balas ultrapassam o limite urbano e caem num grande campo
vazio, repleto de crateras provocadas pela artilharia dos dias anteriores. No se
sabe quem o inimigo. No se conhece a funo do projtil para a estratgia.
A guerra a atividade fm. A cidade vive para a guerra, e a guerra no precisa
de justifcativas.
A fora de sugesto da parbola do pequeno soldado impressiona: O que
aconteceria a sociedade se a guerra pas sasse a ser sua atividade produtiva (ou
destrutiva) principal? Na parbola, a resposta no pode prescindir dos diver-
sos ele mentos sugeridos para caracterizar essa Cidade da Guerra:
A Cidade da Guerra no possui uma memria hist rica.
A reverncia feita pelo garoto todas as noites ao ge neral apresenta uma
memria monumento que faz meno a valores irracionais como o respeito
pela imagem do guerreiro. No h uma lembrana do fato, do acontecimento
transforma dor, do momento gerador da guerra e seus porqus. A cidade in-
capaz de concluir, dia aps dia, que os procedimentos b licos so inteis. Os
acontecimentos se repetem, mas a repe tio no leva a refetir sobre o bvio,
aquilo que est sendo vivido. Na estrutura da narrativa do flme, o ritmo
ditado pela monotonia da fbrica, como se estivesse a reproduzir essa plura-
lidade de momentos suspensos. A cidade da guerra vive a monotonia de sua
autofabricao. A guerra, anunciada em cada gesto, converte-se em destino de
um tempo inevitvel que no transcorre, repete-se.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 69
Na Cidade da Guerra, a nica opo a guerra.
Numa das cenas, em frente fbrica, um grupo de ma nifestantes protes-
ta contra o uso de armas qumicas. Porm, fca a questo: O protesto contra o
uso de armas qumicas poderia incluir o protesto para o fm de toda a indstria
blica que alimenta a cidade? Evidentemente que no. Na Cidade da Guerra,
no h uma opo real para o fm da guerra. A tentativa de sua conteno
implica em apoiar outras tcnicas blicas. As opes contra a guerra so dife-
rentes verses da continuidade da mesma guerra.
Na Cidade da Guerra a vida privada assume o lugar da vida pblica.
Na casa do menino, o rdio e a televiso apresentam uma comunicao
de mo nica, to ao gosto dos meios de comunicao de massa das dcadas de
1970 e 1980. Na cozinha, assim como nos intervalos da fbrica, domina a con-
versa sobre a trivialidade. No se discute o meramente banal, mas o mesqui-
nho. A vida humana reconduzida s funes naturais primrias (o trabalho,
a alimentao, o descanso e os relacionamentos sexuais), sem que se perceba a
artifcialida de desta criao do natural.
O constrangimento das potencialidades humanas para ambientes pri-
vados, restritos e particularistas, onde o insigni fcante se constitui no objeto
central das comunicaes, um dos efeitos da organizao da cidade para a
guerra. Na me dida em que a guerra domina o espao do debate, resta aos ho-
mens a vida pequena. Na cidade da guerra, a guerra no pode produzir heris,
mas apenas burocratas e operrios. Ora produz seres dominados por impul-
sos primrios, sem capaci dade crtica, ora autmatos que alienam seus desejos
(suas potencialidades criativas) na atividade blica.
A Cidade da Guerra a cidade dos procedimentos.
Ao acordar, o garoto executa suas tarefas como se es tivesse num quartel.
No centro de artilharia, o ato de fazer disparar o canho ritualizado. Vrios
elementos indicam a presena de uma procedimentalizao das tarefas: unifor-
mes diferenciados, poses de autoridade ou de subalternidade e sincronizao
dos atos. Na execuo dos procedimentos se esvazia, paulatinamente, a pulso
criativa do trabalho. O desnimo aps o trabalho no apenas cansao, mas
frus trao. Do ponto de vista dos atores, as atividades no se articulam com
vistas a fnalidades, os procedimentos so bu rocratizados a tal ponto que se
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 70
negam enquanto tais, apenas extenuam os corpos que se reencontram apticos
no espao da domesticidade.
3
Na Cidade da Guerra todos j foram vencidos, pois para o preparo
da guerra preciso vencer as resistncias in ternas dos corpos aliados.
A conteno dos gestos dos operrios, o olhar extenu ado do pai dian-
te das notcias do rdio, as mortes sucessivas dos operrios etc. retratam o
cansao sublime e insignifcante dos engajados na produo. A arquitetura da
casa continua o plano da fbrica e das torres de canho. A Cidade da Guerra
no pode lutar pela liberdade, pois a guerra diria impe a contrao muscu-
lar para a produo da fora da guerra co letiva e a disseminao qumica das
substancias blicas em todas as partes do corpo, fazendo de cada morador uma
pea da artilharia da cidade. Impe-se a continuidade em todos os espaos so-
ciais dessa atividade fm. Diante do inimigo exter no, a Cidade da Guerra, em
sua alegada luta pela liberdade, deve ensinar a submisso. A guerra faz dos que
aprendem a desejar a vitria, vencidos.
A Cidade da Guerra uma cidade sonhada.
Na escola as crianas aprendem sobre o funcionamen to das armas. O
menino sonha em ser o atirador do canho.
A imagem de brinquedo lana projteis no infnito. No h guerra sem
sonho. O sonho no apenas o momento do in consciente revelado, mas da
subjetividade introjetada, social mente construda. A guerra deve ser desejada
e, para tanto, ao invs de demonstrar sua necessidade racional, deve ar quitetar
sua beleza. A guerra faz do mundo um sonho que po der renascer, hibernado
que estava na procedimentalizao burocrtica da vida. Todavia, a cidade da
guerra sua prpria mentira, pois prope o ato criador que emerge da destrui-
o de tudo, da ruptura e, ao mesmo tempo, instaura a mecani zao da vida e
a submisso das potencialidades coletivas. A guerra , portanto, uma ao es-
sencialmente ideolgica que transforma radicalmente as funes de produo
da vida e a liberdade de pensamento.
3
Para Serio Galleotti precisamente o vnculo de cada ato integrante da srie procedimen tal com
o ato fnal a ser produzido que constitui o elemento caracterstico do fenmeno pro cedimento
e que explica a sua expanso nos diversos ramos do direito concomitantemente crescente
democratizao social. GALEOTTI, Serio. Contributo alla teoria del procedimento legislativo.
Milano: Giufr, 1957.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 71
2. A Cidade da Guerra, a Guerra Total
e o Mercado Global da Guerra
A compreenso da metfora da Cidade da Guerra de pende da recupe-
rao de seus pontos de contato com os dis cursos sobre o real: Seria poss-
vel apontar na histria recente do Ocidente a construo dessa metfora? Ela
corresponde ria a alguma realidade concreta?
Segundo RUSSEL:
A guerra um caso muito mais extremo que as gre ves,
mas levanta questes de princpio semelhan tes. Quando
dois homens lutam num duelo, a ques to trivial, mas
quando 200 milhes de pessoas combatem contra outros
200 milhes de pessoas a questo sria. E na medida em
que cresce a orga nizao a guerra se torna sria. At nosso
sculo, a grande maioria da populao, mesmo em naes
empenhadas em tais contendas, como as guerras napole-
nicas, ainda se ocupava com objetivos pa cfcos, e, via de
regra, pouco perturbada nos hbi tos de sua vida cotidiana.
Agora, quase todos, tanto as mulheres como os homens,
tm que tomar par te numa forma ou noutra de ativida-
des relaciona das com a guerra. O deslocamento resultante
tor na a paz, quando chega, quase pior que a guerra.
Desde o fm da ltima Grande Guerra, por toda a Europa
central, grandes nmeros de homens, mu lheres e crianas,
tm morrido em circunstncias de assombroso sofrimen-
to, e muitos milhes de so breviventes transformaram-
se em andarilhos sem lar, sem razes, sem trabalho, sem
esperana, um fardo tanto para eles prprios como para
quem os sustentam. de se esperar tal fenmeno quando
a derrota introduz o caos em comunidades altamente or-
ganizadas.
4
A guerra, caracterstica da histria recente dos Esta dos, no uma ati-
vidade intramuros, mas de disseminao. A guerra entre Estados no pode ser
local, trata-se de fenme no que se arrasta, em decorrncia dos efeitos que pro-
voca, para alm das fronteiras estreitas do local, das demarcaes do externo
e do interno.
4
RUSSERL, Bertrand. O Impacto da cincia na sociedade. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1976. p. 47.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 72
Ao contrrio do que prope imagem de KATSUHIRO de uma pequena
cidade fortaleza, CLAUSEWITZ, terico da guerra, lembra que o desenvolvi-
mento histrico das fortale zas fez delas espaos vazios, desabitados.
Antigamente, e at a poca dos grandes exrci tos perma-
nentes, a proteo dos habitantes era a nica razo de ser
das fortalezas, isto , dos castelos e cidades fortifcadas. Re-
primido por to dos os lados, o senhor refugiava-se no seu
cas telo para ganhar tempo, esperando um momento mais
favorvel; quanto s cidades, esforavam-se, graas s suas
muralhas, por dissipar as nuvens ameaadoras da guerra.
As fortifcaes no ti nham uma funo to simples e na-
tural. Dadas as suas ligaes com o conjunto do pas, assim
como com as tropas que se batiam em diversos pontos, as
praas fortifcadas ganharam maior importncia, um sig-
nifcado que ultrapassava os seus limites e contribua lar-
gamente para a con quista e ocupao do pas, assim como
para o resultado feliz ou infeliz de todo o confito. Graas a
elas, a guerra tornou-se um todo mais coeren te. As fortale-
zas adquiriram, portanto, tamanho signifcado estratgico
que em dada altura ser viram de base aos planos de campa-
nhas; as campanhas visavam mais conquista de uma ou
vrias fortalezas do que destruio das foras armadas
do inimigo. Remontou-se, pois, s ori gens dessa signifca-
o, isto , s ligaes de um ponto fortifcado com o ter-
ritrio e o exrcito, e julgou-se no poder determinar com
sufciente cuidado, sutileza abstrata e fnura as funes dos
pontos a fortifcar. fora de abstrao, perdeu -se quase
inteiramente de vista a sua funo inicial, de modo que se
chegou idia de fortalezas sem cidades e sem habitantes.
5
Na medida em que a funo de proteo se desenvol ve na cidade forta-
leza, a cidade se dissociava das funes de convivncia e produo. A cidade
fortaleza, cada vez mais fortaleza do que cidade, passou a ser apenas uma pea
que compunha a organizao do Estado com sua soberania que se estendia
sobre vastos territrios. Logo, a idia de uma ci dade criada para a guerra con-
duz, efetivamente, ao Estado Moderno, composio um pouco mais complexa,
mas na qual a atividade produtiva da guerra ainda interna s fronteiras que
demarcam a soberania.
5
CLAUSEWITZ, Carl von. As Fortalezas. In: DA GUERRA. So Paulo: Martins Fontes, 1979. p.
529-539.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 73
Durante muito tempo, o destino da guerra foi a fortale za, ou seja, a
ocupao desse espao diferenciado que per mitia a dominao de um espao
agregado, o espao do conjunto das cidades, espao dominado, mas ainda as-
sim livre, constituindo o territrio. Todavia, como j denunciava a cita o de
RUSSEL, a aliana entre industrialismo e setores b licos deu novo impulso aos
confitos em escala mundial e ao papel dos Estados. Lida dessa forma, a met-
fora da Cidade Fortaleza, projetada em grande escala, marca a reunifcao das
funes da cidade funo blica. As revolues indus triais preparam os gran-
des confitos mundiais. Assim a mu dana da estrutura de produo, baseada na
industrializao, permitiu o surgimento de dois fenmenos de massa, a guerra
e a greve, que esto diretamente relacionados possibilidade de mobilizar a po-
tncia coletiva e associados idia de morte e renascimento da vida social.
6
A
industrializao da guerra garantiu a sua disseminao no espao, deixando de
locali zar na fortaleza para ser reinserida em todo o corpo social. Reinseriu-se,
desse modo, a vida das cidades na estrutura da guerra e a guerra nas cidades.
Para VIRILIO, a guerra venceu o espao restrito da for taleza porque a
histria da guerra a histria do domnio da velocidade. Velocidade que apro-
xima as distncias at faz -las desaparecer. Velocidade que imps a transfor-
mao da guerra numa atividade produtiva. A histria da inteligncia mi litar
na arte da guerra compreendeu trs fases: a) A primeira a fase ttica, estando
associada s sociedades de caa. A ttica a arte da caa.
7
b) A segunda a
estratgia. Ela sur ge junto com a poltica, a polis, a cidade grega. O estrategista
quem governa a cidade, organizando um teatro de opera es com muralhas
e todo o sistema poltico-militar da cidade tradicional. Ela permite a criao
de elites militares, como os cavaleiros romanos e a cavalaria medieval.
8
c) A
terceira a logstica. Ela emerge a partir da Primeira Guerra Mundial quando
as potncias, aps meses de guerras de trincheira, percebem o esgotamento
de suas foras produtivas, pois a produo tradicional em tempo de paz no
poderia atingir a demanda blica.
9
Do ponto de vista cientfco, a logstica des-
locou o problema da quantidade para a qualidade do con fronto com o surgi-
mento da soluo fnal, a arma nuclear.
6
RUSSERL, Bertrand. O Impacto da cincia na sociedade. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1976. p. 47.
7
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra Pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 24.
8
Ibidem, p.24.
9
Ibidem, p.19.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 74
Num conceito formulado pelo Pentgono, ela se constituiu no procedi-
mento segundo o qual o potencial de uma nao transferido para suas foras
armadas, tanto em tempos de paz como de guerra.
10
Como denuncia Virilio:
Portanto, bruscamente, houve uma trgica revi so da eco-
nomia de guerra. Eles j no podiam mais simplesmente
dizer que havia, de um lado, o arsenal que produziu alguns
projteis, e de outro, o consumo civil e o oramento. Eles
precisavam de uma economia especial, de uma economia
de guerra. Esta economia de guerra era uma desco berta
formidvel, a qual, na realidade, inaugurou o complexo
industrial-militar.
11
A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi preparada com antecedn-
cia, criando-se uma mquina de guerra que se tornou um Estado dentro do
Estado, um modelo militar a-na cional que se expandiu. Os militares se trans-
formaram numa classe difusa, uma inteligncia desenfreada cuja ausncia de
limites provm da tecnologia, da cincia.
12
O conceito de logstica, surgido no perodo, estava as sociado ao de
Guerra Total. A guerra passa a ser total, pois, h a possibilidade da extino da
espcie humana e no apenas de alguns grupos. Ao contrrio da guerra medie-
val, a guerra total afeta e mobiliza a produo social e todas as classes, no se
limitando a uma casta guerreira ou a um local.
A nova guerra, a guerra tecnolgica, a descarga completa. No se
trata do apocalipse, pois no tem conte do revelador, transcendente, mas
de pura destruio.
13
A guerra passa a ser total, pois todos os habitantes esto
en gajados em sua produo e sofrem seus efeitos. Durante a Idade Mdia, ao
contrrio, enquanto havia guerras, a maior parte dos membros de uma socie-
dade exercia suas ativida des cotidianas.
14
No entanto, o desenvolvimento da
tcnica conduziu, a partir das consequncias destrutivas da guerra, ao enterro
progressivo da distino entre populaes civil e militar afetadas, a noo de
alvo a ser atingido, ou espao a ser dominado.
10
Ibidem, p.25.
11
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 20.
12
Ibidem, p.28.
13
Ibidem, p.55.
14
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 27.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 75
Como anota Walter BENJAMIM a propsito das guer ras mundiais:
A guerra de gases se basear nos recordes de destruio,
com riscos levados ad absurdum. Se o incio da guerra
se dar no contexto das normas do direito internacio-
nal, depois de uma declara o de guerra, discutvel; em
todo caso, seu fim no estar condicionado a limitaes
desse gnero. Sabemos que a guerra de gases revoga a
distino entre a populao civil e combatente, e com
ela desaba o mais importante fundamen to do direito das
gentes. A ltima guerra mostrou como a desorganizao
que a guerra imperialista traz consigo ameaa torna-la
interminvel.
15
A guerra total, pois ela tende a destruir o espao da poltica, da so-
ciedade civil e da escolha racional baseada em valores. Isso porque a produ-
o tcnica da guerra tem con duzido automao da mquina de guerra
em todos os lu gares. Os sistemas tcnicos so moldados para dispensar a
participao humana e voltados para dar respostas rpidas, independentes,
reativas e, no limite, preventivas. A guerra total representa uma endocolo-
nizao das sociedades, pois elas no podem mais escolher entre guerra ou
no guerra. Pode -se negociar em torno do poder nuclear, mas no sobre
a arma final.
16
A ideologia da guerra, durante a guerra fria, foi a dissuaso,
associada ao prprio desenvolvimento tcni co da velocidade, ao automa-
tismo da resposta.
17
A mquina de guerra, porm, tende a conceber a so-
ciedade civil como um estorvo para seus objetivos, pois se ela colabora na
produo indireta da guerra, permanece como um limite moral inaceitvel
para a atividade blica.
18
Durante a fase da estratgia, vencer uma guerra era criar obstculos con-
tra o inimigo, retardar o tempo de chega da, protegendo um espao. As cidades
e, em maior escala os Estados so fruto dessa interrupo. Todavia, sobretudo,
com a Revoluo Industrial criaram-se as condies para uma nova relao
entre espao e tempo. Tratava-se de uma revo luo dromocrtica, pois ela
15
BENJAMIM, Walter. Teorias do facismo alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 63.
16
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 52.
17
Ibidem, p. 58-59.
18
Ibidem, p. 58.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 76
no criou apenas a possibi lidade de criar objetos similares, mas, sobretudo,
um meio de fabricar a velocidade.
19
Dessa maneira, Virilio denunciou a existncia, du rante a Guerra Fria, nos
pases dos dois blocos em confito, do desenvolvimento de uma classe militar
anacional que miava o horizonte poltico, o complexo industrial militar.
20
Este
teria sido responsvel pela atrofa da sociedade civil, limitan do, inclusive, a pro-
duo de bens para o consumo, sobretudo na extinta URSS. Estvamos sendo
cada vez mais engaja dos na guerra, ramos novos soldados civis, embora no
reconhecssemos a parte militarizada de nossa identidade e conscincia.
21
Nesse sentido:
A dromocracia toma seu lugar de direito, mas des ta vez na
escala de uma sociedade mundial em que as classes milita-
res so, de algum modo, o equivalente do que eram os se-
nhores feudais na sociedade antiga. No h poder poltico
que pos sa regular as multinacionais ou as foras armadas,
que tm autonomia cada vez maior. No h poder supe-
rior a delas. Portanto, ou esperamos pela che gada de um
hipottico Estado Universal, com no sei qual Primaz
sua frente, ou ento fnalmente compreendemos que o que
est no centro no mais um monarca de direito divino,
um monarca absoluto, mas uma arma absoluta. O centro
j no mais ocupado por um poder poltico, e sim por
uma capacidade de destruio absoluta.
22
No lugar de cidades da guerra ou de Estados em guer ra, deveria se lo-
calizar a guerra nas classes mundiais que esto vinculadas a sua produo in-
dustrial. A Guerra Pura, por ela engendrada, deixou de ser a interrupo da
atividade produtiva ou a garantia de determinado modo de produo lo cal,
convertendo-se em atividade produtiva principal e global. No plano ideolgi-
co, segundo VIRILIO, tais classes glorifcam a tecnologia porque ela permite o
desenvolvimento da velo cidade que alimenta a guerra. Elas buscam ocultar que
19
Ibidem, p. 58-59.
20
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 26. Quando digo o militar, no quero dizer com isso uma casta militar.
Pelo contrrio, o que ocorre com o triunfo da logstica uma classe, algo mais difu so, menos
defnvel. Uma classe militar a-nacional, na medida em que a guerra, hoje, ou nuclear ou no
nada.
21
Ibidem, p. 27.
22
Ibidem, p. 51.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 77
na substncia da tecnologia reside o acidente, ou seja, que os efeitos indeseja-
dos da tcnica so, na verdade, manifesta es da essncia da prpria tcnica.
Por sua vez, no plano da poltica, e em especial da deciso poltica sobre
o uso da guerra, a tcnica produziu efeitos desastrosos. A tcnica concentra e
expande as conse quncias de uma deciso, pois como destacava BENJAMIM,
muito antes do lanamento da bomba atmica:
No piloto de um nico avio carregado com bombas de
gs concentram-se todos os poderes o de privar o ci-
dado da luz, do ar e da vida que na paz esto divididos
entre milhares de chefes de escritrio. O modesto lana-
dor de bombas, na solido das alturas, sozinho consigo
e com seu Deus, tem uma procurao do seu superior, o
Estado, grave mente enfermo, e nenhuma vegetao volta
a crescer onde ele pe a sua assinatura.
23
De modo reverso, a aplicao da tecnologia guerra imps a supres-
so da deciso poltica sobre a prpria opo pela guerra. A deciso poltica
dependeria de um tempo razo vel para sua tomada ou de procedimentos de
confronto de opinies divergentes que demandam tempo. Porm, a guerra in-
dustrializada automatizada, impondo as decises sobre a vida ou a morte. A
deciso poltica suprimida quando so criadas tcnicas de resposta imediata
ao confito e o soldado absorvido na automao da mquina de guerra.
24
A automa tizao da guerra importou na supresso dos processos de deciso
que se passavam no local. Do ponto das elites mili tares e industriais, o espa-
o interrompido que correspondia a polis, ao espao da cidadania, no tem
mais razo de existir na sociedade da Guerra Pura. Tal substituio da deciso
po ltica pelo impulso sistmico (tcnico) a forma de responder ao dfcit
de moralidade que existe no emprego da tcnica; faz-se do veneno o prprio
remdio, ao se excluir, por essa e por outras formas, os espaos de existncia
da moralidade. Se o uso da tcnica incompatvel com a moralidade, bastou
substituir a segunda pela primeira para se resolver o impasse.
Em outras palavras, a automao redefniu o dfcit moral da guerra per-
cebido por BENJAMIM no seguinte trecho:
23
BENJAMIM, Walter. Teorias do facismo alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 72.
24
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984. p. 26-27.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 78
Pode-se afrmar, sem qualquer pretenso de incluir nessa
explicao suas causas econmicas, que a guerra imperia-
lista co-determinada, no que ela tem de mais duro e de
mais fatdico, pela distncia abissal entre os meios gigan-
tescos de que dispe a tcnica, por um lado, e sua dbil
capacida de de esclarecer questes morais, por outro. Na
verdade, segundo sua prpria natureza econmica, a so-
ciedade burguesa no pode deixar de sepa rar, na medida
do possvel, a dimenso tcnica da chamada dimenso es-
piritual e no pode deixar de excluir as idias tcnicas de
qualquer direito de co-participao na ordem social. Cada
guerra que se anuncia ao mesmo tempo uma insurreio
de escravos.
25
Nesse sentido, a guerra industrializada foi a respos ta greve e re-
voluo, assim como ao pensamento livre burgus. Transformou-se na pr-
pria resposta tentativa de limit-la que provinha da insurreio dos setores
socialmen te no engajados e do uso pblico da razo que intentava o controle
poltico da tcnica. A disseminao global da guerra a reposta da tcnica ao
poder da razo crtica burguesa e a transformao revolucionria, pois:
A guerra e somente a guerra permite dar um ob jetivo aos
grandes movimentos de massa, preservando as relaes
de produo existentes. Eis como o fenmeno pode ser
formulado do pon to de vista poltico. Do ponto de vis-
ta tcnico, sua formulao a seguinte: somente a guerra
permite mobilizar em sua totalidade os meios tc nicos do
presente, preservando as atuais relaes de produo.
26
Essa dimenso intoxicante da guerra no mundo con temporneo, capaz
de conduzir a uma sociedade global da guerra, pode ser considerada sob o
prisma da anlise dos quatro feixes organizacionais que defniram as socie-
dades modernas na opinio do socilogo Anthony GIDDENS. Para o autor, as
sociedades modernas poderiam ser compreendidas do seguinte modo:
a) Em primeiro lugar, est o capitalismo que um sis tema de produo
de mercadorias centrado na relao entre propriedade privada do capital e o
trabalho assalariado sem posse da propriedade.
27
25
BENJAMIM, Walter. Teorias do facismo alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 72.
26
Ibidem, p. 195.
27
GIDDENS, Anthony. As Consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991. p. 61.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 79
b) Em segundo lugar, est o indus trialismo que se caracteriza pelo uso
de fontes inanimadas de energia material na produo de bens, combinado ao
pa-pel da maquinaria no processo de produo. Ele pressupe a organizao
social regularizada da produo no sentido de coordenar a atividade huma-
na, as mquinas e as aplicaes e produes de matria-prima e bens.
28
O
industrialismo mar ca o eixo principal de interao dos seres humanos com a
natureza. De tal modo que: Nos setores industrializados do globo - e, crescen-
temente, por toda parte - os seres humanos vivem num ambiente criado , um
ambiente de ao que, claro, fsico, mas no mais apenas natural.
29
c) Em terceiro lugar, uma sociedade capitalista uma sociedade somen-
te porque um Estado-Nao, ou seja, ela depende do exerccio de um contro-
le coordenado sobre are nas territoriais delimitadas.
30
Portanto:
Tal concentrao administrativa depende, por sua vez,
do desenvolvimento de condies de vigilncia bem alm
daquelas caractersticas das civilizaes tradicionais, e
o aparato de vigilncia constitui uma terceira dimenso
institucional associada, como o capitalismo e o industria-
lismo, ascenso da mo dernidade. A vigilncia se refere
superviso das atividades da populao sdita na esfera
poltica embora sua importncia como uma base do poder
administrativo no se confne a esta esfera.
A superviso pode ser direta (como em muitas das instncias
discutidas por Foucault, tais como pri ses, escolas e locais de
trabalho abertos) mas, mais caracteristicamente, ela indi-
reta e baseada no controle da informao. (grifos nossos)
31
d) Em quarto lugar, est o controle dos meios de vio lncia dentro de
fronteiras territoriais precisas. O poder militar sempre foi um trao das socie-
dades pr-modernas, mas ne las o poder poltico jamais teria conseguido o seu
monoplio.
Nas sociedades modernas, o controle sobre os meios de violncia ganha
novo dinamismo quando se estabelecem vnculos com o industrialismo, per-
meando as organizaes militares e os armamentos a sua disposio. Trata-se
28
GIDDENS, Anthony. As Consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991. p. 61.
29
Ibidem, p. 66.
30
Ibidem, p. 63.
31
Ibidem.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 80
da in dustrializao da guerra que cria um novo contexto de guer ra total da
qual a guerra nuclear um dos seus aspectos. Nela a guerra poderia ser des-
cartada como instrumento pol tico, pois o uso efetivo poderia ocasionar mais
ganhos do que perdas para ambos os lados.
32
Portanto, a industrializao da guerra aponta, se gundo GIDDENS,
para as inter-relaes que se estabelecem entre as diversas dimenses moder-
nas. Desse modo, a vigi lncia serviu tanto ao industrialismo no controle das
fbricas quanto ascenso do Estado-Nao.
33
Entretanto, como props VIRILIO, a imagem de um po der militar, do-
minado pelo impasse da opo poltica de uma guerra instantnea e defnitiva,
no espelha a integrao pro gressiva do industrialismo e do poder blico. O
domnio po ltico sobre a guerra parece ter sido muito mais aparente do que
real.
34
As decises polticas de fazer a guerra so depen dentes das necessidades
de esgotar os produtos da indstria blica, no o contrrio. A deciso de fazer
a guerra surge em ambientes nos quais a convergncia entre excesso de produ-
o blica, esgotamento das foras produtivas direcionadas a essa produo,
confitos sociais decorrentes da excluso de vastos grupos humanos da satisfa-
o de suas necessida des materiais em decorrncia desse esgotamento e a di-
fuso de ideologias e prticas sociais que impulsionam o iderio da destruio,
so capazes de sustentar a produo blica.
De igual modo, na perspectiva de VIRILIO, aps o pri meiro momento
de expanso do industrialismo, o momento atual criou novas foras de expan-
so para alm dos mecanis mos corporativos dos grandes Estados. No plano
da produ o blica, ao se travar a luta pela diminuio das ogivas nu cleares,
durante a guerra fria, ocorreu uma disseminao de armas menores e, em se-
guida a busca da guerra cirrgica, somente possibilitada pela ameaa velada
da guerra total. Dessa forma, espelhou-se de modo mais intenso a tendncia
de absoro da sociedade civil pela produo militar, ou seja, pela presena da
guerra em nosso cotidiano, possibilitando, agora, sua integrao esfera do
consumo.
35
32
GIDDENS, Anthony. As Consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991, p. 63.
33
Ibidem, p. 64.
34
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militarizao do cotidiano. So Paulo:
Brasiliense, 1984.
35
BENJAMIM, Walter. Teorias do facismo alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 61.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 81
De volta metfora de Katsuhiro, pode-se falar de Ci dades da Guerra,
da Sociedade da Guerra administrada por Estados e, em seguida, por grandes
Blocos Polticos, e agora de uma Sociedade Global da Guerra em que ela est
incor porada no apenas a esfera da produo organizada, mas da produo
disseminada da guerra, recriando demandas de uma sociedade de consumo do
material blico. O mercado consumidor da guerra no se compe apenas dos
grandes Estados, mas dos Estados fracos e da prpria populao civil.
A disseminao da guerra nessa direo se fez pela proliferao de Es-
tados-Fracos, no apenas em sua base de atuao, mas em suas instituies
polticas. Incapazes de se proporem a estabelecer uma reorganizao do sis-
tema pro dutivo por estarem subordinados s opes econmicas das empre-
sas transnacionais, eles transformam-se em consumi dores ideais do material
blico.
36
No plano interno, inclusive dos grandes Estados, as tecnologias b-
licas foram absorvi das na atividade de segurana publica e de vigilncia e de
en carceramento dos no-inseridos nas atividades de produo. A indstria
do controle do crime desenvolveu-se, em simbio se com a produo militar,
para constituir dois novos nichos de mercado: o da produo voltada para o
consumo estatal, de maximizao do monoplio estatal da violncia legal; e do
consumo privado de estratgias e produtos de segurana.
37
A estruturao desse novo modelo de Sociedade Glo bal da Produo e do
Consumo da Guerra dependeu da re estruturao dos mecanismos ideolgicos,
em especial da indstria do entretenimento presente na sociedade de mas sas. O
tempo-livre do trabalhador, aquele no destinado, atividade produtiva no
mais simplesmente apropriado pela indstria do entretenimento em atividades
ldicas alienantes.
38
A indstria do entretenimento passou a integrar a pro-
duo blica quer na produo simblica da guerra quer no desenvolvimento
tecnolgico
39
, propondo novas armas. Por sua vez, o tempo-morto dos indiv-
36
HARDT, Michel, NEGRI, Antonio. Imprio. Rio de Janeiro: Record, 2001.
37
CHRISTHIE, Nils. A Indstria do controle do crime. Rio de Janeiro, Forense, 1998; WA-
CQUANT, Loc. A nova gesto da misria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Instituto Ca rioca
de Criminologia, 2001;
38
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Teodor W. Dialtica do esclarecimento. Rio de Ja neiro:
Zahar, 1985.
39
ZAFFARONI
,
Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema
penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991. NAISBITT, John. High Tech: high touch - a tecnologia e a
nossa busca por signifcado. So Paulo: Cultrix, 1999.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 82
duos excludos da produo de mercadorias tambm absorvido.
40
Eles so os
destinatrios dos sistemas de controle, o produto de um sistema penal intil
e os consumidores obrigatrios dos produtos das empresas a ele vinculados.
41
Tal integrao de populaes dispensveis para uma estrutura produtiva, cada
vez mais especializada e mecanizada, reatualiza o paradoxo proposto por BEN-
THAM e RUSCHE de que as condies carcerrias tenderiam ou deveriam ser,
na prtica, inferiores aquelas vivenciadas pe los excludos. Agora, as populaes
dissidentes so penal mente integradas enquanto os excludos ou subalternos
no-dissidentes no o so.
42
O resultado o aumento crescente das demandas
por tratamento cruel e desumano para com os capturados e a quebra de li-
mites morais sobre a interveno no comportamento humano, justifcada pela
necessidade de baixar os custos do aparato de controle.
O mesmo tempo-morto justifca e facilita a absoro de produtos, in-
clusive culturais, que induzam produo de um estado subjetivo de xtase
alienante. Os novos entorpecentes so ideolgicos e qumicos. A integrao
desse tempo-morto se d ainda na difuso de atividades demarcadas como
ilci tas entre os grupos defnitivamente excludos do mercado de trabalho. Tal
integrao justifca a difuso do consumo dos produtos da indstria blica
pela sociedade civil e fazem dos agrupamentos urbanos excludos um segmen-
to privilegiado de consumidores dessa mesma indstria.
Porm, neste ltimo caso, no se trata mais de um re armamento re-
volucionrio das classes populares. O consumo blico dos excludos um
consumo incentivado e integrado a perpetuao da idia de segurana como
atividade do merca do. Assim como as novas agncias reguladoras de servi-
os pblicos, o Estado interfere nas relaes de consumo, mas no pode mais
substituir o mercado.
No momento presente, no se assiste mais a mobili zao de uma socie-
dade para uma guerra eminente ou do deslocamento das foras produtivas de
40
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as consequncias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999. CHRISTHIE, Nils. A indstria do controle do crime. Rio de Janeiro, Forense, 1998.
41
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as consequncias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999.
42
Veja-se: BENTHAM, Jeremy. Panptico-Memorial sobre um novo princpio para construir casas
de inspeo e, principalmente, prises. REVISTA BRASILEIRA DE HISTRIA, So Paulo, v. 7,
n. 14, p. 199-229, mar. / ago. 1987. RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punio e estrutura
social. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, 177.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 83
um Estado para um confito futuro, tal como ocorreu no perodo entre as duas
grandes Guerras Mundiais ou durante a Guerra Fria. A nova guerra comporta
escalas nfmas, como a guerra pela defesa pessoal, escalas intermedirias, como
a defesa de um bairro, uma cidade, uma regio contra o crime, e escalas mxi-
mas como a disputas regionais entre superpotncias ou potncias regionais.
A guerra de grande escala relaciona-se s guerras nf mas, trazendo
para o cotidiano a necessidade do consumo da tcnica blica. Tal integrao
da guerra esfera do consumo de massa realizada com o apelo aos mecanis-
mos utilizados para a garantia do consumo de mercadorias. Um dos elemen tos
essenciais desse apelo a aproximao do discurso da guerra ao discurso do
fantstico. Ou seja, a sociedade da pro duo da guerra para o consumo das
massas deve reprodu zir pequenos e grandes sonhos blicos, onde se alienam as
subjetividades individuais e coletivas. De igual modo, esses pequenos sonhos
blicos so atividades indispensveis para a inovao do aparelho produtivo
da guerra. Ou seja, a fanta sia permite no apenas o consumo da guerra, mas
colabora para o desenvolvimento da tcnica blica.
A cidade, a fbrica, o mercado, a fortaleza so ima gens que se integram.
A possibilidade tecnolgica de vencer distncias contrasta com a presena de
um sem nmeros de interrupes. Interrupes que conhecem dois elementos:
os autorizados e os Outros (qualifcados como invasores, monstros, brba-
ros, bandidos, animais etc. ). Essas interrup es provisrias esto presentes em
todos os traos de fen menos bem cotidianos, tais como: nas fronteiras dos
grandes Estados, nas muralhas entre o Mxico e EUA, nas entradas vigiadas de
uma rua ou de um bairro de periferia, nas cercas eltricas de um condomnio
fechado, na portaria monitorada de um edifcio, no posto policial da entrada
de uma favela carioca, no muro da vergonha que segrega as populaes negras
da cidade do Rio de Janeiro, nas senhas de acesso a mundos eletrnicos, nos
equipamentos de deteco de furtos nas lojas, nas estratgias de segurana dos
Shoppings Cen ters etc.
43
Elas apresentam o mundo como uma cidade aberta, onde as fortalezas
esto dispersas sobre a forma de escalas, onde a guerra no pode fcar do lado
de fora, pois vive na ameaa contnua de uma fronteira que no deveria, mas
43
Veja-se: LOSSO, Andr Tiago. Shopping centers e a funo social da propriedade: questes
sobre o novo espao de sociabilidade. Monografa (Graduao)- Apresentada para concluso do
Curso de Direito no Complexo de Ensino Superior do Brasil Unibrasil, 2005.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 84
que ir ser vencida; onde o deslocamento contnuo no espao e a localizao
dos oponentes so elementos to importantes quanto o sonho do isolamento
na pequena cidade-fortaleza. A metfora de Katsuhiro apresenta, portanto, um
elemento essencial para a reproduo dessa Sociedade do Mercado Global da
Guerra, o sonho irrealizvel da proteo no fecha mento das fronteiras. Em
certo sentido, a Cidade da Guerra espelha o ideal de Comunidade, descrito
por BAUMAN:
uma comunidade de semelhantes na mente e no com-
portamento; uma comunidade do mes mo que, quando
projetada na tela da conduta amplamente replicada/copia-
da, parece dotar a identidade individualmente escolhida
de funda mentos slidos que as pessoas que escolhem de
outra maneira no acreditariam que possussem. Quando
monotonamente reiteradas pelas pesso as em volta, as es-
colhas perdem muito de suas idiossincrasias e deixam de
parecer aleatrias, duvidosas ou arriscadas: a tranquiliza-
dora soli dez de que sentiriam falta se fossem os nicos a
escolher fornecida pelo impositivo da massa.
44
Enfm, uma comunidade que no pode ser uma comu nidade, como si-
nnimo de espao de homogeneidade, e que, diante dessa impossibilidade, se
transforma numa comuni dade de criminosos inocentes, cooperando para a ex-
cluso dos indivduos e grupos identifcados como sua diferena. Co munidade
que encontra sua legitimidade na incapacidade de construir uma nova cidade
governada pela poltica.
45
3. Benevolncia e Fantasia nas Novas Tecnologias de Controle Social
Esse aspecto da indispensvel necessidade de inte grar a fantasia como
componente dos sistemas sociais pode ser detectado na prpria constituio
das atividades de pro duo e de consumo. A absoro da sociedade civil pela
mi litar, a expropriao da subjetividade e a difuso da guerra no cotidiano pela
estrutura do mercado so demonstradas na crescente interseco entre inds-
44
89 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurana no mundo atual. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003. p. 61.
45
Alessandro Baratta j havia levantado essa questo ao abordar as teorias psicanalti cas da
sociedade punitiva. BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal. Rio de
Janeiro: Revan, 1997.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 85
tria do entretenimento e in dstria blica.
46
Em um de seus aspectos, os novos
usos das tecnologias criadas para o controle social demonstram que o domnio
de uma mentalidade blica fantstica avana a passos largos com o desenvol-
vimento tecnolgico. Tome -se como exemplo certa revista de entretenimento
cientfca, destinada aos jovens da classe mdia brasileira, que iniciava dessa
forma a reportagem sobre novas armas no letais:
Tarde da noite. Pela rua erma, um rapaz caminha sob a
garoa fna e um vento gelado. De repente, por trs de uns
caixotes, surge um homem com uma faca, que o manda
passar a carteira. Ligeiro, o rapaz enfa a mo no bolso
mas no tira a carteira. Saca uma arma que dispara dois
dardos e d, em fraes de segundo, choques de 50 mil
voltz no infeliz. No cho, gritando de dor, o assal tante co-
mea a se arrepender de seus pecados.
Mas ainda vem mais: no satisfeito, o rapaz pega uma se-
gunda arma e solta no ladro uma espu ma grudenta. Com
o efeito de uma cola superpo derosa, a meleca gruda o as-
saltante no cho por vrios minutos, tempo de a polcia
chegar. (grifos nossos)
47
Nesse trecho ela associava alguns dos ingredientes do novo coquetel
preventivo: a) medo - implcito na paisagem onde o roubo se desenrola (tarde
da noite, garoa fna, vento gelado etc.); b) medo do outro, o estranho (um ho-
mem que surge repentinamente), mas tambm do espao urbano (a rua erma,
o que se esconde por trs do caixote); c) a defesa in condicional da propriedade
(a palavra carteira aparece duas vezes, mas o objetivo de salvar vida nenhuma);
d) a moraliza o dos atos ilcitos (O assaltante no ter apenas de cumprir uma
pena; A estratgia visa com muito mais nfase fazer com que ele se arrependa
de seus pecados. Logo, para o peca dor, a priso a confrmao de uma culpa
mais profunda, anterior ao ato.) e) o estabelecimento de uma colaborao vo-
luntria entre sociedade e aparelho policial;
Esse coquetel preventivo da violncia urbana est associado s novas
armas no letais mais humanas.
46
NAISBITT, John. High Tech & High Touch: a tecnologia e a nossa busca por signifcado. So
Paulo: Cultrix, 1999.
47
LIMA, Cludia de Castro. Tudo de novo que h no front. Superinteressante Especial. So Paulo,
p. 43, abr./dez , 2002.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 86
No mesmo passo, a reportagem apresenta projetos de tcnicas preven-
tivas elaborados por empresas privadas com parceria de rgos estatais norte-
americanos.
48
Alguns bei ram fco, mas outras so realidades, palpveis, ou
me lhor, esto disponveis para o consumo. A lista , no mnimo, curiosa: a)
Dardos Eltricos que, ligados arma por meio de fos, produzem uma descarga
eltrica, causando contraes dos msculos e dor quase insuportvel; b) O
Sticky Shocker, projtil que pode ser disparado de armas normais, que pene tra
superfcialmente e libera ondas eletromagnticas de alta voltagem, deixando
a vtima em posio fetal, sem controle dos movimentos; c) A Espuma Gru-
denta, inicialmente cria da para proteger locais de estoque de armas nucleares,
em contato com o ar, ela se solidifca e o invasor fca colado, podendo mor-
rer sufocado; d) O Spray antitrao, um gel su perescorregadio; e) O WebShot
Nets solta uma rede como as usadas por caadores. Segundo o fabricante, ela
permiti r capturar sem dor e restringir movimentos sem danos integrida-
de fsica e sem qualquer efeito colateral; f) O ADT (Active Denial Technology),
apontada pela Marinha america na como o maior acontecimento em tecnolo-
gia de armas des de a bomba atmica, so raios de microondas que penetram
superfcialmente na pele, em dois segundos, aquecem-na a 45
C, provocando
dor intensa; g) O Auto Arrestor, sistema de ondas eletromagnticas capazes
de interromper os mecanis mos de ignio de um veculo; h) O Laser Dazzle
(pistolas a laser), numa de suas verses, laser ofuscante, dispara um sistema
de transmisso de sinais luminosos verdes que pro vocam uma espcie de ce-
gueira temporria, podendo pro vocar epilepsia; i) O APBW (Anti Personnel
Beam Weapon) transmite uma corrente eltrica por meio de um raio de luz
ultravioleta que provoca paralisia, pois replica os impulsos neuro-eltricos que
controlam os msculos voluntrios; j) O Efeito Gamb, um repelente para dis-
persar multides; l) As Armas Acsticas criam ondas sonoras de alta intensi-
dade ca pazes de fazer a vtima sentir dor ou De baixa frequncia que atingem
os rgos internos da pessoa, causando vmitos e espasmos; m) As Armas do
sono, como uma granada de gs Valium, capaz de deixar as vtimas em estado
de letargia; O spray gs de pimenta, largamente utilizado por foras poli ciais
ou como recurso de defesa pessoal. Em novas verses, lana-se uma bala de
borracha, cheia de gs, que explode antes de atingir o alvo.
48
LIMA, Cludia de Castro. Tudo de novo que h no front. Superinteressante Especial. So Paulo,
p. 42-47, abr./dez , 2002.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 87
H tambm projetos que pretendem alterar a noo de soldado, trans-
formando-o num soldado ciberntico com a incorporao dos sentidos huma-
nos tecnologia e destes ao aparato de destruio.
49
A combinao entre a tecnologia da miniaturizao, a da vigilncia ele-
trnica e a blica oferece outro novo campo para a destruio humana:
O Pentgono est gastando 35 milhes de dlares em pes-
quisas para a criao dos chamados Microveculos Areos,
minirrobs do tamanho de moscas, que podem carregar
microcmeras de vigilncia ou, ento, disparar dardos
mortais no pescoo dos inimigos. Um batalho desses ro-
bs equipados com explosivos tambm pode descer pelas
estruturas de uma ponte e explodi-la, um meio mais ef-
ciente e barato que o lanamento de um mssil. E muito
mais espetacular, diga-se de passagem.
50
Tais propostas demonstram o carter ambguo do pro jeto preventivo,
pois a tecnologia preventiva sempre blica. Em certo momento da reporta-
gem, o diretor de uma das em presas responsveis pelo desenvolvimento de ar-
mas revela: Acredito que a verdadeira guerra essa que os policiais en frentam
na rua todos os dias; A batalha por segurana est sendo vencida pela polcia.
Com o uso do que h de mais novo em tecnologia, os agentes policiais acatam
tambm os difceis padres da tica
51
. Ou seja, a tecnologia para com bater cri-
minosos comuns, manifestaes pblicas e inimigos militares se assemelham
e podem ser intercambiadas.
Dois aspectos desse coquetel preventivo so marcan tes: o seu aspecto
fccional e sua pretenso de humanida de. As novas armas, como a prpria re-
portagem citada deixa transparecer, tem muito pouco de no letal, pois vrios
efei tos so desconhecidos e o seu uso pode provocar acidentes inesperados.
49
LIMA, Cludia de Castro. Tudo de novo que h no front. Superinteressante Especial. So Paulo, p.
42-47, abr./dez , 2002. O soldado ciberntico faz parte do projeto conhecido como Land Warrior
desenvolvido pe las tropas americanas. O capacete do cybersoldado equipado com viso
noturna a laser e cmeras que enviam imagens ao vivo do campo de batalha, alm de transmitir
a localizao dele prprio, de seus aliados e dos inimigos. O monitor pode mostrar imagens
areas feitas por avies e dados tticos fornecidos pelas agncias de inteligncia. O soldado do
futuro poder mandar e-mails do front: por meio de um rdio computador porttil. Poder ter
um sistema de alimentao que envia, por meio da pele, numa ao osmtica como a dos ade-
sivos de nicotina, vitaminas e nutrientes necessrios para manter o organismo funcionando
50
LIMA, Cludia de Castro. Tudo de novo que h no front. Superinteressante Especial. So Paulo,
p. 42-47, abr./dez , 2002.
51
Ibidem.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 88
A pretenso de ser mais humana somente pode ser entendida quando compa-
ramos seu funcionamento com as armas tradicionais e, em especial, com as
armas de fogo.
As armas de fogo so destrutivas, por defnio. Des troem o corpo em
seu aspecto visvel. A dor e a morte so apresentadas externamente na trans-
fgurao do corpo. A submisso ao seu poder depende, ainda, de uma opo
voli tiva. A arma de fogo representa uma ameaa contra a qual se pode exercitar
a revolta a partir do sentido trgico da ao. A vtima pode enfrentar o destino
que imposto pelo agressor, arremessar-se contra a violncia inevitvel, tal
qual um sacri fcio que, em alguns casos, dignifca sua existncia na prpria
morte. Elas vinculam aquele que agride ao destino da vtima. A morte o re-
sultado da ao humana. A arma, apenas um meio.
As novas armas, ao contrrio, tendem a preservar o corpo da vtima
como um simulacro, uma imagem no des fgurada, mas incapaz de ser go-
vernado. Algumas delas se utilizam de caractersticas internas do funciona-
mento do hu mano para produzir seus efeitos. Elas colonizam, por assim dizer,
a prpria vida que ir ser atingida. No submetem o corpo, sob seu aspecto
externo, mas suas funes. Paralisam o corpo em sua ao. A dor que provo-
cam uma dor que vem de dentro e, em muitos casos, a tecnologia utiliza-
da invisvel para nossos olhos. A vtima sofre uma dor que sua. Elas no
oferecem uma opo entre se submeter ou no. O sentido trgico desaparece.
Algumas delas dispersam-se no ambiente, recobrindo os corpos, esfumaando
a individu alidade que poderia ser retratada. Oferecem um espetculo, teatral,
sem sangue. A vtima no pode se lanar diante da morte, da fora fsica des-
proporcional do agressor, ao invs, encontra-se, antes de qualquer possibili-
dade de reao, sub metida. Ao atriburem a morte e a degradao do corpo
ao acidente, elas excluem a responsabilidade moral do agressor. a tecnologia
que falha, no o agressor. A culpa, se houver, do fabricante, no de quem
utiliza a arma. Repete-se, nesse caso, a ruptura entre visibilidade da agresso e
a causa de sencadeada por um agente.
Ideologicamente as armas no-letais so apresenta das como mais hu-
manas, porm o que elas fazem suprimir os efeitos fsicamente visveis da
violncia, sobretudo aqueles que podem denunciar que a violncia resulta de
interaes humanas e das opes morais diante de situaes extremas de con-
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 89
fito. O humanitarismo, nesse caso, serve para des politizar a ao, especial-
mente quando as novas armas so utilizadas pelos governos civis para lidarem
com confitos ur banos, ou melhor, confitos humanos que podem adquirir
visi bilidade meditica.
4. O Humanitarismo, a Represso Policial e a Socie dade do
Espetculo
A crtica desse falso humanitarismo encontra longa tra dio na literatu-
ra. A busca da humanidade da violncia nas formas de controle social foi de-
nunciada pela historiografa de Michel FOUCAULT que demonstrou ser falsa a
represen tao humanitria das transformaes no controle social que conduzi-
ram supresso das execues sanguinrias. Para o autor, as mudanas estariam
inseridas em processos estrat gicos que aumentavam os efeitos do poder e res-
pondiam de modo mais adequado aos confitos sociais.
52
Suas anlises sugerem
caminhos para que se compreenda a nova tendn cia humanitria no uso da
tecnologia. Antes indispensvel recuperar, resumidamente, seus argumentos.
Para o autor de Vigiar e Punir, no incio da formao do sistema penal,
a punio era pblica e o povo, amontoado nas praas ou seguindo a procis-
so dos criminosos nas ruas, assistia atordoado a carnifcina do Estado e as
ofensas pro feridas pelos violadores da lei contra as injustias dos pode rosos. A
aplicao da lei era um momento de intenso confito e de grande contradio,
ora se aproximava da realizao do desejo de linchamento ora se convertia
em revolta contra os executores da lei. Do medo revolta, e, desta revoluo
a passagem era rpida. A soluo foi uma higiene humanitria que tirou o
sangue das praas, lanou o machado e, a seguir, a guilhotina nos pores, ao
mesmo tempo em que se organi zava um imenso aparato de vigilncia social,
do qual as tcni cas policiais formaram a parte mais signifcativa.
53
A rua deixava de ser dominada eventualmente pela justia desptica
e desorganizada, passando ao cuidadoso olhar da Polcia, s vezes, pblica,
52
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. Rio de Ja neiro: Graal, 1992; FOUCAULT, Michel.
Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1991. FOUCAULT, Michel. O Nascimento da clnica. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 1994. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurdicas.
Rio de Janeiro: Nau, 2001. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 1996.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da socieda de. So Paulo: 2005.
53
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 1996. FOUCAULT, Michel. Em
defesa da socieda de. So Paulo: Loyola, 2005.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 90
outras vezes secreta. Ela se ramifca nas organizaes civis, possuidora de
informa es sobre os agitadores pblicos que reivindicavam direitos traba-
lhistas ou organizavam partidos de esquerda, cuidando da moralidade e da
intimidade da populao. A polcia urbana organizou-se como aparato cons-
tante de preveno da insur reio tanto nos regimes democrticos quanto nos
totalitrios.
De igual modo, a formao das polcias urbanas na Inglaterra correspon-
deu centralizao de mecanismos de controle locais. Grupos armados, respon-
sveis pela seguran a de um bairro ou pela defesa de espaos nos quais havia a
possibilidade de depredao de mercadorias, como os portos, foram sendo arre-
gimentados e integrados a um poder central. Na Frana, o aparelho judicirio do
antigo regime, com seu sistema de prises processuais foi, diante dos usos que
fa ziam os membros da sociedade, paulatinamente, convertido
54
num sistema
que fazia da correo seu discurso principal. Ou seja, formas de controle social
que anteriormente eram pri vadas foram impulsionadas de baixo para cima e
presses sociais diversas provocaram o deslocamento de suas funes iniciais.
55
O resultado teria sido a formao de uma sociedade composta de um
arquiplago de instituies carcerrias, arti culada a idia de vigilncia con-
tinua e de correo dos indiv duos, a Sociedade Disciplinar. No obstante, as
transforma es nas formas de controle no teriam se interrompido. De fato,
elas teriam duas foras propulsoras, a necessidade de responder aos novos
confitos sociais e um padro interno de racionalizao dos mecanismos de
controle correspondente a tais confitos, segundo o qual o poder se reorganiza-
ria confor me a necessidade de diminuir seus custos (no apenas eco nmicos,
mas tambm polticos) e aumentar seus efeitos.
56
Quase trs sculos depois dos confitos que levaram ao aperfeioamento
das tcnicas de controle e a supresso do espetculo pblico da punio, ao se
considerar o uso de armas no-letais pelas polcias urbanas, percebe-se que
pre ocupao semelhante. Porm, agora ela volta-se para as tcnicas do apa-
relho policial, no mais para o espetculo da punio.
54
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 1996. FOUCAULT, Michel. Em
defesa da socieda de. So Paulo: Loyola, 2005.
55
FOUCAULT, Michel. O Nascimento da clnica. Rio de Janeiro: Forense Universitria,1994.
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janeiro: Nau, 2001.
56
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. Rio de Ja neiro: Graal, 1992. FOUCAULT, Michel.
Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1991. p. 267-269.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 91
De fato, se o espetculo da punio desapareceu, a emergncia das gran-
des mdias pode, facilmente, converter os confitos urbanos com a polcia, os
confitos no interior do sistema prisional e nas diversas instituies segrega-
das em novos espetculos onde as desvantagens do poder eram re presentadas.
Com o surgimento da televiso em massa, os movimentos populares contesta-
dores adquiriam maior base de legitimidade quando seus membros eram ata-
cados com desvantagem na frente das cmeras. A utilizao do carter cnico
do registro possibilitado pela televiso e, agora, pe las NTCs (Novas Tecnolo-
gias e Comunicao) no passou despercebido.
57
A imagem de um inocen-
te sendo agredido pela polcia, repetida vrias vezes, como demonstraram os
confitos raciais nos EUA, pode se transformar num estopim de revolta popu-
lar. A flmagem de uma rebelio na priso de tica levou o governo local a um
paradoxo poltico sem pre cedentes.
58
O ponto de partida para compreender a criao das armas no-letais
, ao contrrio do que sugeriu Michel Fou cault, o fato de que os mecanismos
referentes produo do espetculo no foram suprimidos. Ao invs disso, a
produo do espetculo foi integrada aos mecanismos de vigilncia da socie-
dade disciplinar. Os mecanismos de produo do espe tculo permaneceram
em outras esferas sociais que se de senvolveram posteriormente, tais como as
representaes do poder poltico presente no processo eleitoral das democra-
cias de massa.
59
Eles ocuparam o espao do divertimento, isto , do adestra-
mento do tempo livre, no gasto na produo; assim como da produo de
mercadorias (prtica de custo mizao e indstria da moda) e do consumo de
mercado rias. Ou seja, a forma de conceber as relaes de mando, a produo
e a circulao de bens, bem como das formas de adestramento do trabalhador
inseriram-se na composio do que Guy DEBORD chamou de sociedade do
espetculo. Nela: O princpio do fetichismo da mercadoria, a dominao da
sociedade por coisas supra-sensveis embora sensveis, se realiza completa-
mente no espetculo, no qual o mundo sensvel substitudo por uma seleo
57
PARENTE, Andr. Imagem mquina: A era das tecnologias do virtual. So Paulo: Editora 34,
2001.
58
WACQUANT, Loc. Ascenso do estado penal nos EUA. In: Discursos sediciosos. Rio de Janeiro:
Revan, 2002, p. 13-39.
59
BALANDIER, Georges. O poder em cena. Braslia: UnB, 1982; SENNETT, Richard. O declnio do
homem pblico: as tiranias da intimidade. So Paulo: Cia das Letras, 1988; SCHWARTZENBERG,
Roger-Grard. O estado espetculo. Rio de Janeiro: Difel, 1978.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 92
de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se fez reconhecer
como o sensvel por excelncia.
60
Seguindo as sugestes de Michel FOUCAULT, pode -se afrmar que to-
dos os mecanismos de controle at ento conhecidos, malgrado, proporem a
possibilidade de uma neu tralizao absoluta do confito e das relaes de po-
der das quais nascem e nas quais se inserem trazem efeitos rever sos e inespe-
rados, os quais conduzem ao desenvolvimento de novas tticas de contestao
e, novamente, de controle.
Nesse sentido, os confitos entre polcia e manifestantes, re gistrados pela
televiso, impuseram fora policial a neces sidade de manter as mos limpas
diante do olhar da platia. A atuao da polcia transformou-se na parte mais
visvel do absurdo da punio moderna e a parte mais fcil de ser ata cada. Isso
porque, enquanto o processo judicial permite, no imaginrio popular, a cons-
truo, antes mesmo do processo formal, da imagem do culpado, a atuao da
polcia envolve a atuao sobre pessoas cuja culpa no foi ainda construda.
A polcia age sobre elementos sociais da desordem, isto , sobre as ati-
vidades ldicas das massas que pretendem fantasiar a inverso do poder, tais
como as festas populares; sobre os confitos reivindicao popular, tais como
a passe ata de grevista; sobre os subprodutos do carter excludente do sistema
produtivo (os diversos grupos sociais sem, sem teto, sem terra, sem cidadania
etc.), sobre os direitos indivi duais dos cidados, tais como a liberdade de ir e
vir, sobre os elementos ilegais de integrao econmica que a prpria estrutura
econmica incentiva etc. Por sua vez, uma estrutura de direitos constituciona-
lizados exige que se reconhea ao homem da rua (ao no-proprietrio, despos-
sudo) os direitos do homem na rua (o proprietrio).
Michel FOUCAULT dizia que o poder judicirio tentava se livrar do
peso do exerccio do poder punitivo, sobretudo da aplicao da pena, quando
foi criado um sistema penitenci rio administrado pelo executivo e por espe-
cialistas. A puni o tornou-se uma atividade burocrtica, distante dos olhares
pblicos, convertendo, mediante a insero progressiva na rede disciplinar, o
60
DEBORD, Guy. Comentrios sobre a sociedade do espetculo. Rio de Janeiro: Contra ponto,
1997, p. 28.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 93
transgressor em criminoso.
61
Agora, a pol cia pretende se livrar da imagem
repressora. Subjugar sem ferir, o novo lema. A violncia deixa de ser o ato
direto dos representantes da lei sobre o corpo. No lugar de pancadas e hemato-
mas, gases e efeitos especiais. Um espetculo ing nuo de jogos de fumaa deve
ser usado para determinados casos em que a legitimidade da demanda no
pode mais ser questionada.
Entretanto, a vitria dessa forma de conteno age di retamente sobre o
processo social de criao e preservao de direitos populares. Ela impede que
o povo faa da rua o teatro de representao da violncia estatal. O fracasso
dos movimentos populares nos pases centrais, incapazes de mobilizar recur-
sos cnicos para se oporem a dor injusta, ga rante que as formas de violncia
estrutural permaneam nas grandes derrotas populares. Enquanto a polcia
humana, as reivindicaes no eclodem em mobilizaes populares. A morte
poltica diante do poder, o sacrifcio do mrtir capaz de sensibilizar, um fato
cada vez mais raro. Em seu lugar, evidencia-se uma morte annima, em cifras,
em padres es tatsticos e contbeis. A morte que nunca silenciosa passa a ser
silenciada pelo conjunto de estratgias em uso.
Nas aes populares, a rua era mais do que o lugar de encontro ou do
distrbio. Representava o local de encenao das dores no consideradas pelo
Estado, dores que ecoavam potencializadas quando esse mesmo Estado repri-
mia aberta mente os gritos populares.
62
A atribuio da responsabilidade do
Estado era, de certo modo, alcanada com a possibilidade de lev-lo ao extre-
mo, ao absurdo da represso das boas causas. Ao exercer sua violncia, o Es-
tado demonstrava que ele era o garantidor da ordem injusta. Logo, responsvel
pe los problemas sociais que eram a razo das manifestaes. O humanitarismo
policial neutraliza essa posio estratgica da rua. Trata-se de um processo de
aprendizado social recproco que conduz a um novo impasse, e provavelmente
a novas reconfguraes.
61
Como afrma FOUCAULT, tratava-se de uma mutao tcnica, da passagem de FOUCAULT,
Michel. Microfsica do poder. Rio de Ja neiro: Graal, 1992; FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir.
Petrpolis: Vozes, 1991. p. 228.
62
A idia de uma luta por reconhecimento encontra-se em: HONNETH, Axel. Luta por
reconhecimento: a garantia moral dos confitos sociais. So Paulo: Editora.34, 2003. O argu mento
sobre o grito dos excludos encontra-se em: DUSSEL, Enrique. tica da libertao. Petrpolis:
Vozes, 2002.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 94
Anote-se, todavia, que esse humanitarismo no foi a nica ttica utiliza-
da para tentar conter o efeito reverso da conjuno entre atuao policial e as
tecnologias de informa o.
Na Amrica Latina, durante os anos de 1960 e 1970, houve a proliferao
da televiso e a utilizao intensa do espetculo no exerccio do mando. A con-
teno dos elemen tos da desordem dependia, entretanto, da Censura. A cen-
sura Poltica (e, sobretudo, de padres comportamentais) inseria -se nesse con-
texto de ampliao do espetculo ou dos canais mediticos que ligavam a rua
aos lares annimos. No era, portanto, apenas uma caracterstica de regimes
ditatoriais do terceiro mundo ou do perodo da guerra fria.
63
Paulatinamen te, a
televiso brasileira, por exemplo, normalizou, absorven do o confito decorren-
te das desordens ldicas que ocorriam nas ruas, como o carnaval, intentando
uma pacifcao pela sua converso em produto para o consumo, integrado a
uma nova forma de produo associada ao tempo livre, a indstria do turismo.
No obstante, foram os confitos de rua e os confitos polticos organi-
zados que produziram um desafo inicial sem precedentes. A prtica do desa-
parecimento de corpos foi uma ttica extensamente utilizada. Os presos pol-
ticos tinham seus corpos sequestrados por instituies, s vezes secretas, que
proliferavam dentro da estrutura do Estado. A sobreposi o de competncias
de instituies policiais garantia a d vida sobre o destino de um parente ou de
um companheiro da organizao poltica subversiva. O corpo marcado pela
violncia desaparecia em cemitrios clandestinos cuja locali zao representa-
va verdadeiro segredo de Estado.
64
Esse enterro annimo no era apenas uma forma de esconder as provas
de uma violao dos padres legais de tratamento do cidado, mas maneira de
conter os efeitos re versivos que poderia decorrer da exposio na mdia das
es tratgias de terror. O fm da Censura, ocorrida apenas aps a anistia de todos
os torturadores e assassinos estatais, cor respondeu, na prtica, a impossibilida-
de de utilizar a imagem dessas mortes como estratgia poltica contra o regime
militar e, ao mesmo tempo, luta travada em torno dessa tentativa.
63
MATTOS, Marco Aurlio Vannucchi L. de; SWENSSON JNIOR. Walter Cruz. Contra os
inimigos da ordem. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. PEREIRA, Moacir. Novembrada: um relato da
revolta popular. Florianpolis: Insular, 2005. BORGES FILHO, Nilson. Os militares no poder.
So Paulo: Acadmica, 1994.
64
H uma infnidade de casos relatados. Disponvel em: <www.desaparecidospoliticos.org.br>.
Acesso em: 5 jun. 2007.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 95
Diversos presos polticos morreram, por assim dizer, mais de uma vez,
e outros ainda continuam ausentes. En quanto as foras polticas contrrias ao
regime militar faziam da sua morte uma opo poltica extrema, a ttica mili-
tar foi de transformar os militantes polticos em corpos sem ptria, evitando
sua converso em heris da nao. Ttica que, se guramente no era perfeita
em seus efeitos. Na Argentina, por exemplo, a encenao da fgura milenar da
me que cho ra o flho ausente permitiu que se perpetuasse a imagem do luto
e a responsabilidade moral da morte desses corpos. Ela esteve associada a pa-
dres culturais arraigados de um direito mnimo que deveria ser conferido aos
vencidos, o de ser en terrado por seus familiares.
No obstante, tambm houve excees para essa t tica de desapareci-
mento. No Brasil, na regio do Araguaia, distante da atuao dos meios de
comunicao de massa e, portanto, do valor poltico da Censura, os corpos
mutilados e vencidos dos guerrilheiros de esquerda foram erguidos por he-
licpteros e transportados sobre as comunidades isoladas, reproduzindo o
antigo espetculo da execuo. A populao local guardou na memria, sem
imagens fxadas pela tcni ca, o horror a que estaria submetida caso colaboras-
se com a guerrilha.
65
Nas favelas cariocas, durante as dcadas de 1980 e 1990, a proibio
policial de cortejos fnebres e homenagens a criminosos trafcantes foi uma
constante, chegando at a profanao dos tmulos. A preocupao foi mais
intensa at que se consolidou a imagem negativa, sobretudo atravs da mdia,
das aes dos criminosos. De outra parte, a dcada de 1990 suprimiu o retrato
ambguo das rebelies no sistema penitencirio, construdo pelo movimen-
to democrtico contra a ditadura. Se antes eram lidas as reivindicaes dos
conde nados e denunciadas as condies desumanas de encarcera mento, agora
somente os atos de violncia so registrados e a responsabilidade pelas rebeli-
es atribuda a organizaes criminosas.
66
De qualquer modo, na sociedade globalizada, onde proliferam fuxos
de comunicao, a idia de Censura pela conteno parece implodir diante
65
Em 1974, no fnal da Guerrilha do Araguaia, Osvaldo Orlando Costa (o Osvaldo), aps ter
sido assassinado, teve seu corpo iado, em helicptero das foras armadas, por sobre as cidades
da regio para ser apresentado populao local, permanecendo exposto em Xambioa.
Disponvel em: <www.vermelho.org.br>. Acesso em: 5 jun. 2007.
66
O Regime Disciplinar Diferenciado ofcializou a estratgia de silenciamento.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 96
dos sistemas de direitos fun damentais e dos sistemas de comunicao, fazendo
com que o humanitarismo dos meios de conteno dos distrbios ro tulados
de civis (no os criminais) seja essencial. H ainda, a convivncia contradi-
tria do frgil modelo do silenciamento, como na Rssia, onde se intenta im-
pedir a presena fsica de manifestante nas ruas, prevenindo que elas se trans-
formem no apenas num palco de encenao das reivindicaes pol ticas, mas,
sobretudo, da morte e da violncia polticas.
67
O humanitarismo policial na sociedade globalizada insere-se no pro-
cesso que dissocia a esfera poltica ofcial (dos direitos constitucionalizados)
da ao dos movimentos de reivindicao urbanos. Todavia, a autonomia do
sistema poltico no um processo natural, mas uma estratgia de conteno
da prpria poltica. Na medida em que nas demo cracias liberais o processo
poltico de massa afasta o cidado aps o perodo de eleies, transformando
a deciso poltica numa atividade exclusiva daqueles que esto prximos dos
crculos do poder, a nica forma de presso a dor extrema. A dor era apre-
sentada pelos mesmos mecanismos que im pem o adestramento das massas
(o espetculo). De igual modo, os dispositivos de vigilncia eletrnica, embora
cria dos inicialmente numa direo nica que ia do controlador aos controla-
dos, passaram a ser utilizados por grupos sociais cada vez mais amplos, au-
mentando a possibilidade de con trolar o excesso policial pela imagem obtida
furtivamente, ins taurando uma verdadeira guerra de imagens.
Os termos direitos constitucionais e cidadania ocul tam quase sem-
pre, o momento originrio de seu nascimento, ou seja: o confito real ou poten-
cial entre massas urbanas e grupos empenhados na manuteno do status quo.
Na es truturao do direito burgus, do Estado Liberal e do Estado Interven-
cionista, as correias que atavam o confito estrutural, a propagao de imagens
ou idias e o confito urbano ainda subsistiam. No Estado Liberal, era a desor-
dem urbana que f sicamente ocupava os locais de mando ou interrompia as ati-
vidades produtivas. No Estado Social, manteve-se a ttica da ocupao somada
disputa pelas imagens do confito, per mitindo que eles repercutissem em
espaos no alcanados pela cena fsica dos confrontos. Em outras palavras,
a mdia deu sociedade de massas, marcada pela crescente atomi zao dos
67
Aps a abertura para o capitalismo, a Rssia tem sido prdiga em coibir todas as mani festaes
pblicas dissidentes.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 97
espaos, a iluso de uma unidade que poderia ser disputada. Se a unidade era
espetacular a disputa deveria ter natureza semelhante.
Todavia, na nova ordem neoliberal, a esfera poltica tem pouco a fa-
zer, pois lhe faltam os instrumentos para fa zer, como a burocracia estatal. Os
instrumentos para inter veno desaparecem paulatinamente com a desestati-
zao, a desregulamentao do mercado e a supresso de direitos laborais. O
isolamento da esfera poltica diante das deman das por direitos pode ser cada
vez mais percebido como pa tolgico. Paradoxalmente, enquanto velhos ins-
trumentos de satisfao de necessidades no podem ser mantidos, os no vos
instrumentos capazes de serem utilizados em relaes sociais mundializadas
no podem ser conquistados, pois se reinventam novas estratgias humanas de
conteno do povo que reivindica. De fato, a idia de conter, ou seja, agrupar
em determinado lugar, distancia dos centros de poder, no capaz de expres-
sar as novas relaes de confito entre insur gncia popular e elites.
As novas elites, denuncia Zygmunt BAUMAN, guardam algo de trans-
cendente, pois habitam simultaneamente mun dos diversos. Os locais de deci-
so so mveis como seus proprietrios. A transferncia imediata do capital,
convertido em aes (e as aes em dados eletrnicos), permite que os proprie-
trios batam em retirada, sem confronto. Porm, esse recuo tem consequncias
desastrosas para aqueles que no podem fugir do local. O conhecimento que
antes era vincula-do s rgidas estruturas burocrticas das fbricas e dos Esta-
dos refugia-se na estrutura tecnolgica de informao disper sa pelo mundo.
68
Neste novo cenrio, a ao dos movimentos antigloba lizao que se diri-
girem aos locais onde as grandes potncias econmicas se renem representam
a angstia de um povo que corre atrs de seus reis refugiados em novos mun-
dos.
69
Quando se estabelece uma proximidade mnima, o efeito peculiar. O
povo, humanamente, estar sendo disperso com gases, odores, choques eltri-
cos, espumas grudentas, vigia do por moscas eletrnicas e contido por soldados
cibernti cos. E j se est fora, infelizmente, do plano da fco ou da fantasia.
68
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurana no mundo atual. Rio de Ja neiro: Jorge
Zahar. 2003. BAUMAN, Zygmunt. Globalizao. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. BAUMAN,
Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
69
ARTURI, Carlos S. Movimentos antiglobalizao e cooperao securitria na unio Eu ropia.
Civitas. Revista de Cincias Sociais, Porto Alegre, v.4, n. 2, p. 285-302, dez. 2004.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 98
A demanda por Direitos Humanos, antes oposta contra o espetculo poli-
cial que era produzido com a colaborao involuntria das diversas formas de
Totalitarismo, est sendo revertida para a racionalizao dos efeitos das aes de
con trole sobre os Distrbios Civis no espao urbano. A possibili dade de encenar a
dor est cada vez mais escassa. Porm, a morte social, das coletividades annimas,
permanece e se expande. Morre-se pela fome aos milhares, morre-se por do enas
endmicas e curveis, morre-se pela falta de emprego, de sua garantia e proteo.
Tais mortes so annimas, num outro sentido, esto dispersas em sua reivindica-
o de consti tuir uma morte trgica, com contedo poltico. Essa disperso civil,
por sua vez, transforma-se num espetculo inofensivo. As imagens resultantes
das mortes em nmeros e cifras no produzem efeitos cnicos. Por sua vez, ali
onde a violncia se manifesta como um flme de fco, as intervenes polticas
ganham novos efeitos cnicos, trazidos pelas tecnologias b licas de conteno dos
distrbios civis, mas o grito humano e o vermelho do sangue desaparecem.
A nova ordem internacional, calcada juridicamente em atores Estados
e que tem como elemento determinante das opes polticas a presso de or-
ganismos econmicos inter nacionais sobre as estruturas internas das polticas
locais, no pode tolerar o reconhecimento de um novo direito po pular em
grande escala. Tal reconhecimento pressuporia um direito de se manifestar li-
vremente e sem conteno contra a apropriao da poltica pelas foras priva-
das do Imprio. Ain da assim, caso fosse reconhecido tal direito, restaria sempre
a pergunta sobre como garantir que as elites mundiais se sin-tam impossibili-
tadas de fugir para outros locais mais seguros. Em certo sentido, o impasse se
situa no fato de que ou h uma revoluo mundial ou no h revoluo alguma.
De outra parte, a mudana de estratgia, das armas duras para as armas
leves um elemento capaz de tirar da esfera de regulao o armamento. Inse-
re na luta travada em torno da legalidade e da possibilidade de aproveitamen to
da regulamentao do ilcito. A inovao tecnolgica fora de um padro pre-
existente provoca o efeito da sua no con teno jurdica. Se no est limitada
pelas regras da guerra, converte-se no melhor armamento. As demandas civis
ainda esto situadas na conteno das armas de sangue e, por ra zes tratadas
adiante, no so capazes de pensar no carter letal das novas armas. A letali-
dade, neste caso, no deveria mais ser pensada no plano da causalidade (causa
e efeito diretos) e das vtimas individuais, mas necessitaria da ponde rao so-
bre seus refexos no cenrio das mortes coletivas e annimas.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 99
Por sua vez, o desenvolvimento de novos produtos b licos garantido
pela refexividade do conhecimento cientf co, daquele resultante da ao po-
ltica e do gerado na inds tria do entretenimento. Como anota GIDDENS, a
refexidade da vida social consiste no fato de que as prticas sociais so cons-
tantemente examinadas e reformadas luz de informa o renovada sobre
suas prticas, alterando assim constituti vamente seu carter. Ela instaura uma
hermenutica dupla, ou seja, o conhecimento da vida social integra a vida
social que se transforma e induz a necessidade de um novo conhe cer que se
incorporar ao conhecido e assim por diante. As cincias sociais so o princi-
pal exemplo desse fenmeno, isto porque o conhecimento por elas produzido
incorpora-se ao prprio tecido das instituies modernas.
70
As pesquisas para a produo de armas se orientam por reas bem dis-
tintas que representam fuxos de realimentao da fantasia e da criatividade.
Antes de terem sido inventadas, foram imaginadas pela indstria do entreteni-
mento. Algumas delas, como o uso de produtos qumicos, podem encontrar li-
mitaes em regras de direito internacional. Todavia, como no reproduzem o
padro arma de fogo e como no pre tendem ser armas, mas apenas mecanis-
mos de conteno e preveno (qui brinquedos), podem ser disseminadas
para aqueles que tm dinheiro ou poder para adquiri-las. O choque eltrico
instrumento de defesa pessoal, estratgia policial, mecanismo de guerra e
sonho infantil de desenho animado...
A difculdade de sua regulamentao deve-se ao fato de que elas so jus-
tifcadas como formas de combate a cri minalidade comum. So criadas para o
consumo de massa, tendo sua legitimidade garantida de baixo para cima. Inte-
graram, inclusive, reivindicaes de estratgias de defesa de grupos de vtimas,
como as mulheres. Ademais, sua limitao envolveria no apenas o direito de
consumo, mas o poder do Estado de conter insurreies populares. Neste caso,
no pa norama ideolgico atual, este ataque ao novo humanitarismo encontra
limites evidentes, pois a ordem pblica parece ser um valor inatacvel. O Esta-
do, eventualmente questionado por organismos internacionais, ter, no mni-
mo, o direito de defender sua soberania quando nenhum ato de violncia
efetiva tiver sido praticado por seus agentes.
70
GIDDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991. p. 43-51.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 100
De igual modo, a aceitao desses novos mtodos um resultado bvio
da facilidade com que eles so utilizados para conter os perigosos, no exerc-
cio do direito cada vez mais idealizado da legtima defesa. Sua aceitao tam-
bm resulta do fato de perpetuarem a intoxicao tecnolgica de senvolvida
pelo mercado. A interao entre fco, pesquisa cientfca e produo bli-
ca cumpre papel ideolgico impor tante de transformar a violncia estatal em
algo inofensivo, irreal. A embalagem tecnolgica imobiliza as vtimas e in-
sensibiliza os espectadores. Para a formao da sociedade global da produo
e do consumo da guerra, o efeito mais evidente dessas tecnologias que elas
permitem inscrever a guerra light ou high tech no corpo social. Tal uso
compe ampla estratgia, segundo a qual a guerra passa a ser con cebida como
uma prtica tolervel nas relaes cotidianas.
71
5. Notas sobre o Desenvolvimento da Guerra, da Vigi lncia e da
Produo do Espetculo
Os caminhos percorridos at aqui para uma critica do novo humanita-
rismo letal, tomando por sugesto a obra de Michel FOUCAULT mereceriam
notas extensas sobre suas observaes a propsito dos conceitos de Sociedade
do Es petculo e Sociedade Disciplinar, bem como as diversas in terpretaes
dadas a esse tema. Por sua vez, a aproximao dessas questes com o debate
sobre a permanncia da guer ra no despropositada. Michel Foucault no
apenas tratou da anlise do discurso sobre a guerra em suas obras, como suge-
riu que na origem da sociedade disciplinar existiria a ten so entre a utopia de
uma cidade fundada no contrato e de outra no sonho de uma cidade militar.
72
Em linhas gerais, para o autor, os dois tipos ideais de sociedade (do espet-
culo e disciplinar) teriam produzido diferentes formas arquitetnicas, repre-
sentativas de distintos modos de exerccio do poder ou snteses de sociedades
utpicas. Nas Sociedades do Espe tculo, a exemplo da sociedade grega, a pre-
ocupao dos arquitetos era de possibilitar o espetculo de um aconteci mento,
de um gesto, de um nico indivduo a um grande n mero de pessoas. Da a
importncia do teatro, dos sacrifcios religiosos, dos jogos circenses, dos ora-
dores e seus discur sos. Na Sociedade Disciplinar surge uma metfora poltica
71
NAISBITT, John. High Tech & High Touch: a tecnologia e a nossa busca por signifcado. So
Paulo: Cultrix, 1999.
72
FOUCALUT, Michel. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 101
da visibilidade dos governados. Estes devem se oferecer como espetculo ao
olho sempre inquisidor do poder. O imperador, atravs de seus procuradores,
vigiava seus sditos. Ele era o olho universal voltado para a sociedade em toda
a sua ex tenso. Na arquitetura, esse novo ponto de vista (do poder em direo
ao povo) foi expresso num modelo ideal de priso projetado por Benthan, o
Panptico.
73
O Panopticom era um edifcio em forma de anel, no meio
do qual havia um ptio com uma torre no centro. O anel se
dividia em pequenas celas que davam tanto para o interior
quanto para o exte rior. Em cada uma dessas celas, havia
segundo o objetivo da instituio, uma criana aprenden-
do a escrever, um prisioneiro, se corrigindo, um louco
atualizando sua loucura, etc. Na torre central ha-via um
vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para o
interior e para o exterior, o olho do vigilante podia atra-
vessar a cela; no havia ne nhum ponto de sombra e, por
conseguinte, tudo o que fazia o indivduo estava exposto
ao olhar do vigilante que observava atravs de venezianas,
de postigos semi-cerrados de modo a poder ver tudo sem
que ningum ao contrrio pudesse v -lo
74
Da o conceito de Panoptismo, ou seja, o poder exer cido sobre os indi-
vduos em forma de vigilncia individual e contnua. Tal vigilncia garantiria
a aplicao de tcnicas de punio, recompensa e correo, isto , de formao
e trans formao dos indivduos em funo de certas normas (nor malizao).
O Panoptismo se apresentava, portanto, sob trs aspectos: vigilncia, controle
e correo.
75
Entretanto, alguns dos crticos contemporneos de Michel FOUCAULT
intentaram questionar a validade desses conceitos para explicar as sociedades
atuais.
Segundo DELEUZE, as Sociedades Disciplinares te riam atingido seu
apogeu no sculo XIX, mas teriam logo en trado em crise, precipitada pela Se-
gunda Guerra Mundial. Tal situao pode ser percebida na crise generalizada
de todos os meios de confnamento, priso, hospital, fbrica, escola, famlia.
73
FOUCALT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janei ro: Nau, 2001. p. 103-105.
74
FOUCALT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janei ro: Nau, 2001. p. 87.
75
Ibidem, p. 103.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 102
Ou, como escreve Michel HARDT, trata-se do fm do espao institucional,
pois: [...] Os muros das instituies esto desmoronando de tal maneira que
suas lgicas disciplinares no se tornam inefcazes, mas se encontram, antes,
generali zadas como formas fuidas atravs de todo o campo social. O espao
estriado das instituies da sociedade disciplinar d lugar ao espao liso da
sociedade de controle.
76
Para DELEUZE, o confnamento estaria sendo substi tudo por formas
ultra-rpidas de controle ao ar livre (expres so tirada de Paul Virilio)
77
ou por
um mecanismo de controle que d, a cada instante, a posio de um elemento
em espa o aberto, tal qual o animal numa reserva ou o homem numa em-
presa.
78
Os novos controles seriam uma modulao, como uma moldagem
auto-deformante que mudasse continu amente, a cada instante, ou como uma
peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro.
79
No lugar da assinatura
que indica o indivduo e o nmero de matrcula que indica sua po sio numa
massa, existentes na sociedade disciplinar surge a senhaque marca o acesso
informao ou a rejeio de acesso. Os indivduos tornam-se dividuais (divi-
sveis) e as massas, amostras, mercados ou bancos de dados.
80
A sociedade disciplinar fundava-se no capitalismo do sculo XIX que
era de concentrao para a produo. Ele eri gia a fbrica como meio de conf-
namento. O capitalista era o proprietrio dos meios de produo, mas tambm
de outros espaos concebidos por analogia. (A famlia, a escola, etc.).
Todavia, atualmente o capitalismo no mais dirigido para a produo,
relegada com frequncia periferia do terceiro Mundo, mesmo sob as formas
complexas do txtil, da meta lurgia, ou do petrleo. Trata-se de um capitalismo
de sobre produo, onde no se compram mais matria-prima e no se vendem
produtos acabados, compram-se produtos acabados, aes, vendem-se servi-
os. Ele no se dirige para a produ o, mas para o mercado. Agora: a escola,
o exrcito, a fbri ca no so mais espaos analgicos distintos que conver-
gem para um proprietrio, Estado ou potncia privada, mas so agora fguras
76
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Eric (Org). Gilles Deleu ze: uma
vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. p. 357.
77
DELEUZE, Gilles. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle: conversaes 1972-1990. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1992. p. 219-220.
78
Ibidem, p. 224-225.
79
Ibidem, p. 221.
80
Ibidem, p. 222.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 103
cifradas, deformveis e transformveis, de uma mesma empresa que s tem
gerentes.
81
Nesse novo espao, o principal instrumento de controle o marke-
ting, ao qual se agregam as produes farmacuticas e manipulaes genti-
cas.
82
O lugar do homem confnado da Sociedade Disciplinar estaria sendo
ocupado pelo homem endividado da Sociedade de Controle.
83
Para HARDT, o fm do regime de confnamento institu cional estaria
sendo transformada:
Em primeiro lugar, porque a a dialtica moderna do fora e den-
tro foi substituda por um jogo de graus e intensi dade, de hibridismo, e
artifcialidade.
84
Em segundo lugar, os espaos pblicos da sociedade moder-
na, que constituram o lugar da vida poltica liberal, tendem a desaparecer na
socie dade ps-moderna. Na tradio liberal, o indivduo, estava em sua casa
ou seus espaos privados. O fora o lugar prprio da poltica, em que a ao
do indivduo fca exposta ao olhar dos outros e em que ela procura ser reco-
nhecida. Ele era o espao do encontro casual e do agrupamento de todos. Na
sociedade ps-moderna os espaos so privatizados, apresentando-se em es-
paos fechados como das galerias comerciais, das auto-estradas, dos con-
domnios com en trada privativa. Tende-se, mediante tcnicas de urbanizao,
a limitar o acesso pblico e a interao, transformando-se os subrbios em
espaos amorfos e no-defnidos que fa vorecem o isolamento e difcultam a
interao comunitria.
85
O lugar da poltica liberal, segundo HARDT, desapa receu e a sociedade
ps-moderna se caracteriza por um d fcit do poltico. O lugar da poltica foi
desrealizado, pois a interao humana passa a ser feita a partir da Sociedade
do Espetculo (descrita por Guy Debord). O lugar do Espetculo virtual,
um no-lugar.
86
Ou seja: A noo liberal do pblico como o lugar do fora,
onde agimos sob o olhar dos outros, tornou-se ao mesmo tempo universaliza-
da (pois somos hoje permanentemente colocados sob o olhar dos outros, sob a
81
DELEUZE, Gilles. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle: conversaes 1972-1990. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1992. p. 223-224.
82
Ibidem, p. 220.
83
Ibidem, p. 224.
84
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Eric (Org). Gilles Deleu ze: uma
vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. p. 358-359
85
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Eric (Org.). Gilles Deleu ze:
uma vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. p. 359-360
86
Ibidem, p. 360.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 104
observao das cmeras de vigilncia) e sublimada, ou des realizada, nos espa-
os virtuais do espetculo. O fm do fora , assim, o fm da poltica liberal.
87
Em terceiro lugar, a dicotomia moderna tambm teria se esfacelado em
relao poltica internacional com o fm dos confitos principiais, em espe-
cial no domnio militar. Na sociedade ps-moderna tem-se a certeza de que
a potncia soberana no mais afrontar seu Outro. Os confitos passam a ser
menores e interiores. Cada guerra imperial uma guer ra civil, uma ao de
polcia. Os idelogos americanos teriam difculdade em nomear o inimigo,
pois eles seriam cada vez menores e imperceptveis.
88
Segundo HARDT, a tese da diferenciao entre o den tro e fora na mo-
dernidade est relacionada produo da subjetividade. Na sociedade discipli-
nar elas eram construdas no interior de instituies e possuam certa regula-
ridade. J na sociedade do controle as subjetividades so produzidas em todo
o campo social e so cambiantes ou esto em cons tante degenerao.
89
A no
defnio do lugar da produo corresponde indeterminao da forma das
subjetividades produzidas. As novas instituies podem ser percebidas em
um processo fuido de engendramento e de corrupo da subjetividade. Os
aparelhos ideolgicos de Estado operam com uma intensidade e fexibilidade
muito maiores que as imaginadas por Althusser.
90
De igual modo, no processo
de modernizao os pases mais poderosos exportaram para os pases depen-
dentes formas institucionais. No atual pro cesso de ps-modernizao o que
se exporta a crise das instituies.
91
HARDT enuncia tambm trs hipteses sobre o de senvolvimento da So-
ciedade de Controle em Substituio Sociedade Disciplinar: a) A sociedade
ps-moderna no se organiza mais em torno de um confito central, mas em
uma rede fexvel de microconfitualidades.
92
b) A sociedade ps -moderna no
se baseia mais numa noo de soberania que permitia uma superioridade e
uma distncia entre o poder (do Estado por exemplo) e as potncias da socie-
87
Ibidem.
88
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Eric (Org.). Gilles Deleu ze:
uma vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000p. 360-361.
89
Ibidem, p. 369-370.
90
Ibidem.
91
HARDT, Michael. A sociedade mundial de controle. In: ALLIEZ, Eric (Org). Gilles Deleu ze:
uma vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. p. 370.
92
Ibidem, p. 371.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 105
dade, mas numa soberania propriamente capitalista, sociedade da sub suno
real.
93
c) A sociedade de controle somente pode ser pensada a partir do merca-
do mundial. Ela , portanto, uma sociedade mundial de controle.
94
O Mercado,
teria substitudo como diagrama do poder o Panptico. No lugar da lgica do
dentro-fora do Panptico constitui-se um lugar contnuo, apa rentemente liso,
mas atravessado por inmeras fssuras e em constante crise. Nesse espao liso
do imprio no h o lugar do poder; ele est em todos os lugares e em nenhum
deles. O Imprio uma u-topia, ou antes, um no-lugar.
95
O conceito de Imprio, na viso de NEGRI, esclarece o que ele supe ser
as novas formas de controle social. O Imprio teria as seguintes caractersticas
principais:
a) a ausncia de fronteiras - O poder exercido pelo Imprio no tem
limites. Ele postula um regime que efetivamente abrange a totalidade
do espao, ou que, de fato, governa todo o mundo civilizado.
b) a suspenso da histria O Imprio no pretende ser um regime his-
trico datado nascido da con quista. Ele no se apresenta como um
momento transitrio no desenrolar da Histria, mas como um re-
gime sem fronteiras temporais. Pretende ser eter no ou est fora da
Histria ou no fm da Histria.
c) a produo do biopoder - O poder de mando do Imprio funciona
em todos os registros da ordem social, descendo s profundezas do
mundo social, pois o objeto do seu governo a vida social. Ele no
apenas administra um territrio com sua populao, mas tambm
cria o prprio mundo que ele habita. No apenas regula as interaes
humanas como procura reger diretamente a natureza humana.
d) a produo da paz perptua - Apesar das inme ras violncias que
o Imprio pratica, ele se justifca como dedicado paz perptua e
universal fora da Histria.
96
As criticas aos conceitos de Sociedade Disciplinar e Sociedade do Espe-
tculo, como se percebe, so variadas.
93
Ibidem, p. 371-372.
94
Ibidem, p. 372.
95
Ibidem, p. 361-362.
96
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Imprio. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 15.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 106
H aqueles que defendem a permanncia das formas espe taculares de
apresentao do poder. Outros que o conceito de Sociedade Disciplinar perdeu
seu vigor explicativo com a transformao das estruturas sociais, por razes
diversas: porque o modo de exercer a vigilncia por cmeras distinto da dis-
posio hierrquica do Panptico; porque o processo produtivo concentrado
nas fbricas agora se passa num terri trio disperso (terceirizaes, planilhas de
produtividade, ar rendamentos, trabalho por tarefa); porque o consumo adqui-
riu uma posio mais importante do que a produo; porque a determinao
do comportamento na sociedade de massas estabelecida mais pela seduo
do que pela disciplina; por que a propriedade no tem a mesma materialidade
que pos sua no sculo XVIII, pois pode ser composta de dados eletr nicos, os
quais no sofrem a depredao fsica das pilhagens e pequenos furtos.
97
inegvel que as bases estruturais que estavam vinculadas Sociedade
Disciplinar (o industrialismo e a materialidade da riqueza do mercado capita-
lista) esto sendo alteradas. Porm, as atuais caractersticas do controle social
foram desenvolvidas a partir de mecanismos presentes na Sociedade Disci-
plinar. Em outra ocasio, sugeriu-se que as formas atuais de controle social
poderiam ser comparadas ao espetculo produzido pela Mquina de Vidro,
apresentada por KAFKA em seu conto a Colnia Penal.
98
Entretanto, antes de resumir esse ponto de vista so indispensveis algu-
mas ressalvas sobre as teses dos autores citados:
Em primeiro lugar, no inteiramente correto afrmar que Michel FO-
CAULT tenha feito do confnamento o cerne de sua percepo da formao
da Sociedade Disciplinar. As dis ciplinas eram dispositivos que se agregavam
s instituies, mas indicava-se a tendncia para a utilizao de formas sem-
pre mais leves de institucionalizao.
99
Em segundo lugar, a idia de cont-
nuo carcerrio apontava para o intercmbio entre espaos institucionais. Po-
rm, nas anlises de Michel FOUCAULT, o espao de ao do controle social
era o es pao da produo, urbano e rural, espaos institucionais (a escola, o
hospital, a fbrica) e espaos de interao social, como a rua e a praa. Logo,
como deixam entrever as pgi nas de Vigiar e Punir sobre a hipertrofa da fun-
97
BAUMAN, Zygmunt. As consequncias da modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
98
KAFKA, Franz. O Veredicto/na colnia penal. So Paulo: Companhia das Letras: 1998.
99
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1991. p. 260-269.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 107
o policial, no se pode supor que seu autor foi um socilogo das institui-
es que agora esto perecendo. Ao contrrio, ele insere tais instituies em
tramas cada vez mais complexas de relaes de poder que se situam em todo
o corpo social.
100
Em terceiro lugar, a insistncia de que o capitalismo presente est estru-
turado na esfera do consumo, na criao do mercado de consumidores oculta
aspectos importantes do tempo presente. A novidade no est apenas em um
desloca mento da produo para o consumo, mas na prpria reorga nizao de
ambos espaos. O produto vendido desde o mo mento da produo, pois a for-
ma de produzir (ecologicamente vivel ou socialmente responsvel) j parte
integrante do resultado fnal. O processo interessa tanto quanto o resultado
(ou interessa mais do que interessava no incio). O espetcu lo da mercadoria
tambm a criao da empresa como espe tculo. Da a nfase nas atividades de
criao ou na relao cliente empresa, da identidade da empresa, de sua misso
social etc. De igual modo, o produto fnal, mercadoria, nunca est pronto, pois
ele pode ser adaptado ao gosto do cliente, tendncia da hora. O produto
o resultado de uma interao produtiva com seu consumidor. Da os jogos
de bricolagem do faa voc mesmo e a adaptao ao perfl do cliente. Ou
seja, a produo perpetua-se no ato de consumir. De outra parte, as atividades
produtivas industriais e agrcolas no de sapareceram. O que diminuiu foi a
ocupao, em determina dos parques industriais, da ocupao da mo-de-obra
devido automao. Logo, o deslocamento no das formas de co ero sobre
o sistema produtivo, mas do deslocamento das massas trabalhadoras, sobretu-
do nos pases centrais, para o setor de servios. Outro fato importante que a
fragmentao da fbrica foi possibilitada tambm pelas novas tecnologias de
informao. Como anotou Milton SANTOS, as tcnicas de informao sub-
meteram todas as demais tcnicas produtivas, como a prpria agricultura. Tal
fato permite a no diferencia o crescente da produo e do consumo, das
diferentes uni dades de produo e de servios etc.
101
A fbrica est descentralizada, mas no est disper sa ou desconectada.
No por acaso, um dos maiores medos contemporneos seja o da descone-
100
DUARTE, Evandro C. Piza. A mquina de vidro: sociedade de informao e processo Penal.
Cadernos da Escola de Direito e Relaes Internacionais da Unibrasil, Curitiba, n.4, p.39-64, jan./
dez. 2004.
101
SANTOS, Milton. Por uma outra Globalizao. So Paulo: Record, 2000.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 108
xo. Para estar integra do ao sistema produtivo e necessrio estar conectado.
As re des de produo mantm uma dependncia espantosa com suas matrizes
que podem impor tarefas cada vez menos lu crativas aos seus fornecedores ter-
ceirizados. Da mesma for ma, o trabalhador por conta prpria ou por produo
no est livre. Ao contrrio, ele se encontra cada vez mais dependente. Em v-
rios casos, a nova confgurao leve da empresa tem recriado formas primi-
tivas de relao de trabalho, tais como a servido e a servido domstica, onde
o julgo se torna mais direto e insuportvel. A transferncia dos velhos parques
in dustriais para pases emergentes exporta os problemas tra dicionais do pro-
cesso de produo, mas ela est associada a formas cada vez mais especializa-
das de controle. No h mais fbricas no terceiro mundo, mas fbricas-mundo.
A imagem de uma sociedade baseada no consumo uma projeo in-
telectual daqueles grupos sociais que desem penham as funes de produo
ideolgica, cada vez mais absorvidas pelo mercado, em detrimento dos cha-
mados Apa relhos Ideolgicos de Estado, ou, simplesmente, de grupos de in-
telectuais que ainda parasitam tais aparelhos em continua degenerao e que
so, essencialmente, consumidores. Em outras palavras, o intelectual, inserido
nas universidades em decadncia ou no mercado editorial, supe viver num
mundo de consumo e de servios. Todavia, o que o tempo presente prope no
a hipertrofa do setor de servios ou o domnio do consumo, mas o fm das
distines pela sua integrao tecnolgica.
102
Ademais, a possibilidade de deslocamento da produ o para lugares di-
versos, ao sabor dos interesses do lucro, no faz com que produo perca a
importncia, pois ela per manece como indispensvel para a reproduo da
vida hu mana. Tampouco esse deslocamento signifca a integrao potencial a
um mercado consumidor do tipo capitalista, mas simplesmente a proliferao
de populaes marginalizadas cuja existncia passa a ser concebida no como
reserva, mas como algo irrelevante para o capital, o estorvo. As populaes
abandonadas pela produo e pelo consumo, as quais, s vezes, correspondem
populao de Estados inteiros, no fazem parte da sociedade de consumo.
Em quarto lugar, a idia de que o resultado primeiro do capitalismo foi
o individualismo um argumento incompleto, pois o capitalismo produziu
102
Tal intelectual labora num mundo de mediaes tecnolgicas que o faz confundir os ins-
trumentos de mediao, como o sistema de computadores, e o mundo. Confra: BARCELLO-
NA, Pietro. O egosmo maduro e aiInsensatez do capital. So Paulo: cone, 1995. p.17.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 109
tambm a percepo da diviso da humanidade em grupos raciais e nacionais,
e a ainda, em conjuntos-categorias de anormais. Em outras palavras, as formas
de identifcao de indivduos conduziram a conclu ses sobre o seu pertenci-
mento e mobilidade grupais. No h apenas uma proliferao de mecanismos
de poder cujo objeto o corpo individualizado, mas tambm o corpo coletivo
e, em especial, os decorrentes dos conceitos de tipo humano, raa e classe.
As novas tecnologias atualmente utilizadas per mitem repensar tais conceitos
tradicionais de anlise das po pulaes, retirando-lhe os efeitos contraprodu-
centes de uma crtica moral e poltica. Novas populaes podem ser criadas e
recriadas a partir da proliferao de dados cada vez mais individualizados e
da manipulao dos bancos de dados pos sibilitados pela informtica. Novas
individualidades e novas coletividades, mas no o seu fm.
Em quinto lugar, tema mais espinhoso o da produ o da subjetivi-
dade. Se Michel FOUCAULT situa a produo da subjetividade em funo
da produo (criao do operrio moderno), HARDT no explicita porque as
novas subjetivida des adquirem uma forma fuida. De outra parte, ele comete
o mesmo erro de FOUCAULT, ou seja, desconsidera que se as subjetividades
so artifciais (porque no haveria nada de natural no humano) elas foram
produzidas em diferentes formaes sociais com as quais o capitalismo se de-
fronta. Ademais, nas sociedades capitalistas, o mundo da produo nunca con-
seguiu determinar todo o espao da produo da subjetividade. Ou seja, se a
subjetividade histrica, a his tria da produo de subjetividades ainda no
foi totalmente controlada pelas relaes de poder determinantes na socie dade
capitalista, passo que somente pode ser pensado a par tir da mediao absoluta
da experincia humana pelo espet culo e pela interveno cientfca direta nas
bases biolgicas do humano.
De outra parte, se a artifcialidade da subjetividade como hiptese se-
dutora, tal tese levada ao extremo, pro voca desconfana. No se deveria dar
algum crdito para a existncia de estruturas psquicas que, se no imanentes,
so mais permanentes que os ltimos sculos conhecidos? No se deveria, tal-
vez, duvidar que h uma base biolgica mnima com a qual as subjetividades
so criadas, tais como, a vulnerabilidade fsica, a dependncia social da lin-
guagem, a fome etc.? Hiptese mais sedutora seria a de compreender como a
produo das identidades coletivas est inserida nas disputas inerentes s rela-
es de poder, sobretudo quando elas podem ser encenadas no espao medi-
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 110
tico. A produo de subjetividades fuidas garante as necessidades de consu mo,
mas, sobretudo a impossibilidade de que as identidades sejam um obstculo
ao consumo, defnindo, previamente, os padres valorativos do ato de consu-
mir. Outro problema re corrente o de supor que o Estado (e a rede de insti-
tuies que foi criada em torno dele) tenha sido o lcus principal de criao
das identidades na Modernidade, ofuscando-se o pa-pel do mercado, inclusive
pela disseminao de padres de consumo restrito a que eram submetidas de-
terminadas popu laes. A nova produo de identidades fuidas pode servir,
neste caso, para garantir a expanso potencial do consumo para grupos que o
prprio mercado excluiu em outros tempos, fxando-lhes novas identidades.
Em sexto lugar, a mxima de que os pases centrais exportaram as dis-
ciplinas e agora exportam a crise das ins tituies disciplinares deve ser re-
considerada. Deve-se acre ditar na histria herica da opresso dos sujeitos
centrais e na descoberta dessa opresso por seus intelectuais? As disciplinas
nasceram no centro ou foram criadas simultane amente no centro e na peri-
feria? A histria crtica do poder, em que Michel FOUCAULT est inserido,
e a crtica do poder presente de seus seguidores merecem um olhar crtico
tam bm. Vejam-se alguns exemplos: Deve-se supor que o trato com a escra-
vido pressupunha apenas a fora bruta ou a pr xis animalesca, sem o uso
de outras estratgias? Ser que isso era devido ao fato de que se lutaria aqui
contra bestas, dispensando-se o uso de ardis ou artifcios, to bem descri tos
nos livros escritos fnamente pelos intelectuais dos pases centrais? (!) De fato,
para descrever a dominao do homem europeu precisa-se de tratados sobre a
astcia do poder (so bre o surgimento das disciplinas, por exemplo), mas para
descrever o domnio sobre o no-europeu basta dizer que fo ram escravizados.
O que dizer sobre as instituies coloniais, suas funes e seus saberes?
Em outras palavras, a percepo de HARDT de que a lgica do dentro
e fora que seria inerente Modernidade redutora. A Modernidade no pode
ser descrita em termos de expanso de um ncleo europeu pr-constitudo,
mas de processos de autodefnio dependentes das relaes de po der mun-
diais. O eu moderno um vazio que somente pode ser compreendido pela
totalidade das relaes histricas nas quais ele estava e est inserido. O lado de
dentro do Moder no no pode ser compreendido pela sua descrio, pois o seu
interior resulta do processo de negao dos outros (ind genas, negros, asiticos
etc.). Nesse sentido, se FOUCAULT fala da Frana (ou da Inglaterra) em tom
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 111
universal, HARDT pretende ter descoberto na lgica da exportao a essncia
das relaes mundiais. As teorias que se fundamentam na exportao do capi-
talismo, das idias, das disciplinas etc. so todas insustentveis teoricamente.
Incapazes de descrever e compreender as realidades rotuladas de Centrais e
Perifri cas. Supor que agora a relao entre dentro e fora deixou de existir
pressupor que ela tenha existido antes, o que d na mesma.
Em stimo lugar, indispensvel que sejam questiona das as anlises so-
bre a existncia de um espao virtual, de no-lugares, da formas desterritoria-
lizadas de existncia etc e todo o arsenal cognitivo que compe esse quadro de
refern cia. De fato, se o espetculo tende a substituir o real dever -se-ia tom- lo
como real? O espetculo permite uma forma de interao entre pessoas seg-
mentadas, mas onde vivem as pessoas, no espao da rua ou na dimenso vir-
tual, ou, qui, em ambos? Existe uma transcendncia do lugar, a morte do lu-
gar, a ubiquidade dos lugares e no-lugares? No haveria algo de desrealizador
nesse discurso crtico que nos conduz a associar a denncia da morte do local
a uma narrativa quase mtica?
103
Um dia os homens transformam-se em espritos, ima gens puras, que
podem ser todas as coisas, passando a ha bitar outro plano. Ora, ou os corpos
sero imobilizados efeti vamente por uma potncia exterior e vivero na Ma-
trix, como prope a fco cientfca, ou os corpos habitaro um lugar. Na pior
das hipteses, sero corpos nmades. A ubiquidade em sentido fsico, embora
possa ser sonhada por meio de prteses (biolgicas, mecnicas ou imagticas)
no pos svel para a totalidade da populao.
104
Tais questes devem ser res-
pondidas antes de se pretender construir teses sobre o controle social. Alis,
o que esse controle se no o controle sobre nossas vidas, nossa condio vi-
vente singular e como integrante da espcie? A espcie, tal como conhecida,
ha bita ainda um mundo onde suas necessidades so criadas e satisfeitas. Tal
fato, ainda persiste.
Em oitavo lugar, necessrio dissociar tendncias e estratgias den-
tro do capitalismo contemporneo e ca ractersticas desse capitalismo. O
103
A fora de atrao dos No-lugares, espaos e imagens que se repetem no perodo da
globalizao e que permitem, por exemplo, ao executivo estar no mesmo hotel em diversas
partes do mundo, como sustenta AUG, no uma experincia que possa ser universaliza da.
AUG, Marc. No-Lugares. Campinas: Papirus, 1994.
104
VIRILIO, Paul. A Mquina de viso. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2002.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 112
capitalismo atual tende a corromper indefnidamente as subjetividades que
cria, mas poder ser essa uma frmula aplicada totalidade dos habi tantes
desse mundo? Ser possvel pensar na existncia de conjunto humano (ainda
que no seja o que hoje se entende por sociedade) sem que haja uma domi-
nncia mnima e uma estabilidade mnima na produo de subjetividades? Se
isso for possvel quais sero os mecanismos responsveis pela estabilizao do
social? A corrupo da subjetividade com patvel com a existncia do huma-
no? O compartilhamento da linguagem, por exemplo, no depende de formas
de subjetivi dade compartilhada?
Tais perguntas (ausentes na perspectiva de HARDT) deveriam deslocar
a ateno da mudana continua das sub jetividades, como se essa fosse a alter-
nativa, inclusive eman cipatria, para a necessidade dos pressupostos sociais da
existncia coletiva. No plano individual, num mundo em que a subjetividade
esteja completamente corrompida de modo con tnuo, a nica fora para fazer
escolhas ser uma fora que se impe externamente, restando, talvez, instintos
primrios.
105
a partir desse pressuposto no questionado, que auto-res, como
HARDT, propem o sonho de uma multido que se insurge no mundo a par-
tir de instintos de revolta (tese que nega no fundo o pressuposto da histori-
cidade de toda sub jetividade) ou o domnio tcnico de toda ao pelo apare-
lho tcnico (tese que anuncia a morte do humano em profecias escatolgicas,
sustentando, de modo complementar, a crena das transformaes surgidas
do nada).
106
Listadas algumas ressalvas ao texto de Michel FOU CAULT e a alguns
dos seus crticos, pode-se desenvolver, dentro de um quadro de anlise res-
trito, algumas considera es sobre a diferena entre o modelo de Sociedade
Disci plinar e a que atualmente se desenvolve. O ponto de partida que se pro-
pe a nova infra-estrutura tecnolgica disponvel, composta pelas tcnicas
de informao e, em especial, pe las Novas Tecnologias de Comunicao, as
quais permitem associar os mecanismos da Sociedade do Espetculo ao da So-
ciedade Disciplinar, redefnindo a idia de uma substituio da segunda pela
primeira.
105
MARCUSE, Herbet. Tecnologia, guerra e fascismo. So Paulo: Unesp, 1999.
106
Sobre as concepes escatolgicas veja-se: LIBANIO, Joo B. ; BINGEMER, Maria Clara L. A
Situao da problemtica: a libertao na histria. Petrpolis: Vozes, 1985. p.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 113
O sistema descrito por Michel FOUCAULT no Panp tico se baseava na
hipertrofa da funo natural do olhar. O olhar para a captura a tnica de
seu discurso ( o olhar do carcereiro, do policial, do superior militar). Por
sua vez, para os defensores do conceito de espetculo, o olhar seduzido na
apresentao do objeto, na representao, na produo da imagem. Entretanto,
ambas as funes do olhar acompa nharam a trajetria da civilizao ocidental,
no sendo exclu dentes.
Como anota CHAUI, a origem das palavras associa das a essas funes
pode fornecer pistas sobre a interseco entre sociedade disciplinar e socieda-
de do espetculo. O pri meiro grupo de sentidos, associados ao olhar, demons-
tra que vigiar envolve um julgar, pois:
Skpos se diz daquele que observa do alto e de longe, vi-
gilante, protelo informante e mensageiro. Pratica o sko-
peu (observar de longe e do alto, espiar, vigiar, espionar)
alojando-se no skop, o observatrio (como o cientista
soberano e tam bm o policial, no panopticon de Ben-
tham). Por isso, sua prtica no apenas vigiar e espiar,
mas signifca, ainda, refetir, ponderar, considerar e, julgar,
tornando se skopeuts: aquele que ob serva, vigia, protege,
refete e julga, situando-se no alto.
107
A segunda pista que esse olhar julgador constitui es peranas (de segu-
rana e paz social), opinies pblicas (no espetculo da mdia e dos tribunais)
e prticas de poder ir racionais (preconceitos). Como sintetiza a flsofa bra-
sileira:
A gama de sentidos de specio-specto de ampli do ines-
perada: spectabilis o visvel; specimen, a prova, o indcio,
o argumento e o exemplo; Spe culum (espelho) parente
de spetaculum (a festa pblica) que se oferece ao spectator
(o que v, espectador), que no apenas se v no espelho
e v o espetculo, mas ainda capaz de voltar -se para o
speculandus (a especular, a investi gar, a examinar, a vigiar,
a espiar) e de fcar em speculatio (sentinela, vigia, estar
de observao, explorar, espreitar, pensar vendo) por que
exerce a spectio (a vista, a inspeo pelos olhos, a lei tura
dos agouros e capaz de discernir entre as species e o
107
CHAUI, Marilena. Janela da Alma, Espelho do Mundo. In: NOVAES, Adauto et. al. O olhar. So
Paulo: Cia das Letras, 1998. p. 35.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 114
spectrun (espectro, fantasma, apari o, viso irreal). Po-
deramos ignorar o vnculo constitutivo, posto por Hegel,
entre especulao e fenomenologia? Aquele que olha, se
estiver de atalaia no alto, se diz que est na specula; se ali
estiver explorando ou espionando, se diz speculator. E se
quem olha estiver expectante - spectans - o olha com e por
esperana - spes. Se teme o que espera, mas o olha com
despreza e desdm, diz despido (eu desprezo), porm se
olhar para o alto com venerao, dir suspicio, ainda que,
se voltar para baixo os olhos, dir: eu suspeito.
108
De modo mais sinttico BOSI, afrma que entre os gre gos encontravam-
se duas dimenses do olhar-conhecer: o olhar receptivo - o que na linguagem
comum signifcaria um ver-por-ver, sem o ato intencional do olhar; o olhar
ativo - que representaria um olhar de ateno, de procura;
109
No primeiro caso,
teve-se a explorao do olhar pelo espetculo. No se gundo, pela vigilncia.
A novidade, no capitalismo, foi a passagem de um olhar natural para
uma especializao cada vez mais artifcial. O caador, por exemplo, ao subir
numa montanha para obser var a caa, tinha um olhar natural, pois possua
limites bio lgicos evidentes. Porm, as funes naturais foram sendo maximi-
zadas pela mudana no espao exterior (construo da torre no Panptico de
Benthan) ou pela organizao so cial, como os sistemas de vigilncia compar-
tilhados por diver sos agentes (disposio hierrquica das funes de comando
no exrcito). Tal processo avanou, defnitivamente, com a industrializao
do olhar.
110
Como anota PARENTE:
As novas tecnologias de produo, captao, transmisso,
reproduo, processamento e ar mazenagem da imagem
esto a, como uma rea lidade incontornvel: o telescpio,
o microscpio, a radiografa, a fotografa, o cinema, a te-
leviso, o radar, o vdeo, o satlite, a fotocopiadora, o ul-
trasom, a ressonncia magntica, o raio laser, a holografa,
108
CHAUI, Marilena. Janela da Alma, espelho do mundo. In: NOVAES, Adauto et. al. O olhar. So
Paulo: Cia das Letras, 1998.
109
BOSI, Alfredo. Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto et.al. So Paulo: Cia das Letras,
1998. p. 66.
110
Uma narrativa histrica das concepes flosfcas sobre o olhar encontra-se em: BOSI, Alfredo.
Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto et. al. O olhar. So Paulo: Cia das Letras, 1998;
CHAUI, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo. In: NOVAES, Adauto et.al. O olhar. So
Paulo: Cia das Letras, 1998; A concepo de industria lizao do olhar tomada de VIRILIO,
Paul. A Mquina de viso. Rio de Janeiro: J. Olym pio, 2002.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 115
o telefax, a cmera de psitrons, a in fografa. So as m-
quinas de viso, que primei ra vista funcionam seja como
meios de comuni cao, seja como extenses da viso do
homem, permitindo-o ver e conhecer um universo jamais
visto porque invisvel olho nu.
111
O olhar moderno encontrar formas de intensifcao da viso median-
te uso de instrumentos que provocam mu danas na estrutura da percepo. A
industrializao do olhar paralela industrializao de todas as formas na-
turais de percepo (audio, olfato, tato e paladar). Tal processo est intima-
mente vinculado industrializao das formas de repre sentao, tais como a
fotografa, o cinema, o vdeo etc. O ho mem tecnolgico tem olhares sobre es-
paos e sentidos que o homem natural jamais possuiria. Em certa medida, o
seu corpo tende a se tornar o produto desse novo olhar cientfco -tecnolgico
com a interveno da engenharia gentica e da nanotecnologia.
112
Entretanto, Michel FOUCAULT concebeu inicialmente os modelos de
sociedade (disciplinar e do espetculo) a par tir das arquiteturas, embora tives-
se proposto que elas repre sentavam diagramas do poder. Trava-se de perceber
como o ambiente fsico artifcial (as pedras) podia constituir (entalhar) o sujei-
to moderno. A novidade atual que o entalhe feito numa base tecnolgica
pulverizada no ambiente, associada s formas de industrializao dos sentidos
e de outras quali dades humanas, como a memria.
As formas modernas de vigilncia por cmeras dei xaram obsoletas as
velhas formas de controle que eram li mitadas a um ambiente fsico (arquitetu-
rais). De igual modo, todas as formas visveis de vigilncia j esto fadadas ao
pe recimento. A integrao contnua ao ambiente prope o desa parecimento
absoluto de qualquer vestgio da existncia de mecanismos de vigilncia, po-
dendo-se supor uma regra geral de que quanto mais imperceptvel, mais abso-
luto o dispositivo de controle.
113
O satlite um bom exemplo desse novo status do exerccio do poder. Ele
o veculo da comunicao, pairando sobre a humanidade. Serve para enviar
dados, mas , so bretudo, um grande olho a espreita de informaes, imagens
111
PARENTE, Andr. Imagem mquina; a era das tecnologias do virtual. So Paulo: Editora 34,
2001. p. 13.
112
BAUDRILLARD, Jean. A Iluso vital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001.
113
VIRILIO, Paul. A Mquina de viso. Rio de Janeiro: J. Olym pio, 2002.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 116
convertidas em regularidades. Seus objetos de anlise so a natureza, suas pro-
priedades destrutivas e produtivas, a ao das populaes, seus fuxos migrat-
rios e depredaes, gru pos especfcos sob monitoramento preventivo. Enfm,
seu objeto qualquer um que se transforme em alvo do olhar. O olho maqu-
nico no respeita os limites naturais da viso. Ele decompe analiticamente
a imagem, compara imagens dis tintas, focaliza pequenas partes, recompe o
que foi visto O olhar um dispositivo de anlise, integrado a outros sistemas.
Panptico high tech? Sim, mas apenas uma parte daquilo que est por vir.
114
Enfm, embora no se queira sugerir uma sequncia evolutiva, pode-se
afrmar que MARX demonstrou a aliena o do sujeito na organizao do tra-
balho.
115
FOUCAULT, por sua vez, argumentou que se tratava de extrair no
apenas trabalho, mas tambm conhecimento e de constituir o sujeito pelo co-
nhecimento.
116
Talvez, agora, se deva ponderar sobre a alienao defnitiva das
capacidades humanas naturais, no apenas do tempo ou da fora fsica, mas da
prpria corpo ralidade. De tal modo que o homem esteja prestes a desco nhecer
as formas de conhecer autonomamente. E a proposta de viver e ser constitudo
por um ambiente artifcial, como no flme Matrix, no seja apenas fccional.
A sntese em torno palavra olhar (vigilncia, espetcu lo, conhecimento,
prova) indica esta mutao profunda. Ainda que o homem mantenha esforos
num olhar ativo, nada lhe garante que suas certezas no sejam o resultado
de media es do Espetculo do qual participa involuntariamente. A ati vidade
perceptiva foi industrializada a tal ponto que no se pode saber com certeza
qual a diferena entre uma persegui o real a um criminoso nas ruas de
uma de nossas grandes cidades e outra fccional, forjada pela indstria do
entreteni mento. O registro das observaes guardado em lugares desconhe-
cidos. A informao (e at mesmo a imagem) de composta em registros num-
ricos transfere-se em bancos de dados ingovernveis, ocultos.
Atualmente, entretanto, o espetculo oferecido pela prpria atividade
de vigilncia que serve para relegitimar o sistema penal. A imagem nica de
114
A Exploso do espao da soberania tem sido destacada por VIRILIO, Paul. Velocidade e
poltica. So Paulo: Estao Liberdade. VIRILIO, Paul. A Bomba informtica. So Paulo: Estao
Liberdade, 1999. VIRILIO, Paul. A Mquina de viso. Rio de Janeiro: J. Olym pio, 2002. VIRILIO,
Paul. Estratgia da decepo. So Paulo: Estao, 2000.
115
MARX, Karl. A Conscincia revolucionria da histria. In: FERNANDES, Florestan. K. Marx F.
Engels. Rio de Janeiro: 1980. p. 146-181.
116
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janei ro: Nau, 2001. 2001. p. 121.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 117
um evento criminoso re sume a certeza da lei. Ela tem provocado a degradao
da retrica e sua substituio pelo impacto da imagem. Surge uma retrica do
silncio, forjada no impacto da imagem, que adequada a uma sociedade em
que os espaos pblicos so substitudos pela disperso atomizada de sujeitos
passivos. No lugar do debate, o vazio cognitivo, a degradao de nos sos dis-
cursos sobre Justia.
As Novas Tecnologias de Comunicao, com suas ca ractersticas (me-
diao do intercmbio social, privatizao, desrealizao e simulao da infor-
mao), permitem a cons tituio de um espao privilegiado no apenas para a
certeza, mas, sobretudo, para a iluso, capaz de justifcar a indiferen a diante
dos fatos. O intercambio entre mecanismos de vi gilncia e de espetculo per-
mite constituir uma Mquina de Vidro que nos ilude com a transparncia na
aplicao da lei.
De qualquer modo, o que interessa destacar para com preenso da me-
tfora da Cidade da Guerra que a violncia seja ela aquela doce, conforme
descrita por Michel FOU CAULT, seja aquela direta, associada fora fsica,
esto inseridas na lgica da produo do espetculo que serve a implantao
de novas formas de vigilncia e de controle. Em torno do espetculo, por sua
vez, reconstituem-se relaes de disputa. A industrializao dos sentidos e a
sua integrao defnitiva aos aparelhos que produzem o espetculo (em es-
pecial o punitivo) intentam fazer sucumbir as qualidades hu manas do olhar
sobre o outro que esto relacionadas tanto ao discernimento do julgamento
atento (do qual dependeria a tomada de uma deciso judicial) quanto sensi-
bilidade diante do sofrimento alheio que se presencia (do qual dependeriam a
solidariedade individual e coletiva).
6. O Controle das Armas de Fogo e os Novos Ilegalis mos da
Fantasia Blica: Breve Nota sobre a Guerra Cap turada
pelo Direito
Retome-se, porm, a tendncia humanitria das novas fantasias de con-
trole social. A disputa em torno da proibio do uso de armas de fogo, no
Brasil, no ano de 2005, revela os limites de nossa cidade em fazer opes po-
lticas fora do espectro da guerra. O debate foi polarizado da seguinte for ma.
Num partido, estavam os defensores da proibio que identifcavam os efei-
tos perversos da permisso na existncia de acidentes domsticos e no desvio
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 118
de armas lcitas para o mercado ilcito. Noutro, os defensores da permisso
denun ciavam a incapacidade do Estado de defender a propriedade privada e
a integridade fsica dos cidados, alardeando que os criminosos estariam em
vias de dominar o espao pblico devido inoperncia estatal.
Portanto, as opes eram: regular o consumo e liberar o consumo. Elas
demonstravam que no estaria em jogo a possibilidade efetiva de evitar a pro-
duo global da guerra. Se os primeiros falavam em nome de uma trgua do
consu mo, os segundos representavam o consumo como direito de legtima de-
fesa. O fm da guerra, com as devidas desculpas aos que, tal como os autores
deste texto, votaram pela proibi o, no estava em debate.
117
Contudo, tambm entre os contrrios criminalizao havia bons ar-
gumentos que foram silenciados. Tendo em vis ta a difuso generalizada do
uso de armas de fogo, a efc cia da lei teria de passar por inmeros fltros
de seletividade, permitindo que se visualizassem algumas hipteses sobre
sua futura aplicao: a) Diante da tendncia estrutural do sis tema penal de
agir sobre os mais fracos, uma lei proibicio nista poderia ser convertida num
instrumento poltico contra grupos dissidentes. Isso j estaria ocorrendo na
aplicao da legislao em vigor, quando se criminalizam, por exemplo, os
sem- terra pela posse ilegal de armas, mas sos deixados im punes as quadrilhas
organizadas por latifundirios e grileiros ou os grupos de segurana privada
nos centros urbanos. b) Ademais, a nova lei poderia facilmente se converter
(como j ocorria tambm com a legislao atual) numa verso moder na das
leis de vadiagem. Nesse contexto, ela serviria para criminalizar os excludos
do mercado lcito de trabalho, justif cando, com a excluso penal, a sua ex-
cluso econmica. Especifcamente, no mercado consumidor e produtor de
drogas ilcitas, alvo principal das campanhas publicitrias, ela seria utilizada
para abrir espao para garantir a no da incidn cia da lei penal sobre o mer-
cado consumidor formado pelos jovens de classe mdia, dissociando-os dos
esteritipos de violncia encontrados no mercado de drogas ilcitas. De um
lado, jovens de classe mdia treinados legalmente na violn cia e consumidores
de armas no-regulamentadas, e, de ou tro, no consumidores treinados no uso
de armas proibidas, jovens pobres; c) Num pas em que no h um controle
efetivo das armas ilcitas apreendidas, onde elas circulam, sem muito alarde,
117
A prpria estrutura da pergunta formulado no referendo foi mal proposta e se referia apenas ao
comrcio.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 119
das mos do Estado s mos dos agentes ofciais cri minosos, destas at as mos
dos criminosos no inseridos na estrutura estatal, h chances considerveis de
que aplicao da norma proibitiva se convertesse em ocasio para a produ o
de provas forjadas, aumentando s violaes do devido processo legal. Ade-
mais, tal probabilidade, mais expressiva por alargar (como todos os delitos
que envolvem a posse ou guarda de objetos ilcitos) o poder de barganha e de
parasi tismo dos criminosos inseridos na estrutura do Estado com os grupos
de criminosos comuns.
O mais importante, porem, o fato de que a tentativa de conter o con-
sumo no age sobre o mercado mundial de produo e consumo, ignorando
o peso da indstria arma mentista e a superestrutura ideolgica da qual ela se
alimen ta.
118
A proibio dissocia violncia individual e produo social da vio-
lncia, mercado de consumo e produo, e, pior, projeta na violncia pontual
a imagem da totalidade da violncia. Ou seja, o problema no sai da esfera
da responsabilidade moral individual, excluindo as relaes sociais capazes de
explicar o ciclo da violncia em sociedades excludentes.
Nos pases democrticos, onde a populao civil tem ou no a posse de
armas de fogo, aps 11 de setembro, a sociedade civil cada vez mais milita-
rizada num sentido pe culiar. Isso porque, embora desarmada, a populao
mobili zada para a guerra, pois dela participa de modo ativo no lado de c do
campo de batalha. A guerra ao terrorismo foi acom panhada do aumento da
violncia institucional, com propos tas de construir um direito penal adequado
s caractersticas ontolgicas do inimigo, e as tcnicas de controle invadiram
as interaes humanas, sobretudo Estado-indivduo, legitimadas por discursos
preventivos
Outra questo pode ser somada aos argumentos pre cedentes: O controle
das armas de fogo poderia conter todos os sonhos blicos que esto presen-
tes tanto numa cmera de vigilncia quanto num dispositivo de preveno ao
crime, utilizados cada vez mais maciamente pelo Estado e por con sumidores
privados?
No deixa de ser relevante o fato de que se viva numa era de conscin-
cia crescente da corrupo da linguagem. Po rm, no Direito a linguagem o
principal elemento com que se pretende capturar a realidade. Como percebeu
118
Veja-se nesta edio o artigo de ZACKSESKI, Cristina.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 120
FOUCAULT, antes mesmos dos interacionistas simblicos, as defnies sobre
crime e criminosos no so apenas legais, mas tam bm institucionais e pr-
institucionais. Os processos de def nio permitem a excluso de comporta-
mentos que escapam da lei e do controle ofcial.
119
De tal modo que se pode
des confar que o processo de defnio seja, de fato, direcionado, ao escapismo,
e no apenas captura dos comportamentos.
Porm, com FOUCAULT, e com a afrmao herme nutica da possi-
bilidade da comunicao, em que pese sua improbabilidade, novos e velhos
ilegalismos convivem nas re laes de poder que conduzem concretizao
da linguagem e atuao das instituies.
120
O escapismo (ou a fuga da ilega-
lidade) pode ser constado na transformao rpida do que visto como real,
impulsionado pela tcnica, que provoca um envelhecimento precoce das de-
fnies. Ao mesmo tem po, assiste-se a corrupo das formas tradicionais de
sociali zao da lngua (a famlia e a escola) o que impe a quebra de consenso
majoritrio sobre o signifcado que continham antigas expresses. A tradicio-
nal distino entre gramtica e lngua dissipa-se no apenas na multiplicao
das lnguas grupais, mas das gramticas sistmicas e da fragilidade dos proces-
sos tradicionais de socializao de uma gramtica ge ral.
A transformao cada vez mais acelerada do social, decorrente do pr-
prio processo crescentemente complexo de sua reproduo, inclusive tcnica,
apropriada desigualmen te em decorrncia das desigualdades inicialmente
existen tes.
121
Ou seja, as novas tcnicas so repartidas segundo os antigos pa-
dres de excluso econmica, poltica e social. No plano da produo social da
violncia, isso se d da mesma forma, pois determinados grupos se utilizam de
velhas tcni cas blicas e outros se integram a novos mercados no re gulados de
violncia. O consumo de armas mais humanas, portanto, no o mero resul-
tado da presena de valores mo rais civilizadores, mas produto das distines
de poder e de propriedade. Os grupos privilegiados tm entre suas opes os
recursos mais refnados da tcnica. Os menos privilegia dos, ao contrrio, ape-
nas a fora qualifcada como bruta.
119
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1991. p. 239-244. Tese que foi reforada
por BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direi to penal. Rio de Janeiro: Revan,
1997.
120
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e mtodo II. Petrpolis: Vozes, 2002. GADAMER, Hans-
Georg. Hermenutica em retrospectiva. Petrpolis: Vozes, 2007.
121
HABERMAS, Jrgen. Direito e democracia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 121
Neste contexto, o problema da corrupo da linguagem e da possibilidade
do Direito regulamentar a vida pode ser ilustrado da seguinte forma. Num poe-
ma, smbolo do moder nismo brasileiro, o signifcado era reafrmado pela repe-
tio do objeto desejado, retratado como uma evidncia: Uma for. uma for.
uma for. uma for. Do ponto de vista literrio, a repetio j possua um efeito
contraditrio, pois, ao fnal do poema, o leitor, de algum modo, estava compelido
a questio nar o signifcado da for. No obstante, ao mesmo tempo, o poema suge-
ria que a for poderia ser sentida como algo sim ples, uma essncia transcendente.
A situao agora outra. O que ser uma for num mundo em que fores
sintticas enganam nossos olhos, em que as imagens de fores nos fazem de-
cepcionar diante da presena fsica de uma for e em que fores desconhecidas
so cientifcamente arquitetadas? Em outras palavras, neste mundo em que o
real se alarga diante da interveno huma na, em que a linguagem recons-
truda, em que o inusitado introduz a impossibilidade de determinao, o que
signifcaria o controle das armas? Alis, o poema poderia ser revisitado:
O que uma arma? O que ser uma arma? O que foi uma
arma? O que pode ser uma arma? Uma arma. Uma arma.
De que vale a expresso arma de fogo quando as tc nicas
de violncia so cada vez mais humanitrias? De que vale a
expresso arma de fogo, como defnio da violncia proi-
bida, quando as formas de violncia se ampliam em larga
escala? De que vale a expresso arma de fogo quando os
sonhos blicos so reproduzidos na vida todos os dias?
No contexto atual, a tentativa de construir formas de regulamentao das
armas, esbarra nas crticas dirigidas s formas tradicionais de interpretao do
direito. Como anota Alexandre Bernardino COSTA, comentando HABERMAS:
(...) a velocidade e a hipercomplexidade da sociedade con-
tempornea, aliadas ao pluralismo, exigem a constante to-
mada de decises em relao aos direitos fundamentais,
em face dos riscos a que est submetida. Novas tecnolo-
gias exigem novos sistemas de proteo e preveno de
aciden tes; novidades na rea biolgica exigem novas pos-
turas em relao ao meio ambiente, e assim por diante. E,
paradoxal mente, a busca por segurana e controle pode
gerar novos e maiores riscos.
122
122
COSTA, Alexandre Bernardino. Desafos da teoria do poder constituinte no estado de mocrtico de
direito. Tese (Doutorado)- Curso de Ps-Graduao em Direito da UFMG. Belo Horizonte: 2006.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 122
Todavia, tais questionamentos no signifcam uma adeso ao no con-
trole das armas de fogo. No obstante, se preciso questionar a barbrie que
radica na defesa de sua permanncia em nossa sociedade, ou seja, na prolifera-
o de formas de violncia fsica conhecidas, no se pode deixar de questionar
a barbrie que se instala na confuso em se identifcar arma de fogo e arma,
arma e violncia, e arma e morte injustifcvel.
Por certo que a Cidade da Guerra, em pases com pa dres elevados de
desigualdade, no poder prescindir para a manuteno do status quo, ainda
por um longo perodo, das formas mais diretas de violncia fsica. Porm, isso
no sig nifca que ao produzir algumas daquelas identifcaes estar -se-ia con-
tendo a violncia.
O que dizer dos ilegalismos no tratados como proibi dos presente na
produo de armas nucleares ou na produ o de novas tecnologias blicas pelo
complexo industrial mi litar, difundidas como produtos de consumo inocente
ou como necessidades do desenvolvimento industrial? Assim como na metfo-
ra de KATSUHIRO OTOMO, nossa Cidade da Guerra pode prescindir do ca-
nho, mas no questiona a opo entre guerra e no-guerra. Proibir as armas
de fogo no conter a guerra do tempo presente. Ao contrrio, pode signifcar
ape nas a produo de uma iluso de paz num cenrio de cres cente banalizao
da guerra como cotidiano.
7. Anotaes Finais
Contra quem lutamos? a pergunta ingnua que ex pe a nudez da Ci-
dade da Guerra. Porm, ela sequer pode ser feita numa sociedade infantilizada
pelos sonhos de con-sumo da guerra. Pior ainda, a posio daqueles que so
os destinatrios da guerra, aqueles que so retratados como violentos, insanos,
impuros, diferentes; aqueles que foram os protagonistas silenciosos dos discur-
sos a favor do uso das ar mas; aqueles que supostamente fazem surgir a neces-
sidade do uso de armas ou a respeito dos quais se justifcam ideo logicamente
a construo de novas barreiras que garantam a limpeza dos espaos vividos
ou sonhados pelas elites e classes mdias; aqueles que morrem como suspeitos
de se-rem autores de eventos criminosos; aqueles que so transfor mados em
terroristas; enfm, esses Outros, eles no podem dizer nada sobre a guerra,
to somente sofr-la como fato.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 123
Os nossos Outros, por um lado, como diria ZIZEK, so mortos-vivos,
no sentido de assumirem publicamente uma posio indefensvel, posio
para a qual no existe lu gar no espao pblico no a priori, mas apenas com
relao forma como esse espao hoje estruturado, em condies historica-
mente contingentes e especfcas.
123
Por outro lado, com Carl SCHMITT, pode-se ver o papel central do
Outro na constituio da unidade poltica de uma sociedade de massas, sem
que ocupe este qualquer lugar no interior dessa unidade, a no ser como seu
elemento consti tutivo em razo da sua absoluta alteridade sempre como ex-
terioridade. Trata-se da ideologia da guerra, transposta para uma teoria, po-
ca, bastante plausvel e sofsticada. a rela o amigo-inimigo que caracteriza-
ria toda e qualquer relao poltica. A relao poltica seria capaz de recobrir
toda e qual quer outra relao humana. O qualifcativo poltico distinguiria
assim toda e qualquer relao sobre a qual incidisse uma dis puta a propsito
da defnio de quem somos ns e quem so os outros. a contraposio com
o inimigo, com a alteridade, que constituiria a unidade poltica, a massiva, a
homognea, e democrtica unidade total sob comando do Fhrer.
124
Talvez, o elemento mais fantasioso na breve obra de KATSUHIRO seja
a total ausncia da imagem do rosto inimi go. Quem so eles? a pergunta
sugerida para que se pos sa compreender a existncia de uma pequena cida-
de-leza da qual se conhece apenas um dia. De fato, os Outros sempre servem
de justifcativa para as opes morais e as atividades de dissecao da sua pr-
pria existncia. Porm, o processo de reconhecimento do inimigo ali sempre
uma atividade funcional que, ao contrrio das aparncias engano sas, no traz
luz o rosto do inimigo, mas constri o rosto da prpria unidade poltica.
125
As justifcativas sobre como a sociedade deve se com portar diante da
violncia urbana, em especial quanto ao uso de armas, so, em grande medida,
o resultado inevitvel da incapacidade estrutural de compor um espao p-
blico no qual os nossos Outros histricos possam nos interpelar a pro psito
dos privilgios que possumos. No Brasil, a violncia urbana tambm resulta
do racismo. Isso no signifca que ela seja o resultado de confitos raciais (entre
123
ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real. So Paulo: Boitempo, 2003, p.119.
124
SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. Petrpolis: Vozes, 1992.
125
ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real. So Paulo: Boitempo. 2003, p.130.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 124
grupos), como se tais identidades estivessem eternamente constitudas, mas
que ela uma forma de expresso da violncia racial, da continuidade histrica
de uma sociedade que sonha ser a ci dade maravilhosa, universalizada como
imagem do Brasil, mas que no pretende integrar, no plano do real, os confitos
emergentes da excluso racial na qual se funda desde sua origem. Essa socie-
dade assume, ao contrrio, a condio de que negros e indgenas do tempo
presente tem apenas a vida nua, sacrifcvel, sem que possa ser atribuda a
algum a responsabilidade pelo genocdio em curso.
126
O termo racismo econmico, utilizado para designar a excluso de vas-
tos contingentes sociais, aqui no explica nada, apenas confunde e oculta.
Sociedades racistas im pem a excluso econmica de determinados grupos
huma nos. Optar por colocar a excluso econmica como causa da coincidn-
cia com grupos humanos identifcados com diferen as construdas uma op-
o ideolgica, no cientfca.
Ademais, num mundo em que a derrota diante da in sero econmica
retratada como um problema de falha pessoal, a explicao monocausal da
realidade, com a pre valncia de um economicismo obsoleto, facilita a absoro
moral dos efeitos dos confitos sociais. Assim como o indi vidualismo, o eco-
nomicismo uma forma de universalismo hoje pouco convincente diante das
contingncias histricas. Porm, as portas para esses e outros novos univer-
salismos acadmicos esto sempre abertas. O seu pior temor o grito que vem
do passado que nos confronta com o irracional das opes humanas. Ou seja,
o seu pior medo a constatao da regularidade da excluso, pois ela permite
evidenciar que os Outros esto sendo construdos na linguagem e nas ins-
tituies nacionais.
127
A metfora de KATSUHIRO prope a idia de que Ci dade da Guerra
est em luta contra os sonhos, os pesade los do passado e as possibilidades dife-
renciadas de futuro. O extermnio que a ideologia da guerra provoca de vidas
126
Sobre o conceito de vida nua: AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua.
Belo Horizonte: UFMG, 2002.
127
DUARTE, Evandro C. Piza. Criminologia & Racismo: introduo criminologia bra sileira.
Curitiba: Juru, 2003. DUARTE, Evandro Charles Piza. Princpio da Isonomia e Cri trios para
a Discriminao Positiva nos Programas de Ao Afrmativa para Negros (afro -descendentes)
no Ensino Superior. ABC Revista de Direito Administrativo Constitucional. ano 7, n. 27, jan./
mar.2007. DUARTE, Evandro Charles Piza. Negro: este cidado invisvel. Recrie: arte e cincia:
Revista Crtica Estudantil, Florianpolis ano 1, n. 1., 2004.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 125
humanas, de grupos raciais e tnicos, mas o faz excluindo a prpria humani-
dade de todos ns. Infelizmente, ela projeta a cidade pacifcada, mas deserta,
que continuaremos a encon trar em decorrncia das nossas opes morais do
presente, caso outra no seja erguida em seu lugar.
Contudo a metfora da Cidade da Guerra tomada como denncia con-
duz a pensar como contraponto a Cidade da Po ltica, em termos distintos da
ideologia da guerra. Com esta oposio se revela a crueza e o primarismo do
recurso fcil tentativa de construo da unidade poltica pela simples con-
traposio imatura ao inimigo enquanto elemento constitutivo central da
identidade material de comunho total dos ideais polticos sonhada por Carl
SCHMITT. Torna-se possvel re conhecer no constitucionalismo a complexi-
dade necessria para se afrmar a possibilidade de uma unidade poltica em
que as diferenas de toda ordem sejam direitos igualdade. Precisamente por-
que aqui democracia s pode ser democr tica se for limitada, ou seja, se for
constitucional. O debate na Cidade da Poltica requer igual respeito e consi-
derao para com o Outro, para com as minorias, para com as diferenas. De
tal sorte que, por fora tanto do constitucionalismo quanto da democracia, ao
Outro deve ser sempre aberta possibili dade de incluso, o que, por sua vez,
acarretar novas pre tenses incluso em um permanente processo de tenso
em que a incluso d visibilidade, produz, novas excluses, num jogo continuo
de ampliao da identidade constitucional.
Referncias
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte:
UFMG, 2002
ARTURI, Carlos S. Movimentos antiglobalizao e coopera o securitria na Unio
Europia. Civitas. Revista de Cincias Sociais, v.4, n. 2, Porto Alegre, dez. 2004, p. 285-
302.
AUG, Marc. No-lugares. Campinas: Papirus, 1994.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direi to penal. Rio de Janeiro:
Revan, 1997.
BARCELLONA, Pietro. O Egosmo maduro e a insensatez do capital. So Paulo: cone,
1995.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 126
BAUDRILLARD, Jean. A Iluso vital. Rio de Janeiro: Civiliza o brasileira, 2001.
________. Globalizao : as consequncias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BORGES FILHO, Nilson. Os militares no poder. So Paulo: Acadmica, 1994.
BAUMAN, Zygmunt. As consequncias da modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999.
________. Comunidade: a busca por segurana no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003.
________. Globalizao. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
________. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BENJAMIM, Walter. Teorias do Facismo Alemo. In: MAGIA, tcnica e poltica. So
Paulo: Brasiliense, 1994.
BENTHAM, Jeremy. Panptico-Memorial sobre um novo princpio para construir casas
de inspeo e, principalmente, prises. Revista Brasileira de Histria, So Paulo, v. 7, n.
14,p. 199-229, mar. / ago. 1987.
BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar. In: NOVAES, Adauto et.al. So Paulo: Cia das
Letras, 1998.
CLAUSEWITZ, Carl Von. Da guerra. So Paulo: Martins Fon tes, 1979.
COSTA, Alexandre Bernardino. Desafos da teoria do poder constituinte no estado
democrtico de direito. Tese (Dou torado)- Curso de Ps-Graduaao em Direito da
UFMG. Belo Horizonte: 2006.
CHRISTHIE, Nils. A indstria do controle do crime. Rio de Janeiro, Forense, 1998.
DEBORD, Guy. Comentrios sobre a sociedade do espetcu lo. Rio de Janeiro: Contraponto,
1997.
DELEUZE, Gilles. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. In: Conversaes
1972-1990. Rio de Janeiro: Edi tora 34, 1992.
DUARTE, Evandro C. Piza. A Mquina de vidro: sociedade de informao e processo
penal. Cadernos da Escola de Direito e Relaes Internacionais da Unibrasil, Curitiba, n.
04, p. 39-64. jan./dez. 2004.
________. Criminologia & Racismo: introduo crimino logia Brasileira. Curitiba:
Juru, 2003.
________. Negro: Este Cidado Invisvel. Recrie: arte e cincia: Revista Crtica Estudantil,
Florianpolis, Ano 1, n. 1. 2004.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 127
________. Princpio da isonomia e critrios para a discri minao positiva nos programas
de ao afrmativa para ne gros (afro-descendentes) no ensino superior. ABC Revis ta de
Direito Administrativo Constitucional, Belo Horizonte, ano 7, n. 27, jan./ mar. 2007.
DUSSEL, Enrique. tica da libertao. Petrpolis: Vozes, 2002.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. So Paulo: Loyo la, 1996.
________. A verdade e as formas jurdicas. Rio de Janei ro: Nau, 2001.
________. Em defesa da sociedade. So Paulo: 2005.
________. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
________. O Nascimento da clnica. Rio de Janeiro: Fo rense Universitria, 1994.
________. Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1991.
GADAMER, Hans-Georg. Hermenutica em retrospectiva. Petrpolis: Vozes, 2007.
________. Verdade e mtodo II. Petrpolis: Vozes, 2002.
GALEOTTI, Serio. Contributo alla teoria del procedimento le gislativo. Milano: Giufr,
1957.
GIDDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991.
HARDT, Michael. A Sociedade mundial de controle. In:
ALLIEZ, Eric (Org). Gilles Deleuze: uma vida flosfca. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000.
________. NEGRI, Antonio. Imprio. Rio de Janeiro: Record, 2001.
HABERMAS, Jrgen. Direito e democracia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1997.
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Teodor W. Dialtica do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 1985.
KAFKA, Franz. O Veredicto:na colnia penal. So Paulo
GI-DDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. So Paulo: Unesp, 1991.
LIMA, Cludia de Castro. Tudo de novo que h no front. Superinteressante especial, So
Paulo, abr./dez, 2002.
LIBANIO, Joo B.; BINGEMER, Maria Clara L. A situao da problemtica: a libertao
na histria. Petrpolis: Vozes, 1985.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 128
LOSSO, Andr Tiago. Shopping Centers e a funo social da propriedade: questes
sobre o novo espao de sociabi lidade. Monografa (Graduao)- Curso de Direito no
Complexo de Ensino Superior do Brasil, UniBrasil, Curitiba, 2005.
MARCUSE, Herbet. Tecnologia, guerra e fascismo. So Paulo: Unesp, 1999.
MARX, Karl. A Conscincia revolucionria da histria. In: FERNANDES, Florestan. K.
Marx F. Engels. Rio de Janeiro: 1980. p. 146-181.
MATTOS, Marco Aurlio Vannucchi L. de.; SWENSSON JNIOR, Walter Cruz. Contra
os inimigos da ordem. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
NAISBITT, John. High Tech & High Touch: a tecnologia e a nossa busca por signifcado.
So Paulo: Cultrix, 1999.
NO VAES, Adauto et al. O olhar. So Paulo: Cia das Letras, 1998.
RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punio e estrutu ra social. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1999.
RUSSERL, Bertrand. O Impacto da cincia na sociedade. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1976.
SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. Petrpolis: Vozes, 1992.
SCHWARTZENBERG, Roger-Grard. O Estado Espetculo. Rio de Janeiro: Difel, 1978.
SENNETT, Richard. O Declnio do homem pblico: as tiranias da intimidade. So Paulo:
Cia das Letras, 1988.
PARENTE, Andr. Imagem mquina: A era das tecnologias do
virtual. So Paulo: Editora 34, 2001.
PEREIRA, Moacir. Novembrada: um relato da revolta popu lar. Florianpolis: Insular,
2005.
SANTOS, Milton. Por uma outra Globalizao. So Paulo: Re cord, 2000.
VIRILIO, Paul. A Bomba informtica. So Paulo: Estao Li berdade, 1999.
________. A Mquina de viso. Rio de Janeiro: J. Olym pio, 2002.
________. Estratgia da decepo. So Paulo: Estao, 2000.
________. Velocidade e poltica. So Paulo: Estao Liber dade.
VIRILIO, Paul; LOTRINGER, Sylvere. Guerra pura: a militari zao do cotidiano. So
Paulo: Brasiliense, 1984.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 129
WACQUANT, Loc. A ascenso do estado penal nos EUA. In: DISCURSOS sediciosos.
Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 13-39.
________. A nova gesto da misria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Instituto Carioca
de Criminologia, 2001.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do
sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real. So Paulo: Boitempo, 2003.
PARTE II
SISTEMA PENAL:
REALIDADE-FICO
OS GILVANS
Virglio de Mattos
- Sabe, eu queria mesmo era ser invisvel! - Invisvel voc j
, mano. S voc que no percebeu ain da!
1. Introduo
E
ste dilogo entre Gilvan e Jailto, os protagonistas masculinos de
DOMSTICAS, O FILME
1
, marca bem qual o presente da juventude
pobre, marginalizada e perifrica, na cidade de So Paulo, no incio do
sculo XXI; s so visveis quando cumprem o papel que desse tipo de jovem
se espera: o desvio, chamado crime pela classe dominante de uma de terminada
poca, em espao geogrfco anteriormente dado.
So flhos e flhas das mulheres das correrias, as pontas frmes, as de
f que esto, estiveram ou estaro em contato com aquilo que as classes do-
minantes classif cam como crime e, principalmente, com o crcere, nem que
seja na visita, para imaginarmos um cenrio um pouco menos duro. Que s
so notcia quando esto s voltas com a polcia. Prevalentemente jovens. Essas
minas, esses ma nos. Entrando sempre pelo cano.
E eis que surgem na tela grande e na telinha, vistos no de longe, mas de
perto ou de dentro, vistos por eles me smos. Alegres, no foco, coloridos, rindo.
Escondidos pela di stribuio precria do cinema nacional, que j foi bem mais
precria, diga-se. Contando suas estrias porque sabem saberiam? que s
os poderosos escrevem a histria.
1
Produtora O2, direo de Fernando Meirelles e Mando Olival, baseado na pea Do msticas, de
Renata Melo. Roteiro de Ceclia Homem de Mello, Fernando Meirelles, Nando Olival e Renata
Barata Ribeiro. Direo de Fotografa de Lauro Escorel, ABC e montagem de Deo Teixeira.
Brasil, 2001, 90.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 134
2. De como o subproletariado fcou bem na foto
Quem so esses Gilvans? Quais as suas falas? Quais os seus sonhos?
As falas sobre as vidas produzem profundo silncio. Silncio fssil. S
produzem silncio as refexes se estive rem desacompanhadas das aes. O
que dizer da bisav escrava, da av e me domsticas, ouvido de uma delas que
se auto-impe o pesado rtulo: preta, pobre e ignorante. No s uma perso-
nagem: a constatao de um rtulo atvico.
Foi tambm rotulado, o flme, como uma brilhante comdia brasileira,
pela Variety. A mdia gorda para pegar emprestada a expresso de Mylton
Severiano daqui cumu lou o flme com adjetivos gentis: original, criativo,
delicado, comovente...
Esses crticos devem ter assistido a um outro flme. O flme que vi e vejo
outro. Bem outro. Talvez nem caiba na tela grande do cinema. Talvez s caiba
na tela grande do mundo, com as nossas fatigadas retinas fotografando as
fatigveis rotinas.
3. Qual a crtica da crtica?
O flme que vi narra quatro histrias, de quatro trabalha doras, subalter-
nizadas nessa tambm invisvel profsso: a de empregada domstica. Profsso
que veio a ter existncia, no mundo da vida da visibilidade jurdica, somente
aps a Constituio de 1988. Efmera conquista que vai durar at o atribulado
reinado de Fernando I, o enxotado.
Nada original, nem gentil ou delicada, a prtica da ex plorao do traba-
lho domstico. Desde muito antigamente.
Profsso que no mais existe nos pases de capitali smo central. Na peri-
feria, nos pases tardo-capitalistas, para dizermos com BARATTA, a festa de se
ter, enfm, um posto de trabalho, que deve ser batalhado a qualquer custo, vale
tudo: cotovelada, chute no saco, dedo no olho... Para comer, para sobreviver.
Para poder virar mais um dia. Um posto de trabal ho com um espao mnimo
para que a trabalhadora possa, em teoria, habitar no importa que tipo de
contorcionismo seja necessrio pra isso - que, assim, pode fcar disposio da
patroa 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 135
A profsso de domstica, como diz uma das perso nagens, nunca de-
sejo de carreira futura na infncia, afa stada uma ou outra criana com proble-
mas afetivos. No desejo, sina, ensina uma das personagens.
4. Voc conhece alguma patroa no estilo Dona Vaca?
Quase ia me esquecendo de um detalhe muito importante: nenhuma
das patroas aparece. Captou? S ouvimos suas proezas e golpes mesquinhos,
como o de se atrasar ba stante no dia de pagamento, por exemplo. Entretanto,
sem patres presentes, em cena. No o mundo de sonhos do subproletariado?
O flme no delicado e nem comovente. um comer cial de TV, s que
bem mais longo. Tem a esttica e o timing de um comercial de TV. Uma cma-
ra e montagem nervosas. Competentes. Manhosas. S que em vez de querer
conqui star sua alma, como os pastores neopentecostais, vendida ao consumo e
comprada pelo diabo da prestao, vai dizer a voc: no consuma assim. Traz
uma mensagem dura e in sensvel, vista andando na contramo. Se voc con-
segue e claro que voc consegue transitar na contramo. Pelo menos no
consuma assim as pessoas invisveis que fazem o trabalho que voc despreza.
Parece dizer a mensagem subli minar. O mtico eterna praga trabalho de
sobreviver com o suor do rosto. Sobreviver com o susto. Inventar dia aps dia
uma soluo para o prximo ms. Espcie triste de uma corri da de obstculos:
da moradia, do transporte pblico, do lazer barato, do desgaste, do cansao, do
vazio. S os patres vi-ram busto de bronze nas praas. S perto das moradias
dos patres existem praas.
O atavismo dos ps descalos dos escravos, a pal milhar os espaos ur-
banos oferecendo e oferecendo-se, mer cadoria nica e desvalorizada: sua pr-
pria fora de trabalho. Antes mesmo da marcada urbanizao do sculo XX,
j em seu incio, vinham mirradas meninas, um pouco mais raro, mas vinham
tambm uns raquticos meninos, do interior para a cidade. Da periferia da pr-
histria do agronegcio, para as cidades ento com caractersticas de vila, os
descendentes dos escravos ou mesmo os modernos escravos, iriam traba lhar
quase sempre para sempre em troca de alimentao e habitao.
Algumas famlias eram to boas, mas to boas que os jovens ainda des-
virginavam meio que na marra, e engravida vam meio que sem preocupao, as
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 136
atabalhoadas roceiras, cujos flhos eram tambm acolhidos para perpetuar a
explo rao por mais uma gerao. Impressionante a bondade do capitalismo,
deus havendo que me livre e aguarde.
Mas creio que estava para pegar um atalho que iria nos levar para um
pouco longe demais do flme.
Vamos voltar ao incio e acompanhar a cmera inadje tivvel de Lauro
Escorel. O acurado olhar. Lio de fotografa, aula de cinema. A emoo de
danar um bolero. Rosto colado no rosto, pau duro entre as coxas. Mas a eu
estou viajando demais. Um pouquinho de ateno na sequncia, por favor.
Assim no d. Vamos voltar cena da primeira tenta tiva de roubo no
nibus. Vamos voltar ao que pode parecer pattico e , mas que acontece
na acachapante maioria dos casos: apenas os pacvios correm desnecessrios
riscos na prtica da subtrao violenta, esse modo primrio de expro priao,
de justia social. Mesmo quando conseguem alguns trocados, no conseguem.
Explico: h sempre o risco gran de - de ser enjaulado por mais de cinco anos
se primrio, sem antecedncia maculada e ainda por cima contando com a
sorte de pegar um juiz garantista, como os menos ruins gostam de se auto-
-intitular. S quem corre esse risco so os jovens ps-de-chinelo, sucessores
dos ps descalos e dos flhos dos ps descalos. S eles so alcanados. Quase
sempre de primeira, nossos heris deram sorte. Eu si dei bem, como eles
mesmos gostam de dizer.
5. A fta trocou de lado!
Os pouca prtica, Jailto e Gilvan, em seu primeiro roubo, so literal-
mente derrubados por um freio de arruma o, providenciado pelo motorista
do nibus diante de tantos os vacilos, tanta a falta de prtica demonstrada
pela dupla. A arma cai no cho. Cida - uma das protagonistas - a apa nha e
percebe que de plstico a arma [pequena paradinha funk: no parece uma
comdia o Superior Tribunal de Justi a ter passado anos na discusso se Trol
ou Taurus?
2
Se o emprego de arma de brinquedo poderia ser considerado su-
2
Quem perguntava era o Ministro Edson Vidigal, favorvel ao reconhecimento da majo rante:
Algum pego de inopino, ao saltar de um nibus ou ao dobrar uma esquina, vai poder perguntar
ao assaltante se a arma que empunha de verdade ou brinquedo, se taurus ou trol?
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 137
ficiente para majorar a pena de um tero at metade. Houve at smula
3
que
reconhecia o acrscimo] e conta a todos no nibus, que riem. Roxana outra
protagonista reconhece Gilvam como afilhado de Zefa outra protago-
nista, a mais velha das domsticas, usada como referncia pela desastra da
Quitria impagvel na explicao sobre a diferena entre poeira e p - nos
seus mltiplos empregos.
A testemunha que reconhece o agente do roubo, no momento do roubo
e jura que vai contar tudo. Pode ser con siderado o momento hilrio. Na pr-
tica seria o momento do disparo. Quase na certa tal comportamento serviria
como dis parador do disparo, no fosse cinema.
O pior ainda estava por vir: ameaados pelo motorista, so obrigados
a devolver o dinheiro subtrado, uma mixaria embrulhada em um leno e, no
curso da fuga, Gilvam faz ro dar a roleta. O motorista imperativo, no d
margem conversa:
6. -Rodou a roleta, tem que pagar a passagem.
Jailto paga para Gilvan, que no tem um tosto. D R$5 reais e fca re-
clamando da falta de troco. Na verdade motorista e cobrador apropriam-se do
troco. A fta trocou de lado!, percebe Jailto.
Metfora do que acaba sempre acontecendo com os pequenos e pre-
crios alvos do direito penal: quase sempre s eles pagam o pacto e o preo,
a tarifa e o imposto. Direito de defesa feita no atacado por algum servio
de assistn cia judicial, apenas para constar. Assina aqui, doutor. Direito de
ter somente o direito da defesa formal, sobrecarregada, cansada, feita nos m-
nimos intervalos possveis, verdadeiro espao entre a dor e o consolo, para
dizermos com Tom Z, jamais defesa efcaz, jamais defesa efetiva.
7. Desistindo de ensinar, desistindo de aprender.
A excluso da massa jovem, excluso do ensino e da solidariedade
a mesma incluso na precariedade do su bemprego, quando h a possibili-
dade de, pelo menos, um subemprego. Todas as portas parecem fechadas no
intermi nvel ciclo do no h vagas.
3
No crime de roubo, a intimidao feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena.
Smula 174, do STJ.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 138
Incluso no sistema prisional, esta a nica incluso possvel para os
jovens pobres de periferia. Incluso que pode j ser feita na conteno do com-
portamento desviante adolescente. J no risco da criana problemtica. Se
for mos olhar com lente zoom, possvel identifcar j na gravidez e parto mo-
noparentais, para no dizermos na perigosa foda desprotegida.
Para dizermos, elegantemente, podemos dizer com ZAFFARONI
4
(2005):
Quando a gente se pergunta por que toda essa coisa, toda
essa imensa inverso em polcia, tri bunais, tudo isso, para
conter uns poucos milha res de presos, que so os crimi-
nosos mais bobos que cada um dos nossos pases tem:
criminosos primitivos, aqueles que nem sequer sabem as-
saltar bem um banco, que no tm idia de como fundar
um banco, aqueles que s podem assal t-lo e nem sequer
o fazem muito bem, aqueles que jogam o tijolo no carro
para tirar o toca-ftas...
Primitivo. Esse o fregus do sistema.
Ou podemos ser diretos como Raimunda:
- Bandidinho de merda!
a prpria Raimunda que escracha Gilvam, quando namoram dentro do
carro. Recrimina seu amadorismo. to bobo que parece querer casar s pra
passar a mo nos peitos dela. Distrado, destreinado, pouco atrevido. Todo erra-
do. Tudo errado. Diz que a televiso passa direto como que faz. Ensina como
fazer: Bota uma touca, uns culos escuros. Aponta pra cabea de uma senhora
e grita que, se todo mundo no colaborar, vai estourar a cabea da tiazinha ali.
Se sarem, quando saem vivos, saem depois de pas sar pela mquina de
moer gente que o crcere.
E o flme no cuida do crcere. Torna invisvel tambm o destino futuro
dos alvos que pululam: Quitria e seus vaci los, os ladres de pouco talento, a
carreira de modelo e puta de Roxane...
4
KARAM, Maria Lcia (Org.). Globalizao, sistema penal e ameaas ao estado democrtico de
direito. Rio de Janeiro: Lmen Jris, 2005. p. 30.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 139
O crcere a nica poltica pblica para o subproleta riado nos grandes
centros dos pases tardo-capitalistas, para dizermos outra vez com BARATTA
e no ps-industrial, como virou moda no ps-ps tudo. Estudo.
Hoje j ultrapassamos a marca dos 401 mil presos
5
. Nos ltimos 10 anos
a populao carcerria dobrou. A massa carcerria cresce a razo de dois pre-
sos por hora. Um a cada trs presos est em situao irregular e cumpre pena
de 04 a 08 anos.
Mais a idia piorar ainda mais. O pior que a polti ca deliberada de
fazer com que entrem mais cedo e saiam mais tarde. De preferncia que no
saiam. Ou fazer essa por caria de prender gente dar mais lucro ainda.
O pior que o direito penal s alcana; com sua con versinha arrumadi-
nha de bom moo da dogmtica, com seu cabelinho penteadinho com gel, seu
terninho de pombo cal udo; ou o equivalente feminino, perua dogmtica de
tailler e sapatinho alto, bico de bruxa; aos pobres de todo o gnero, aos Gilvans
e Raimundas.
-Detesto que me chamem de Raimunda...
-Quer que eu te chame de qu?
-Queria chamar Ralde.
No imprio criativo dos prenomes compostos, as De nisianes Priscilas,
as Sidnias Carlas, Reigineides Tayns, Nicoles Christhinys, parecem vir de
uma mesma origem: um lugar onde no se entende bem as palavras. Todas as
jovens mes querem distncia dos atvicos joes e marias. Querem uma vida
diferente, uma chance diferente, alguma diferen a ho de ter seus prprios
flhos. Nem que seja apenas no nome.
Ou o subemprego, ou o crcere. Veja o que dizem os nmeros que no
aparecem no flme, sobre a segregao pri sional feminina. Que o lugar para
onde vo as domsticas, e outros tipos de trabalhadoras que, assim como elas,
tm que se adestrar para o subemprego.
Depois do cinema, saindo da tela do cinema, para onde vo essas mu-
lheres? Quantas j foram a uma nica sesso de cinema? Qual o lugar delas nas
cidades, nos grandes cen tros do sudeste brasileiro principalmente?
5
Escrevo este texto em fns de maio de 2007.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 140
Observem a seguinte descrio: as mulheres segre gadas
6
no Complexo
Penitencirio Feminino da cidade de Belo Horizonte, nico na capital mineira,
curiosamente, tendo em vista a baixssima renda (quase a metade declara ren-
da de at um salrio mnimo)
7
, so possuidoras de residncia prpria (mais da
metade), sendo que quase um tero delas apresenta renda inferior a um salrio
mnimo. Mesmo assim eram elas que sustentavam a casa quando em liberdade.
Note-se que a renda familiar tambm baixssima (14% at um salrio mni-
mo e 40% at dois). A maioria acachapante trabalhava como domstica.
Nessas residncias em que as domsticas do flme eram as patroas na
vida real, sustentadas sempre por elas mesmas e onde moravam em mdia de
quatro a cinco pes soas, quem estaria cumprindo o papel de provedor aps o
encarceramento? Quem faria as tarefas domsticas?
A preocupao grande na medida em que mais de dois teros das pre-
sas possuem flhos e destes, apenas um a cada dez so adultos. Quem estaria
cuidando dessas crian as, as avs? A resposta simples: so cuidadas pelas
avs. E quando no h avs?
Um paradoxo: apenas 11% declaram, respondendo pergunta do que
sente mais falta?, a falta da liberdade. Me tade delas alega sentir mais falta dos
flhos do que da prpria liberdade.
A idade prevalente aquela situada no intervalo de 20 a 29 anos e quan-
do do cometimento do tipo penal a idade tambm se situa no mesmo intervalo
e o estado civil solteira o presente na maioria dos casos.
Quanto ao item educao, a constatao a de que so consumidoras
falhas tambm neste aspecto. Note-se que 3% delas sequer sabem assinar o
nome, 5% apenas assinam
Dixon para Hansen: Just like you understand how hard a black man has
to work to get to where I am, in a racist fucking organization like the LAPD.
And how easily that can be taken away. Tat being said, its your decision.
O nome e a maioria esmagadora possui apenas o ensino fun damental
incompleto. Apenas duas possuam ensino superior completo (- 1%).
6
Trabalhamos ali, com a metodologia da pesquisa-ao, desde a primavera de 2005.
7
Pouco mais de 136 euros atualmente.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 141
O tipo penal infringido pela maioria diz respeito ao co mrcio de substn-
cias ilcitas. E a pena imposta, prevalente mente, alta, de at oito anos de priso.
A questo do trabalho lcito apresenta tambm um pa radoxo: quase dois
teros das presas possuam trabalho lcito antes do contato com o sistema pe-
nal, o que se torna impos svel aps a sada do sistema. Se j difcil, para
mulheres de baixa escolaridade, conseguir um emprego lcito, impossvel se
contam elas com algum contato anterior com o siste ma penal. A anterior pro-
fsso de empregada domstica nem pensar.
Daquelas que trabalhavam quase dois teros no pos sua carteira de traba-
lho assinada. Sem direito de ter direitos, pelo menos os de natureza trabalhista.
Os trabalhos na roa apresentam um percentual bastante reduzido,
mas signifcativos se considerarmos que quase a metade delas so oriundas do
interior do estado. Pode-se conjecturar que, assim como o trabalho domstico,
tambm as tarefas na roa so invisveis.
As ocupaes mais tipicamente urbanas, em ordem crescente, so assim
representadas: babs, costureiras, am bulantes, concursadas
8
, salo de beleza,
faxineiras, presta o de servios, bar e restaurante, comrcio e empregada do-
mstica
9
. Observe-se que a maioria, antes do crcere, trabalhava como em-
pregada domstica. E mais: que seriam babs e faxineiras seno espcies do
gnero domsticas?
Empregada Domstica, a profsso prevalente entre o rebotalho selecio-
nado pelos processos de criminalizao se cundria do direito penal. Como se
essas trabalhadoras tives sem um alvo gigante tatuado nas costas. Um signo,
um sinal, uma senha que permita a busca e a captura, pelo direito pe nal, j no
primeiro deslize. Sem possibilidade de tentar nova mente, como no flme; de
repetir os ensaios, como no cinema. Bobeou no primeiro contato com o siste-
ma penal elas j esto dentro. A falta de sorte norma. Entender e aceitar faz
parte. Escapar arte.
A linha de pobreza prxima da miserabilidade est demonstrada na
possibilidade de alcance dos programas so ciais do governo federal, exempli-
fcativamente, quase dois teros recebiam recursos do programa bolsa escola.
8
O que passou a ser sonho de consumo para a juventude brasileira em tempos de glo balizao da
pobreza e do estado penal.
9
Quase igual, em termos percentuais, soma de todas as demais profsses declara das.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 142
A profuso de flhos que tambm no tero acesso educao, merca-
doria cara; que contrariaro a estatstica ao sobreviverem ao primeiro ano de
vida, marco sombrio ven cendo a fome, a subnutrio, a ausncia de cuidados
bsicos -, ou s doenas normais da infncia, adolescncia cheia de potencia-
lizados riscos. Enfm, quando se reproduzem o que acontece a partir dos 14,
15 anos de idade, ou mesmo antes, para as meninas estaro como eles mes-
mos dizem, contrariando a estatstica se passarem dos vinte e poucos anos.
Se no se lhes pode chamar de vagabundas, diante do fato de que qua-
se dois teros das mulheres presas tinham ocupao lcita quando da priso,
prevalentemente emprega das domsticas, insista-se, tambm pulverizado o
mito da reincidncia e de que o controle penal s visaria quelas que j conta-
vam com contato anterior com o sistema. Quase dois teros delas so prim-
rias, sendo a atual condenao seu primeiro contato com o sistema penal.
Das que j haviam cumprido pena anteriormente, mais de um tero,
cumpriram pena por envolvimento com a lei que reprime o comrcio de txi-
cos. Com a lei nova, mais rigorosa ainda por paradoxal que isso possa pare-
cer a tendncia que as coisas piorem ainda mais. Vo entrar mais cedo, vo
permanecer por mais tempo, insista-se.
A seletividade secundria da criminalizao
10
, made in USA, das subs-
tncias que causam dependncia fsica ou ps quica operaria um efeito salutar
se fosse o seu comrcio des criminalizado: esvaziaria o sistema penal. Mas a
orientao da matriz antiga. Sempre a mesma h muito. Sai inimigo, entra
inimigo e a cantilena da represso mxima a tnica.
Observemos a crtica sempre oportuna e demolidora de ZAFFARONI:
11
A administrao norte-americana, tambm, pres sionou
estas ditaduras para que declarassem guerra droga, em
uma primeira verso vincu lada estreitamente com a segu-
rana nacional: o trafcante era um agente que pretendia
debilitar a sociedade ocidental, o jovem que fumava ma-
conha era um subversivo, etc. medida que se acercava
a queda do muro de Berlim, necessi tava-se de um novo
inimigo para justifcar a alu cinao de uma nova guerra
10
Sobre o tema fundamental a leitura da saudosa ROSA DEL OLMO, passim.
11
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Buscando o inimigo: de Sat ao direito penal cool. In: MENEGAT,
Marildo; NERI, Regina (Org.). Criminologia e subjetividade. Rio de Janeiro : Lumen Jris, 2005,
p.17-18.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 143
e manter nveis re pressivos altos. Para isso se reforou a
guerra contra a droga.
Nos anos oitenta do sculo passado, toda a regio sancionou leis anti-
droga, muito parecidas, confgurando uma legislao penal de exceo an-
loga que tinha sido empre gada contra o terrorismo e a subverso. Estas leis
violaram o princpio da legalidade, multiplicaram verbos conforme a tc nica
legislativa norte-americana; assimilaram participao e autoria, tambm, ten-
tativa, preparao e consumao; des conheceram o princpio de ofensividade,
violaram a autono mia moral da pessoa, etc.
As drogas lcitas, entretanto, afastada a obviedade do lcool e do tabaco,
dentro do crcere tambm representam um custo alto. Tal fato ainda mais
signifcativo se observar mos que a maioria (mais de dois teros!) da medica-
o toma da pela massa carcerria composta por drogas psiquitricas (basi-
camente diazepam, rivotril, fuoxetina, haldol e triptanol). Ningum tira a ca-
deia de cara limpa. preciso uma muleta qualquer, sendo lcita, bem-vinda.
Outra questo que reiteradamente provoca queixas das presas no que
diz respeito ao trabalho. A cada dia que passa mais difcil, remunerado de for-
ma pior e sujeito s idiossincrasias por parte da administrao.
Exemplifcativamente foram proibidos os bordados, reduzida a quanti-
dade das aulas de artesanato e at mesmo a produo contratada, por particu-
lares e pelo estado. A penitenciria, como o prprio nome do complexo indica,
industrial. Mas de industrial mesmo s temos a segregao, a excluso e a
maldade.
Bem mais da metade no recebiam sequer um salrio mnimo. Acos-
tumadas a isso desde o incio, isto : desde o lado de fora. Na precariedade
do recebimento por tarefa exe cutada, ou por pea produzida, ou por dia - na
melhor das hipteses.
Uma outra fundamental paradinha funk: ao contrrio das mulheres, que
vendem o corpo e a alma - aquelas que acreditam nela - quando o companheiro
est preso, de molde a levar-lhe, nas visitas, um pouco de carinho, biscoito, cigar-
ro e suco
12
; a primeira providncia que os homens tomam, logo que a mulher
presa, a de abandon-las. Apenas um nmero bastante pequeno deles as visita.
12
So os objetos de consumo mais desejados pela massa carcerria feminina.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 144
Nmero bastante signifcativo das mulheres entrevista das na pesquisa
no recebe qualquer tipo de visitas. Daque las que tm este verdadeiro privi-
lgio, o maior nmero da categoria outros familiares (sobrinha, cunhada,
genro, nora, neta, prima, tia, padrasto e sogra).
Receber visita signifca no s status dentro do pres dio, como acesso
aos artigos de higiene bsicos, que muitas vezes no so distribudos pelo es-
tado (exemplifcativamente papel e absorventes higinicos, cuja distribuio
precria, intermitente). Alm, por bvio, da possibilidade de amparo e reinser-
o logo aps o cumprimento da pena privativa de liberdade. No ser jogada
fora, como a regra geral para quem no tem ningum.
No limite, quando sarem do crcere, algumas sero empurradas a fazer
o que faziam quando foram tangidas para o sistema prisional. No na profsso
de domsticas, agora eternamente vedada pela indelvel marca da passagem
pelo crcere, mas vendendo substncias proibidas. Ou vendendo o prprio
corpo (o que penalmente irrelevante). Ou fazendo os corres que lhe daro
novamente o bilhete de entrada no crcere e da, ao sarem, quando e se sa-
rem, produziro no vamente uma nova volta na roda da desfortuna.
Hoje o medo o grande catalisador das idias de mais e de maior no
sistema penal. Mais hipteses crimina lizveis e maior rigor na apenao. Mais
do mesmo. Sempre mais do mesmo. Se possvel neutralizando para sempre
no sistema do trs contatos e voc est fora
13
.
Ou essa merda que prender gente para todos, sem distino de clas-
ses, ou no para ningum. A barbrie do crcere no pode ser racionalizada,
institucionalizada, pas teurizada e vendida nas esquinas como panacia de to-
dos os males da sociedade de alta complexidade. imbecilidade pura acreditar
nessa panacia, engoli-la, pedir mais.
13
Na legislao e na prtica americanas, foi, progressivamente, tomando a dianteira a velha e
rodada regra do baseball: Tree strikes and youre out, vale dizer, priso perp tua ou penas
detentivas no inferiores a trinta anos para a reincidncia reiterada agravada, inclusive para
crimes no especialmente graves, como trfco de drogas leves e pungas. PAVARINI, Massimo.
A penalogia do grotesco. USL /Lecce: 2002. A grotesca penalogia contempornea., traduo
livre, p.29.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 145
Para dizer com a bela e combativa Maria Lcia Ka ram:
14
Dentro de um vitorioso Estado mnimo da prega o neo-
liberal faz-se presente um simultneo e incontestado Es-
tado mximo, vigilante e onipre sente. O Estado mximo,
vigilante e onipresen te, manipula a distorcida percepo
dos riscos, manipula o medo e os anseios de segurana,
manipula uma indignao dirigida contra os ini migos e
fantasmas produzidos pelo processo de criminalizao e
se vale de ampliadas tcnicas de investigao e de controle,
propiciadas pelo desenvolvimento tecnolgico, para criar
novas e dar roupagem ps-moderna a antigas formas de
interveno e de restries sobre a liberdade in dividual.
A hierarquia sub tambm est presente no perigo so poder de portei-
ro. Poder canhestro, como todo poder, quando o porteiro assume o topo da
cadeia alimentar, numa curiosa estratifcao por ele mesmo desenvolvida e
cujo nvel mais baixo o zelador, passando pelo vigia e, a sim, enfm: porteiro.
O mximo a que poderia imaginar em seu horizonte estreito de ascenso pro-
fssional. Sua primeira atitude exa tamente providenciar uma geral na bolsa
de uma domstica diarista que chega ao prdio para trabalhar. Faz questo de
reproduzir a rudeza com a qual sempre foi tratado.
Andando para o final, pulando as tocantes histrias, cada sequn-
cia um baque costurado e costurando as vidas que se cruzam, todas elas
simples, apertadas, tristes. Vidas de trabalhadoras! Cada dilogo fere, in-
comoda quando voc quer rir e a dor que aparece na tela no tem graa. A
ignorn cia no tem graa. A invisibilidade no tem graa. A explora o no
nada engraada.
Gilvam fca preso dentro do elevador do edifcio onde trabalham to-
dos, ou quase todos os personagens, a caminho de dois encontros: um na laje
de uma casa, com Jailto, des sa vez para que o parceiro possa apresentar um
revlver de verdade; outro na casa onde trabalha a namorada, para pedi-la
em casamento. Pedi-la em casamento sua patroa. O edifcio como castelo. A
patroa como o senhor feudal.
14
Para conter e superar a expanso do poder punitivo. Veredas do Direito, v. 3, n. 5, Belo Horizonte,
p. 97, jan./jun. 2006.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 146
8. Vo aprender seu nome. No mais ser chamado de Z.
Quando a percepo da invisibilidade toma conta, ma chuca, transtorna,
quando enfm, no dia seguinte e s no dia seguinte consegue sair do elevador
enguiado, explode:
- Z o caralho, o meu nome Gilvan, porra!
15
E picha todos os carros e toda a garagem do prdio com seu nome. Iro
aprender. Vo aprender, aqueles que ig norando o nome, ignoram a prpria
visibilidade do subprole tariado. Os Gilvans no existem. Os lavadores de carro
no existem. Roxane, Raimunda/Ralde, Quitria, Zefa, no exis tem, as mu-
lheres trabalhadoras no existem. O flme no exis te. O que est passando na
tela o direito penal em ao, um pouco antes, um pouco durante, um pouco
depois. Daqueles que s tm identidade quando vo para o crcere. Direito de
entrar em cana, direito de coisa pior. Direito de ter um nmero no infopen.
Chega de pedir as coisas. Vamos mandar. Vamos dar as ordens.
16
Jailto tem razo. Quem comea lavando carro, vai morrer lavando carro.
Melhor trs minutos no buzo, fazen do um roubo, do que um ms inteiro
trabalhando. Isso quando se consegue um trabalho.
9. O bagulho louco, mano.
Um adolescente tpico do subproletariado, seleciona do pelo sistema
penal de represso aos adolescentes em confito com a lei, no sai por menos
de R$ 4.500,00!
17
Quase doze vezes o salrio mnimo!
Excetuando situaes trgicas, nenhuma ex perincia de
infrao se d abruptamente, so sequncias de ruptu-
ras... (...) o contato com as agncias de controle e repres-
so adestram os adolescentes a um cotidiano de horrores
e hu milhao, ante o qual s podem querer reafrmar mais
fortemente a capacidade de resistir ao medo e violncia.
Ser mais forte que a punio o caminho: ser mais bandi-
do, ser mais violento...
18
.
15
Antes da exploso de ira fnal.
16
Da fala de Jailto.
17
Na Fundao Casa, sucessora da FEBEM de So Paulo, valores de fnal de maio de 2007.
18
VICENTIM, Maria Cristina Gonalves. A vida em rebelio: jovem em confito com a lei. So
Paulo : Hucitec/Fapesp, 2005. p. 39.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 147
A loucura da explorao empurra a mocidade para o fazimento da jus-
tia social com expropriao violenta. pre ciso no s fazer o ganho, mas
devolver as humilhaes. A patroa dela to folgada que devia ser assaltada
todo dia. Diz Roxane no depoimento polcia. preciso dar o troco. preciso
fazer alguma coisa, dar alguma resposta. At que cheguemos ao premonitrio
e simblico radicalismo do quem estiver de sapatos, no sobra.
19
Tristes e sombrios tempos esses que vivemos nos tris tes trpicos. Opor-
tuna, mais uma vez, a voz tonitruante de ZAFFARONI:
Nesta conjuntura, os polticos optam por montar -se so-
bre o aparelho autista e sancionar leis pe nais e processu-
ais autoritrias, violentadoras dos princpios e garantias
constitucionais; prever pe nas desproporcionadas ou que
no podem cum prir-se porque excedem a vida humana;
reiterar tipifcaes e agravantes em maranhas antojadi-
as; sancionar atos preparatrios; desarticular os cdi-
gos penais; sancionar leis penais por pres ses estrangei-
ras; introduzir instituies inquisi trias; regular a priso
preventiva como pena; e, em defnitiva, desconcertar os
tribunais mediante a moderna legislao penal cool. (...)
O signo da legislao autoritria cool de nossos dias a
opa cidade, a tristeza, a depresso, a mediocridade, a falta
de criatividade, a superfcialidade, a falta de respeito ao
cidado: simplesmente a deca dncia. No existe nela um
frontalismo brilhante do autoritarismo ideolgico, seno a
opacidade frontal da ausncia de idias.
20
Nenhuma preocupao com o lazer sadio que no seja mera adaptao
ou traduo do estadunidense way of life da juventude. Nenhuma inverso na
educao pblica, gratuita e de qualidade, antes pelo contrrio. Padronizao
cultural ia escrevendo: bovinizao cultural, mas refreei-me a tempo de
baixssimo nvel. Tudo precrio. A fazer lem brar a fala de Raimunda/Ralde,
do porqu detestar o padro do que pobre: tudo quebrado, tudo barato, tudo
ruinzinho. Nada que seduza, nada que impressione positivamente, nada que
d orgulho ou sequer sensao de pertencimento.
19
O BANDIDO da luz vermelha. Direo: Rogrio Sganzerla. So Paulo: P&B. 92, 1968.
20
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Buscando o inimigo: de Sat ao direito penal cool. In: MENEGAT,
Marildo; NERI, Regina (Org.). Criminologia e subjetividade. Rio de Janeiro : Lumen Jris, 2005,
p. 26-27.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 148
Ou os jovens e as jovens de periferia tm reconheci mento, vez e voz,
sobretudo que se lhes possa escutar bem, ou mais e mais vezes vo se ouvir
nos grandes centros o clssico - um assalto!, gritado quase sempre por uns
raqu ticos meninos, umas mirradas meninas, cheios de medo e de tremor nas
extremidades, empunhando um trs oito, uma faca, um caco de vidro. An-
dando com eles, o risco e o perigo.
Foi esse alucinado padro de consumo alto, a qual quer custo, pagan-
do qualquer preo, que os impulsionou a isso. Sero alcanados pelo brao
armado do Estado. A parte mais visvel do Estado, que seu brao policial.
Sero espan cados e presos, no necessariamente nessa ordem. Tero os bens
subtrados. Tero a dignidade, o respeito e a auto-estima achincalhados. Tudo
isso passar da pessoa deles mesmos, agentes de um descuido idiota ou sem
sorte quase sempre sem sorte, para a de suas famlias. Com a sorte de terem
famlia. Com a extrema sorte de terem famlia no distrito da culpa.
Enfm, uma histria da qual conhecemos o fm.
Referncias
KARAM, Maria Lcia (Org.). Globalizao, sistema penal e ameaas ao estado democrtico
de direito. Rio de Janeiro: Lmen Jris, 2005.
PAVARINI, Massimo. A penalogia do grotesco. USL /Lecce: 2002.
VEREDAS DO DIREITO. Belo Horizonte: FMDC v. 3, n. 5, jan./Jun. 2006.
VICENTIM, Maria Cristina Gonalves. A vida em rebelio: jo vem em confito com a lei.
So Paulo: Hucitec/Fapesp, 2005.
ZAFFARONI, Eugnio Ral. Buscando o inimigo: de Sat ao Direito Penal Cool. In.
MENEGAT, Marildo; NERI, Regina (Org.). Criminologia e Subjetividade. Rio de Janeiro:
Lumen Jris, 2005
O ACUSADO NU
DO PROCESSO PENAL
Andr Ribeiro Giamberardino
O que h para se lamentar o costume de se assistir ao
processo da mesma maneira como se assiste a um espe tculo
cinematogrfco .
Quando recai sobre um homem a suspeita de haver come-
tido um delito, ele entregue ad bestias, como se dizia no
tempo em que os condenados eram oferecidos como pasto s
feras. A fera, a indomvel, a insacivel fera, a multido.
1
1. Introduo
A
produo nacional na qual se baseia o presente en saio tem o roteiro
baseado na conhecida crnica de Fernando Sabino
2
, e oferece na
imagem e no lugar do homem nu uma metfora divertida, mas
contundente, dos frgeis mecanis mos pelo qual se acusa algum de um crime
e o papel exer cido pela mdia na pulverizao das garantias processuais do
indivduo.
Optou-se por estabelecer a metodologia de expor as idias e as interse-
es com acontecimentos do flme durante todo o texto, evitando, portanto,
narrar previamente a histria para em seguida abordar os respectivos parale-
los. Por este motivo, interessante que se assista ao flme antes de ler o texto.
Epistemologicamente, parte-se do giro lingustico que transformou a
flosofa contempornea, fazendo com que a linguagem deixasse de ser mero
objeto de refexo, interpos ta entre sujeito e objeto, para assumir a condio
1
CARNELUTTI, Francesco. As misrias do processo penal. Campinas: Edicamp, 2002. p. 3
2
SABINO, Fernando. O Homem nu. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 150
de funda mento de todo pensar
3
. Superados o paradigma do sujeito
4
e a floso-
fa da conscincia, embora ainda predominem na refexo jurdica nacional
5
,
reconhecem-se consequncias importantes no mbito dos critrios de valida-
o da verdade, fundados agora menos na conscincia e no sujeito e mais na
linguagem e no discurso
6
.
Desta forma, no existe um mundo em si, que inde penda da lingua-
gem; somente temos o mundo na linguagem. (...) entender que no h mundo
sem a mediao do signif cado, signifca romper com a concepo de que h
um sujeito cognoscente apreendendo um objeto, mediante um instru mento
chamado linguagem.
7
Esta, por outro lado, deve ser tomada enquanto funda-
mento para a relao entre sujeito e sujeito.
No sendo possvel aprofundar-se nesta questo, tom-la enquanto
premissa essencial para a compreenso de uma histria em que um sujeito,
completamente sem roupas, se v despido tambm de qualquer possibilidade
de comu nicao com o outro, transitando entre posies opostas na escala do
status social (de respeitado intelectual a criminoso psictico) apenas porque a
porta, sem querer, se fechou.
Afnal, se est a tratar da feio perversa que vem to mando a persecutio
criminis e a infuncia da mdia no pro cesso penal brasileiro. Na medida em
que a comunicao na complexa sociedade contempornea, com o desenvolvi-
mento da cincia e da tecnologia, deixou de ser essencialmente en tre pessoas
3
LUDWIG, Celso Luiz. Para uma flosofa jurdica da libertao: paradigmas da flosofa, flosofa
da libertao e direito alter nativo. Florianpolis: Conceito, 2006. p. 93.
4
Idem: O novo paradigma da linguagem se consolida na segunda metade do sculo XX (...),
podendo-se apontar seu desdobramento, sinteticamente, (1) como razo comunica tiva (Apel/
Habermas); (2) como razo sistmica (a la Luhmann) e, por fm, (3) como razo hermenutica
(Gadamer).
5
STRECK, Lnio Luiz. Hermenutica jurdica e(m) crise: uma explorao hermenutica da
construo do Direito. 6. ed. Por to Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 174 . evidente que
essa mu dana de paradigma vai provocar ranhuras e espanto, mormente no seio da comunidade
dos juristas. Afnal, para o jurista tradicional, inserido no paradigma epistemolgico da flosofa
da conscincia, a sua subjetividade que funda os objetos no mundo. Sempre acreditou (e
continua acreditando) que a sua descrio, isto , a sua atividade subjetiva, que faz com que o
mundo ou as coisas sejam como elas so.
6
LUDWIG, Celso Luiz. Para uma flosofa jurdica da libertao: paradigmas da flosofa, flosofa
da libertao e direito alter nativo. Florianpolis: Conceito, 2006. p. 94.
7
STRECK, Lnio Luiz. Hermenutica jurdica e(m) crise: uma explorao hermenutica da
construo do Direito. 6. ed. Por to Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 164.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 151
para ser uma comunicao atravs dos meios
8
, o fato, enquanto acontecimento
concreto, deixa de ser apre endido enquanto verdadeiro ou falso de maneira
ontolgica, mas depende da maneira como colocado por quem o apre senta e
suas infnitas possibilidades de interpretao.
Segundo Luhmann, a evoluo da sociedade e dos mo delos de comuni-
cao indissocivel, podendo-se identifcar para cada tipologia de sociedade
uma tipologia de comunica o.
9
induvidosa a predominncia na sociedade
contem pornea da comunicao de massa, que no transmite fatos ou dados
na sua faticidade pura mas antes selees, isto : eventos (Ereignisse) que se
vem acontecer deste modo mas que poderiam ser vistos de outro modo, na
medida em que tm valor de comunicao.
10
So os meios de comunicao de massa os veculos por excelncia, por-
tanto, da transmisso de informaes entre sujeitos na sociedade contempo-
rnea. No entanto, tm con tribudo enormemente para a produo do medo
em forma de espetculo, tomando a violncia urbana como um produto de
consumo.
11
O medo do crime conjunto de manifestaes culturais usado
como instrumento de dominao e perpetu ao de uma poltica autoritria
12
,
que acaba servindo de justifcativa para a inveno e a distoro de fatos; para a
su perexposio de investigados na mdia; para a legitimao de provas ilcitas
e a difuso de discursos criminolgicos limita dos a uma incondicional crena
na efccia da punio. Para a produo, enfm, de um acusado nu perante a
sociedade, despido de seus direitos e garantias processuais.
8
ZAFFARONI, Eugnio Ral. Buscando o inimigo: de sat ao direito penal cool. In. MENEGAT,
Marildo; NERI, Regina (Org.). Criminologia e Subjetividade. Rio de Janeiro: Lumen Jris, 2005.
p. 132.
9
ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e invio labilidade pessoal: uma perspectiva
jurdico-criminal. Coim bra: Coimbra Editora, 1996. p. 67.
10
LUHMANN, Vernderungen, p. 309, apud ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de
imprensa e invio labilidade pessoal: uma perspectiva jurdico-criminal. Coim bra: Coimbra
Editora, 1996. p. 67.
11
BARATA, Francesc. La violencia y los massa media. Revista Brasileira de Cincias Criminais,
So Paulo, ano 8, n. 29, p. 255-267, jan./mar.2000. p. 255.
12
PASTANA, Dbora Regina. Cultura do medo: refexes sobre violncia criminal, controle social
e cidadania no Brasil. So Paulo: Mtodo e IBCCRIM, 2003. p. 129.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 152
2. O acusado nu do processo penal
2.1. A narrao do fato na comunicao de massa
O flme, dirigido por Hugo Carvana, baseia-se na famo sa crnica de
Fernando Sabino e protagonizado por Cludio Marzo. Este vive Slvio Pro-
ena, um professor carioca espe cializado em folclore e cultura brasileira que,
prestes a embar car para So Paulo onde lanaria um livro, acaba tendo o vo
cancelado. Seduzido pela sobrinha de um amigo que estava no aeroporto (Ma-
rialva), ele acorda nu, no dia seguinte, em seu apartamento.
Aps despertar, Marialva entra no banho e Slvio, nu, vai buscar o po
deixado do lado de fora da porta, que s podia ser aberta por dentro. Esta,
subitamente, bate com o vento, dando incio a uma bizarra jornada pelas ruas
do Rio de Janeiro. Rapidamente aparecem vizinhos que, enfureci dos, perse-
guem Slvio nas escadas do prdio, chamando-o inicialmente de tarado e
logo em seguida de o assaltante nu. Escondido em um caminho, Slvio acaba
em Ipanema, onde se v obrigado a praticar alguns delitos como, por exem plo,
a tentativa de roubo do casaco de uma mulher que depois ser chamada de
vtima de tentativa de estupro e o emprstimo da bicicleta de um garoto,
que largou na praia, antes de correr para o mar.
Neste momento, a existncia de um cidado sem rou pas correndo por
Copacabana um fato, sobre o qual a popu lao, a polcia e a imprensa no
conhecem as reais causas e circunstncias. Trata-se de uma metfora, pois no
algo que acontece corriqueiramente nas grandes cidades, mas su fciente a
indicar que a identifcao de um fato enquanto cri me, e sua respectiva divul-
gao pela imprensa, prescindem de uma necessria identifcao ontolgica
com a realidade.
Em outras palavras, antes do fato em si, h o fato que narrado: com
exceo do prprio Slvio Proena, todo o mun do a sua volta j o via enquanto
perigoso criminoso correndo nu; enquanto um acusado de tentativas de roubo
e estupro.
A narrao do fato aparece como categoria central, no Cdigo de Pro-
cesso Penal, em pelo menos dois momentos decisivos: antecedendo investi-
gao preliminar e posterior mente, na aferio da tipicidade aparente para o
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 153
recebimen to, ou no, da denncia
13
. A notitia criminis, que d incio inves-
tigao policial, pode ser direta, quando esta iniciada de ofcio; ou indireta,
quando de alguma forma a notcia do crime chega ao conhecimento das auto-
ridades. Neste caso, dispe-se que a representao ou requisio dever conter
a narrao do fato, com todas as circunstncias.
14
Aps even tual instaurao
de inqurito policial, se reunidos sufcientes indcios de materialidade e au-
toria, poder ser oferecida de nncia ou queixa, que dever, por sua vez, ser
rejeitada pelo juiz se o fato narrado evidentemente no constituir crime.
15
Importa reconhecer, aqui, que prevalece o fato que narrado, sendo ne-
cessrio se considerar a subjetividade de quem narra, donde emerge a impor-
tncia dos meios de co municao em massa na construo social da realida-
de
16
. Observa-se, assim, enquanto Slvio nada no mar de Ipane ma tentando se
afastar da polcia, o dilogo entre os policiais (Uns dizem que estuprador,
outros que um concurso da TV), interceptado por jornalista que, eufrico,
determina ao reprter: Tem um cara nu atacando as pessoas, vai at o local,
pra entrar ao vivo.
No h dvidas de que os meios de comunicao cum priram e cumprem
papel fundamental na garantia da liberda de e do prprio Estado Democrtico
de Direito.
17
Fazem parte do prprio processo de socializao do indivduo,
constituindo mediaes para que se visualize o todo, perdido na complexi dade
das grandes cidades.
18
A liberdade de imprensa, por sua vez, uma derivao
do conceito de liberdade de palavra e de liberdade de pensamento, surgidos
do liberalismo poltico, com os quais integrou os denominados direitos funda-
13
Toma-se, aqui, o conceito de tipicidade aparente como uma das condies da ao penal, cf.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o contedo do processo penal, p. 147: Uma
coisa, portanto, o autor demonstrar que os fatos narrados na imputao tm, na aparncia,
credibilidade sufciente para serem considerados tpicos, algo to somente com provvel no
curso do processo; outra, a comprovao efetiva. Ver tambm, sobre o tema: SILVEIRA,
Marco Aurlio Nunes da. A tipicidade e o juzo de admissibilidade da acusao. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2005.
14
CPP, art.5, 1, a.
15
CPP, art. 43, I.
16
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./mar.
1994. p. 46.
17
VIEIRA, Lus Guilherme. O fenmeno opressivo da mdia: uma abordagem acerca das provas
ilcitas. In: DISCURSOS sediciosos. Rio de Janeiro, ano 3, n. 5/6, 1998. p. 251.
18
MELLO, Slvia Leser de. A cidade, a violncia e a mdia. Revista Brasileira de Cin cias Criminais,
n.189.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 154
mentais de primeira gerao (..) porque representariam um limite ingerncia
do poder estatal.
19
O conceito apresenta um ca rter simultaneamente individu-
al e comunitrio, enquanto di reito fundamental, por um lado; e instituio ba-
silar do Estado Democrtico de Direito, por outro
20
. Segundo Manuel da Cos ta
Andrade, s a imprensa livre emerge como instncia de actualizao da opi-
nio pblica e, para alm disso, como sal vaguarda da dignidade humana, alm
de funcionar enquanto instncia fscalizadora da administrao pblica.
21
Sob outra perspectiva, h efeitos negativos sobre a dimenso mais hu-
mana da comunicao, que aquela di reta, face-a-face, atingindo, em ltima
anlise, o princpio da confana nas relaes sociais. Se por um lado os meios
de comunicao de massa, como a televiso, signifcam um aumento das pos-
sibilidades de acesso ao conhecimento e informao, por outro privilegiam
a menos crtica e iniciti ca das linguagens: a imagem do mundo, das pessoas
e dos eventos
22
, sujeitando-se, por isso, a mecanismos incontrol veis de ma-
nipulao ligados ao carter de inter-dependncia entre os rgos de imprensa
e seus anunciantes, investido res, ou mesmo os interesses de seus proprietrios.
H dois aspectos especialmente temveis nesse sentido:
O primeiro que a mdia tem dono, paga. Um jornal
possui no s leitores como anunciantes. A publicidade
move o contedo da mdia e a torna poderosa. O contedo
informativo tem que res peitar o perfl do seu pblico, ou
forjar um perfl para ele. O mesmo acontece com o rdio
e com a televiso. Portanto temos a j uma dvida razo-
vel quanto neutralidade desses meios de co municao.
O segundo problema a presuno de existncia do ho-
mem mdio para cada meio de informao. Para que esse
modelo abstrato de recepo das mensagens, estas so
selecio nadas, aparadas, arredondadas, modifcadas.
23
Na seara da violncia e do processo penal, a informa o jornalstica
pode ser fonte de notitia criminis, quando a autoridade pblica acaba inves-
19
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Proces so penal e constituio: princpios
constitucionais do proces so penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 212.
20
ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e invio labilidade pessoal: uma perspectiva
jurdico-criminal. Coim bra: Coimbra Editora, 1996. p. 39.
21
Ibidem, p. 53.
22
Ibidem, p. 58.
23
MELLO, Slvia Leser de. A cidade, a violncia e a mdia. Revista Brasileira de Cincias Criminais,
So Paulo, ano 6, n. 21, p. 189-195, jan./mar.1998. p. 193.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 155
tigando uma informao que foi transmitida anonimamente mdia
24
. Desta
e de outras formas o jornalismo corre o risco de abandonar a pretenso de
fdedignidade da narrativa sem ignorar que esta, pura, impossvel para
assumir funo investigatria ou promover uma reconstruo dramatizada
do caso
25
. Este jornalismo investigativo, que na verdade visa entreter
26
, an-
tes que in vestigar, no hesita em atuar revelia de garantias funda mentais do
acusado e do devido processo legal. O direito informao, que implica a
recepo de informaes pelo p blico a respeito de fatos e opinies
27
, no
signifca a permis so do acesso irrestrito esfera ntima e privada do cidado
eventualmente suspeito de qualquer ato. A intimidade e a vida privada esto
protegidas pela Constituio da Repblica (art. 5, X); e tambm em tratados
internacionais e na Declarao Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ao
julgarem e con denarem, os meios de comunicao reforam preconceitos e
acabam por difundir o prprio medo atravs do qual mantm a audincia.
2.2. Mdia e opinio pblica
Quando a polcia e a imprensa chegam para procurar Slvio, que aps
sair do mar havia se escondido em uma sau na, a stira alcana seu pice. Inter-
calando falas dos jorna listas (Um estuprador, depois de atacar duas crianas,
fugiu nu pelas ruas do bairro) e do chefe da operao policial (O rato est en-
curralado. Quero o homem vivo, est certo?) com msicas dignas de flmes de
super-heri, a mediocridade com que se trata o problema da segurana pblica
no Brasil sin tetizada nas cenas da populao, imprensa e polcia armada com
metralhadoras, granadas e ces ferozes perseguindo o homem nu por entre as
ruas e muros do Rio de Janeiro.
24
VIEIRA, Ana Lcia Menezes. Processo penal e mdia. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.
219.
25
BATISTA, Nilo. Mdia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, p. 247. Para o autor, o que ocorre no Brasil ultrapassa o que se conven cionou por trial
by media, pois muito mais que infuenciar o Judicirio, os meios de comuni cao tm realizado
diretamente o julgamento, representando uma privatizao parcial do sistema punitivo.
26
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./
mar.1994. p. 39: En ese marco, el manejo sensacionalista y folletinescode la pgina policial,
encarada como un mero entretenimiento, es um gancho ms para aumentar la venta.
27
VIEIRA, Lus Guilherme. O fenmeno opressivo da mdia: uma abordagem acerca das provas
ilcitas. Discursos se diciosos, Rio de Janeiro, ano 3, n. 5/6, p. 249- 257, 1998. p. 253.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 156
As entrevistas realizadas com pedestres que observa vam a confuso (Vi
o homem! Uma coisa horrvel, um olhar estranho, parecia um monstro; Na
minha opinio, tem que linchar um cara desses; Por isso que eu sou a favor
da pena de morte) denotam a fragilidade com que se molda a opinio pblica
sobre as questes relativas violncia e segurana pblica.
A opinio pblica, defnida como o pensamento deter minante de um
ou mais grupos sobre uma questo especf ca
28
, tem papel decisivo nos pro-
cessos de criminalizao e descriminalizao. Sua construo, porm, no
ocorre livre mente
29
, na medida em que a comunicao de massa na verdade
um monlogo, assim descrito por Ana Lcia Mene zes Vieira:
Ora, a massa que tecnicamente no pode man ter dilogo
com a mdia absorve a notcia que difundida de forma
instantnea ou rpida e seus integrantes no tm tem-
po de formar uma opi nio individual. (...). A imprensa,
aps selecio nar aquele fato que entende ser mais relevan-
te, transforma-o em acontecimento procurando chamar a
ateno do grande pblico: comenta-o detalhadamente,
classifca e julga os atores do crime, e a opinio pblica
reage exigindo a con denao, como forma de justia.
30
A opinio no propriamente pblica, mas publicada, segundo a autora;
pois no refete autenticamente a opinio dos cidados, mas este o carter
atribudo pela mdia sua prpria viso dos fatos.
No mais, voltando ao flme, as opinies apontadas na entrevista podem
ser contextualizadas na cultura do medo
31
e na enorme demanda por mais
segurana pblica, fatores alimentados, segundo Hassemer, pela percepo de
uma ameaa difusa e intensa, aliada notria incapacidade do Estado em con-
28
PASTANA, Dbora Regina. Cultura do medo: refexes sobre violncia criminal, controle social
e cidadania no Brasil. So Paulo: Mtodo/IBCCRIM, 2003. p. 101.
29
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./
mar.1994. p. 38.
30
VIEIRA, Ana Lcia Menezes. Processo penal e mdia. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 58.
31
BARATA, Francesc. La violencia y los massa media. Revista Brasileira de Cincias Criminais,
So Paulo, ano 8, n. 29, p. 255-267, jan./mar. 2000. p. 256: Las clases acomodadas tienen terror a
perder una parte insignifcante de su riqueza, mientras que los trabajadores temen que les roben
lo poco que poseen y, adems, tienen miedo a perder el trabajo o simplesmente les angustia
no llegar al sueo consumista al que han sido invitados. Todos tienen medo, todos se sienten
inseguros.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 157
trolar a criminalidade
32
. No entanto, tambm este medo no est diretamente
relacionado ameaa real da criminalidade e da violncia, mas sim percep-
o de tal ameaa pela coletividade
33
. Conclui-se, nesse sentido, que no se
pode dar legitimidade opinio pblica justamente por ser pblica apenas
sua propagao. Essa opinio no traduz o pensamento de toda a sociedade, e
mesmo aqueles que comungam desta opinio podem estar reproduzindo uma
ideologia de dominao.
34
A mdia produz um senso comum criminolgico, que parte de uma
irrestrita legitimao da pena como modelo ef caz da soluo de confitos
35
,
tomando esta como recurso epistemolgico para compreenso do mundo:
No h debate, no h atrito: todo e qualquer dis curso
legitimante da pena bem aceito e imedia tamente incor-
porado massa argumentativa dos editoriais e crnicas.
Pouco importa o fracasso histrico real de todos os pre-
ventivos capazes de serem submetidos constatao em-
prica, como pouco importa o fato de um retribucionismo
puro, se que existiu, no passar de um ato de f (...)
36
.
Nos editoriais dos jornais trava-se uma disputa de sigual entre o acuado
discurso criminolgico acadmico e o discurso criminolgico miditico
37
. A
necessidade de certo respaldo cientfco para sua atuao tem levado os meios
de comunicao a buscarem o suporte de especialistas
38
, ou seja, profssionais
credenciados pela carreira acadmica ou algum cargo pblico que so convo-
32
HASSEMER, Winfried. Segurana Pblica no Estado de Direito. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 2, n. 5, p. 56-69, jan./mar. 1994. p. 56.
33
Ibidem, p. 56. Tal percepo, por sua vez, esta diretamente relacionada ao papel cumprido
pela mdia: Apesar de os meios de comunicao no serem os nicos a apresentar imagens
deformadas da criminalidade real e difundirem o medo, so, certamente, fator decisivo na
generalizao destes fenmenos nocivos. CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en
la expan sion del control penal en latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So
Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./mar.1994. p. 227. PASTANA, Dbora Regina. Cultura do medo:
refexes sobre violncia criminal, controle social e cidadania no Brasil. So Paulo: Mtodo/
IBCCRIM, 2003, p. 103.
34
PASTANA, Dbora Regina. Cultura do medo: refexes sobre violncia criminal, controle social
e cidadania no Brasil. So Paulo: Mtodo/IBCCRIM, 2003. p. 103.
35
BATISTA, Nilo. Mdia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 11, n.42, p. 242-263, jan./mar. 2003.
36
Ibidem, p. 245.
37
Ibidem, p. 248. Observa-se que se a universidade no consegue infuen ciar o discurso da mdia,
a recproca, infelizmente, no verdadeira.
38
Ibidem, p. 249-251.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 158
cados a fundamentar o noticirio. exatamente o que ocorre no flme, quan-
do a transmisso da busca por Slvio interrompida pela entrevis ta com um
psicanalista, para quem o homem nu representaria a revolta do ser humano
contra a civilizao, a volta do ho mem natural. A presena destes profssio-
nais, muito frequen te, vem apenas reforar a natureza impositiva da transmis-
so de informaes ao grande pblico.
2.3. O homem nu e a reao social
Segundo Nilo Batista, a relao entre mdia e sistema penal deve ser
compreendida a partir da coincidncia entre os sentimentos produzidos pela
postura dos meios de comu nicao e a demanda por vigilncia e punio que
caracteriza o Estado punitivo capitalista.
Tal cumplicidade fca ntida quando os policiais desis tem de encontrar
Slvio, escondido em um lato de lixo, e che ga a ordem do chefe para continu-
arem a perseguio sob o argumento de que se a matria no entrar ao vivo,
entra no jornal da noite.
Os meios de comunicao social de massa so, de fato, indispensveis
para o exerccio do poder penal
39
, sendo muitas vezes os criadores do clima
de insegurana pblica
40
que possibilita o ambiente necessrio ao casusmo
legislativo traduzido, sempre, em leis mais severas. A crena de que a intensi-
fcao da criminalizao e da punio uma resposta necessria confere ao
sistema penal um carter quase reli gioso, sendo as imperfeies do sistema
penal vistas como produtos da corrupo humana no trato da f
41
.
Em outro sentido, o discurso da criminologia crtica, com o enfoque
delimitado vertente conhecida como teoria da reao social, ou labelling
aproach, explica serem as nor-mas sociais aqueles comportamentos aprovados
39
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema
penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 127.
40
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./
mar.1994. p. 47.
41
BATISTA, Nilo. Mdia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 11, n.42, p. 242-263, jan./mar. 2003. p. 246.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 159
e comparti lhados pela maioria da populao
42
, sendo desviada aquela conduta
que se distancia das expectativas ou foge da mdia estatstica. Nesse sentido,
todas as pessoas so desviadas, de forma mais ou menos acentuada, e a respos-
ta da coleti vidade a este desvio que se denomina reao social
43
, que pode
ser de tolerncia, aprovao ou desaprovao: no lti mo caso, so postos em
prtica os mecanismos de controle social, no intuito de prevenir e reprimir o
desvio.
Desta forma, o processo de criminalizao passa por trs direes:
44
seleo das condutas a serem consideradas delitivas; seleo dos indivduos,
dentre os que praticaram determinada conduta considerada delitiva, a serem
efetiva mente criminalizados; e por fm a internalizao, por parte do indivduo
criminalizado, do seu papel desviante, aceitando a etiqueta negativa de crimi-
noso, o que provoca a reincidncia e a transformao da prpria vida em uma
carreira crimino sa.
Nesse sentido, a teoria do etiquetamento explica o pro cesso de rotulao
no qual atribui-se aos indivduos etique tas sociais, que podem ser positivas
ou negativas, induzindo comportamentos, criando expectativas e produzindo
grupos subculturais. Partindo da premissa de que cada pessoa per cebe a si
mesma como sente que os outros a vem, defne -se, a partir de conceito de
William Payne, as etiquetas nega tivas como corredores que induzem e ini-
ciam uma carreira desviante e como prises que constrangem a uma pessoa
dentro do papel desviante
45
.
Este o parmetro para compreenso dos delitos co metidos por Slvio
desde as tentativas de roubo de um casa co e uma bicicleta, at a simulao
de um sequestro dentro de um carro a fm de que a vtima o levasse at sua
casa. Seu comportamento, aliado ao aspecto crimingeno dos meios de co-
42
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 11:
A validade destas normas sociais no depende nem de que elas sejam justas, nem de que sejam
inteligentes, nem de que sejam racionais. A sua validade depende do fato de que signifcam um
padro de juzo, ou o que o mesmo, expectativas da media da populao.
43
Ibidem, p.14.
44
Ibidem, p.103.
45
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro: Forense,1983. p.103-
104.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 160
municao em massa que, em ltima anlise, reproduzem violncia
46
, uma
contundente metfora, em forma de stira, de um processo que na vida real
por demais injusto e cruel.
3. Consideraes fnais
Carnelutti, h muito, percebeu que to logo surge a suspeita, o acusa-
do, sua famlia, sua casa, seu trabalho, so inquiridos, requeridos, examina-
dos, desnudados, na presen a de todo mundo.
47
O sentido do homem nu,
no contex to do processo penal brasileiro e das questes levantadas, acima
de tudo de um acusado cujos direitos so pulverizados pela super exposio
perante a opinio pblica.
H um esforo gigantesco de inveno da realidade por parte do saber
jurdico e dos meios de comunicao de massa, atravs da seleo de informa-
es sobre a criminali dade que manipula a conscincia social.
48
Para Zafaro-
ni, tal esforo deve-se necessidade de se evitar a deslegitimao do sistema
penal; que pode ser desencadeada pela simples percepo emprica de seus
efeitos e contradies.
49
No h, efetivamente, um confito entre a livre mani festao do pensa-
mento e a plena liberdade de comunicao (arts. 5, IV e IX da CR), perante o
devido processo legal, a presuno de inocncia e o direito intimidade (art.
5, X, LIV, LVII da CR). A convivncia entre os preceitos deve ser fruto de um
amadurecimento da democracia, o qual est-se longe e se continuar distante
enquanto a segurana for uma obsesso prevalente sobre a busca de justia.
50
46
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema
penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 131: basta que a televiso d exagerada publi cidade a
vrios casos de violncia ou crueldade gratuita para que, imediatamente, as de mandas de papis
vinculados ao esteretipo assumam contedos de maior crueldade e, por conseguinte, os que
assumem o papel correspondente ao esteretipo ajustem sua conduta a estes papis.
47
CARNELUTTI, Francesco. As misrias do processo penal. Campinas: Edicamp, 2002. p. 51.
48
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n.5, p.37-54, jan./
mar.1994. p. 53.
49
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema
penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 38.
50
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: LPM, 1999.
p. 81: Cada vez que um delinquente cai varado de balas, a sociedade sente um alvio na doena
que a atormenta. A morte de cada mal vivente surte efeitos farmacuticos sobre os bem-viventes.
A palavra farmcia vem de phr makos, o nome que os gregos davam s vtimas humanas nos
sacrifcios oferecidos aos deuses nos tempos de crise.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 161
Preocupa a ausncia de propostas progressistas para a segurana p-
blica, questo sempre reduzida a mais crimes e mais punio.
51
Sem buscar as
causas, mas reforando o controle, as transformaes do capitalismo contem-
porneo acabam produzindo novas e intensas formas de vigilncia, presente
na intimidade da pessoa e nas coisas suspeitas, seja qualquer valise no aero-
porto, seja o embrulho portado por um pobre no shopping; as interceptaes
telefnicas of ciais
52
, e assim por diante.
Observa Hassemer, sobre o assunto, que mtodos de investigaes tais
como escuta telefnica, observao poli cial, apuraes secretas e captao de
dados estendem-se necessariamente e em regra a terceiros no-partcipes, at
ento uma ntida exceo
53
, fcando ntida a tendncia de legitimao de pro-
vas produzidas de forma ilcita, admitidas no processo apenas pela manipula-
o mais uma vez da linguagem.
O flme se encerra, por fm, com Slvio chegando em casa e fagrando
sua esposa o traindo com seu prprio edi tor. Ele at ento seu amigo tam-
bm est nu; e acaba empurrado para fora por um Slvio extremamente irrita-
do. Eis que quando chega a polcia, com helicpteros, granadas e atiradores no
telhado, o cerco se arma para capturar o novo homem nu, que para todos a
imprensa, a polcia e a popu lao o mesmo: o assaltante e estuprador de
Ipanema.
Sem rosto, afnal; sem individualidade: basta estar nu, sendo suspeito,
indiciado ou investigado, para ser con denado sumariamente neste pas alheio
s garantias consa gradas em sua prpria Constituio. Pois enquanto Slvio se
veste em seu apartamento, o novo homem nu encontra um muro muito alto
em sua fuga e termina capturado.
Iluminado pelos holofotes; perante a polcia, centenas de pessoas e a
reportagem ao vivo da televiso; e carregando a responsabilidade de crimes e
51
Ibidem, p. 81: Cada vez que um delinquente cai varado de balas, a sociedade sente um alvio
na doena que a atormenta. A morte de cada mal vivente surte efeitos farmacuticos sobre os
bem-viventes. A palavra farmcia vem de phr makos, o nome que os gregos davam s vtimas
humanas nos sacrifcios oferecidos aos deuses nos tempos de crise.
52
BATISTA, Nilo. Mdia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 11, n.42, p. 242-263, jan./mar. 2003. ANDRADE, Vera Regina Pereira
de (Org.). Verso e reverso do controle penal, p. 154.
53
HASSEMER, Winfried. Segurana Pblica no Estado de Di reito. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 2, n. 5, p. 55-69, jan./mar. 1994. p. 61.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 162
esteretipos sobre os quais no fazia nem idia, o comandante d a signifcati-
va ordem fnal: Mos na cabea!
Referncias
ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e invio labilidade pessoal: uma
perspectiva jurdico-criminal. Coim bra: Coimbra Editora, 1996.
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro. Forense,
1983.
BARATA, Francesc. La violencia y los massa media. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 8, n. 29, p. 255-267, jan./mar.2000.
BATISTA, Nilo. Mdia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de
Cincias Criminais, So Paulo, ano 11, n.42, p. 242-263, jan./mar. 2003.
________. Os sistemas penais brasileiros. ANDRADE, Vera Regina Pereira de (Org.).
Verso e reverso do controle penal: (des) aprisionando a sociedade da cultura punitiva.
Florianpolis: Fundao Boiteux, 2002. p. 147-158.
CARNELUTTI, Francesco. As misrias do processo penal. Campinas: Edicamp, 2002.
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Proces so Penal e Constituio:
princpios constitucionais do proces so penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
CERVINI, Ral. Incidencia de las mass media en la expan sion del control penal en
latinoamrica. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n. 5, p. 37-54,
jan./mar.1994
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o contedo do processo penal. Curitiba:
Juru, 1989.
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre:
LPM, 1999.
HASSEMER, Winfried. Segurana Pblica no Estado de Di reito. Revista Brasileira de
Cincias Criminais, So Paulo, ano 2, n. 5, p. 55-69, jan./mar.1994.
LUDWIG, Celso Luiz. Para uma flosofa jurdica da libertao: paradigmas da flosofa,
flosofa da libertao e direito alter nativo. Florianpolis: Conceito, 2006.
MELLO, Slvia Leser de. A cidade, a violncia e a mdia. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, So Paulo, ano 6, n. 21, p. 189-195, jan.mar.1998.
PASTANA, Dbora Regina. Cultura do medo: refexes sobre violncia criminal, controle
social e cidadania no Brasil. So Paulo: Mtodo e IBCCRIM, 2003.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 163
SABINO, Fernando. O Homem nu. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960.
SILVEIRA, Marco Aurlio Nunes da. A tipicidade e o juzo de admissibilidade da acusao.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
STRECK, Lnio Luiz. Hermenutica jurdica e(m) crise: uma explorao hermenutica
da construo do Direito. 6. ed. Por to Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
TORON, Alberto Zacharias. Imprensa investigativa ou insti gativa?. Revista CEJ,
Braslia, n. 20, p.9-16, jan./mar. 2003.
VIEIRA, Ana Lcia Menezes. Processo penal e mdia. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2003.
VIEIRA, Lus Guilherme. O fenmeno opressivo da mdia: uma abordagem acerca das
provas ilcitas. Discursos se diciosos, Rio de Janeiro, ano 3, n. 5/6, p. 249- 257, 1998.
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do
sistema penal. Rio de Janeiro: Re-van, 2001.
O SEGREDO
DE VERA DRAKE
(E de milhares de mulheres brasileiras)
Carmen Hein de Campos
Cena fnal
I
nglaterra, anos 50. Em uma noite fria de novembro Vera Drake, faxineira,
em torno de 50 anos, e sua famlia, seu marido - mecnico, sua flha -
trabalhadora em uma fbrica de lmpadas e seu flho - alfaiate, esto reunidos
em torno da mesa de jantar, da modesta casa onde vivem, para celebrar o noivado
da flha. A polcia bate porta e pede para falar com Vera. Em seu quarto, Vera
diz ao inspetor: eu sei por que voces esto aqui . O inspertor pergunta: Por que
estamos aqui? Pelo que eu fao. E o que sra. faz? Eu ajudo jovens a voltarem
a menstruar. A sra. pratica aborto? No, no isso o que eu fao. Isso como
vocs chamam. Eu ajudo jovens a lidarem com o que no conseguem.
Vera foi denunciada pelo diretor de um hospital porque uma das jovens
que ajudou foi internada com infeco grave. Vera presa, processada e con-
denada a 2 anos e 6 meses pela prtica de aborto.
O segredo de Vera Drake ento revelado e sua pri so transforma-se
numa tragdia pessoal e familiar.
1. Introduo
O drama vivido por Vera Drake e pelas mulheres ingle sas obrigadas, na
dcada de 50, a recorrer a abortos clandes tinos, j no faz parte mais do coti-
diano da vida das inglesas. Passados mais de 50 anos, as mulheres na Inglaterra
adqui riram o direito de praticarem aborto em segurana, atravs do sistema de
sade pblica. Muito diversa a situao enfren tada pelas mulheres brasileiras.
No Brasil, estima-se que, s em 2005, foram pratica dos, insegura e clan-
destinamente, 1.054.243 abortos.
1
Em 2006, o Ministrio da Sade atendeu
1
Monteiro, Mrio F.G & Leila Adesse. A Magnitude do aborto no Brasil: uma anlise dos
resultados de pesquisa no Brasil. Instituto de Medicina Social do Rio de Janeiro: 2007 Disponvel
em: . Acessoem: <www.ipas.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2007.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 166
220.000 curatagens ps-aborto.
2
Abortamentos inseguros provocam srios
riscos sade da gestante como, por exemplo, a perda do tero, he morragias
e morte.
3
Estudos demonstram que para cada 03 nascidos vivos, existe um
aborto
4
. O aborto ainda a quarta causa de mortalidade materna.
5
Os dados
falam per se: o abortamento no Brasil, no s acontece fora do sistema de sa-
de como tambm fora do sistema jurdico. Os dois nicos permissivos legais -
gestao resultante de estupro e risco de vida da gestante
6
- so absolutamente
insignifcantes frente ao massivo nmero de abortamentos ilegais. A magnitu-
de dos dados demonstra o grave problema enfrentado pelo sistema nico de
sade e a total inefccia da preveno pela crimina lizao.
Esses dois fatores conjugados - aborto como proble ma de sade pbli-
ca e inefccia da conteno pela crimina lizao - recentemente contribuiram
para que pases latinos muito catlicos como o Mxico (Cidade do Mxico) e
a Co lmbia ampliassem as possibilidades de abortamento legal. Na Colombia,
o aborto era ilegal em todas as circunstncias. No entanto, a Suprema Corte
da Colmbia interpretou que o aborto em casos de estupro, risco de vida da
gestante, inces to, inseminaao forada e em casos de malformao fetal cons-
tituticional
7
. Na cidade do Mxico, a assembleia legislati va votou pela legali-
dade do aborto em qualquer circunstncia, se realizado em at 12 semanas.
8
A
Cidade do Mxico at en to permitia o aborto somente em casos de estupro,
risco de vida da gestante ou em casos de severa malformao fetal.
Em Portugal, atravs de referendo
9
, os portugueses concordaram com
a proposta do Parlamento de ampliar as possibilidades de abortamento legal
em qualquer circunstn cia, se realizado dentre as 10 semanas de gestao.
Anterior mente, o aborto era restrito a 12 semanas em caso de risco vida da
2
TEMPORAO, Jos. Entrevista. Folha de So Paulo , So Paulo, 9 abr.2007
3
FAUNDES, Anbal; BARZELATTO, Jos. O Drama do aborto: em busca de um consenso. So
Paulo: Komedi, 2004.
4
Monteiro, Mario e Leila Adesse. Nota 2.
5
BRASIL. Ministrio da Sade. Disponvel em: < www.portal.saude.gov.br>
6
Cdigo Penal Brasileiro - Art. 128 - No se pune o aborto praticado por mdico: I - se no
h outro meio de salvar a vida da gestante; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto
precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.
7
Suprema Corte da Colombia - Deciso C-235/2006. In. Womens Link Worldwide. Spain: 2007.
8
Suprema Corte da Colombia - Deciso C-235/2006. In. Womens Link Worldwide. Spain: 2007.
9
O referendo popular em Portugal foi realizado no dia 11 de fevereiro de 2007. Disponvel em:
<http://www1. folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u60812.shtml>. O projeto de lei aprovado
pelo Parlamento Portugues foi promulgado pelo presidente em 10 abril de 2007.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 167
me, sua sade fsica ou mental, at s 16 semanas em casos de estupro e at
s 24 semanas se o feto tivesse doenas incurveis ou malformaes.
Na Inglaterra, onde se passa o flme Vera Drake, o aborto legal desde
1967.
10
Na Amrica Latina, a maior oposio descriminali zao do aborto est
ligada a setores religiosos. A Igreja Ca tlica representa talvez a voz mais forte
entre os discursos fundamentalistas. No entanto, interessante observar que,
se por um lado o discurso catlico contra o aborto torna-se mais radical, por
outro v-se um movimento, tanto legislativo quanto jurisprudencial, pelo alar-
gamento dos permissivos le gais. Pode-se argumentar que o recrudescimen-
to da posio da Igreja Catlica pode ser atribudo perda de espao de seu
discurso anti-aborto na sociedade. Por exemplo, mesmo diante da ameaa de
excomunho feita pela Igreja, os parla mentares mexicanos no se intimidaram
e aprovaram a legis lao favorecendo o abortamento.
11
O mesmo se passou em
Portugal, onde a maioria da populao votou pelo Sim. No entanto, nos Esta-
dos Unidos, o governo Bush esfora-se por restringir procedimentos mdicos
para a realizao do abor
12
e reverter a histrica deciso da Suprema Corte
America na em Roe v. Wade.
13
No Brasil, o tema do aborto no novo
14
. No entanto, a partir de 2004, as
feministas em torno da Campanha 28 de Setembro -pela legalizao do aborto
na Amrica Latina e Caribe - passaram a a defender o direito de as mulheres
in terromperem uma gravidez indesejada com o seguinte lema: Aborto - as mu-
lheres decidem, a sociedade respeita, o Esta do garante
15
. Desde ento, o mo-
10
O Abortion Act 1967 discriminalizou o aborto realizado at 28 semanas. Em 1990, atravs
de emenda, o prazo para realizao do aborto foi reduzido para 24 semanas, em algumas
circunstncias, face s estatsticas que demostravam a baixssima realizao de abortos dentro
das 28 semanas.
11
BBC Brasil. Disponvel em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2007/04/070424_
mexicoabortoaprova_ ac.shtml> Acesso em: 19 jul. 2007
12
Em 2003, o Presidente George Bush sancionou a lei Partial-Birth Abortion Ban Act
limitando alguns procedimentos mdicos de realizao do aborto tais como o D&E (dilatao e
esfaziamento). Ver: GREENE, Michael; ECKER, Jefrey. Abortion, health and the law. Te New
England Journal of Medicine, v. 350 n.2, p. 184-186, 2004.
13
Roe v Wade. v. 410 n. 113, 1973.
14
A luta pela discriminalizao do aborto no Brasil um dos principais eixos do feminismo desde
a dcada de 70. Igualmente, a implantao de servios de aborto legal a partir da dcada de 1990
tambm se constituiu em uma luta pela afrmao do direito sade das mulheres.
15
Disponvel em: < www.articulacaodemulheres.org.b>
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 168
vimento feminista tem reno vado esforos para discriminalizar o aborto.
16
Por
outro lado, o ajuizamento da Arguio de Descumprimento de Preceito Fun-
damental
17
(ADPF) pela Confederao dos Trabalhadores de Sade (CNTS)
em parceira com a Anis
18
, impulsionou a discusso em torno da (i)legalidade
do aborto nos casos de anencefalia. Entretanto, se por um lado a ADPF preten-
de am pliar os permissivos legais nos casos de anencefalia, o que sem dvida
importantssimo face absurda possibilidade de imposio de pena, ela no
resolve o problema da ilegalidade dos abortos no pas.
O flme Vera Drake ilustra com preciso como as con sequncias da ile-
galidade do aborto atigem os mesmos se guimentos sociais em qualquer parte
do mundo. Em geral, so as mulheres jovens e pobres que se submetem a abor-
tos que pem em risco sua sade e sofrem com a falta de aces-so a informaes
sobre sade sexual e reprodutiva, mtodos para preveno gravidez indeseja-
da ou em relaes assi mtricas de gnero onde se impe a vontade do parceiro.
Em contraste, jovens ricas procuram clnicas clandestinas que oferecem aborto
a preos altssimos, mas com mais seguran a. Essa diferenciao na condio
econmica responsvel pelos riscos sade das mulheres de classes sociais
menos favorecidas e pelos gastos do sistema nico de sade com o ps-aborta-
mento, tornando a ilegalidade ainda mais perver sa.
16
As feministas participaram ativamente das tentativas de aprovao do PL 1135/91 desar quivado
em 2006 pela ento, deputada Jandira Feghali. Igualmente, contribuiram para que o Conselho
Nacional dos Direitos das Mulheres apresentasse Secretaria de Polticas para as Mulheres um
anteprojeto de lei discriminalizando o aborto. O anteprojeto foi encaminhado ao Congresso
Nacional pela Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres em 2006. Mais recentemente,
as declaraes do atual Ministro da Sade, Jos Gomes Temporo e do Presidente da Repblica
pelo tratamento do aborto como uma questo de sade pblica foram tambm apoiadas
pelas feministas. Disponvel em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/04/12/
materia.2007-04-12.4547622866/view >
17
ADPF 54/2004 -Ajuizada em 16/06/2004 pela Confederao dos Trabalhadores de Sade atravs
do advogado Luis Roberto Barroso. A ao argumenta que a antecipao teraputica do parto
no pode ser considerada aborto, mas um procedimento mdico necessrio integ ridade fsica
e emocional da gestante. O Ministro Marco Aurlio em 01.07.2004 liminarmente garantiu o
direito, no entanto a liminar foi cassada pelo Pleno do STF em 27/10/2007. At a presente data,
o Supreme Tribunal Federal no julgou o mrito da ao.
18
Anis - Instituto de Biotica e Direitos Humanos uma organizao no governamental que
tem se destacado na defesa do aborto, principalmente em virtude das posies defen didas por
Dbora Diniz.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 169
Se desde 1967 o aborto legal na Inglaterra, no Bra sil desde 1940 as
mulheres sofrem com as consequcias do proibicionismo. Milhares de Veras
Drakes e de jovens po bres submetem-se clandestinidade de um aborto inse-
guro face ilegalidade do aborto e s omisses do poderes es tatais. O alarman-
te nmero de abortos estimados no pas
19
um dado que per se chama res-
ponsabilidade todos os poderes constitudos. No entanto, o Poder Executivo,
at hoje no enfrentou o tema do aborto como uma problema de sa de pblica
e verdadeira pandemia no pas
20
, embora recen temente o Ministro da Sade
tenha declarado que o aborto deve ser tratado como um problema de sade
pblica. J o Poder Legislativo omite-se e no promove as reformas legis lativas
necessrias para cuidar da sude da mulher
21
. Por sua vez, o Poder Judicirio
reluta em interpretar os dispositivos penais de acordo com os direitos funda-
mentais e com os tra tados internacionais de proteo dos direitos humanos
das mulheres.
22
Estudos que relacionam criminalizao e sade pbli ca demonstram
seus efeitos perversos e opostos em temas que envolvem epidemias tais como
a Aids. Por exemplo, em uma vasta pesquisa realizada por Lazzarine (2002)
nos Es tados Unidos, entre 1986 e 2001, para avaliar os efeitos da existncia de
legislao criminal nos vrios estados america nos e sua capacidade de impe-
dir a transmisso de doenas sexualmente transmissveis, incluindo HIV/Aids,
demonstrou que a criminalizao nesses casos pequena, que ela no impede
comportamentos de risco e que no previne contra a transmisso de doenas
23
.
Por exemplo, metade dos es tados americanos tem legislao proibindo com-
portamentos que exponham outras pessoas infeco de HIV/Aids. Essa le-
gislao, no entanto, no impede a realizao do comporta mento proibido pela
lei
24
. Em outros casos, a criminalizao pode ter efeito oposto, como impedir
que as pessoas realizem testes para saber se so ou no portadores do vrus
25
.
19
Ver nota 2.
20
Ver nota 15.
21
Embora o PL 1135/91 que descriminaliza o aborto tramite desde 1991, no conseguiu ser
pautado para votao em virtude da oposio de deputados ligados a setores religiosos.
22
Ver nota 18.
23
LAZZARINI, Zita; BRAY, Sarah; BURRIS, Scott. Evaluating the Impact of Criminal Laws on
HIV Risk Behavior. Journal of Law, Medicine and Ethics, v. 30, p. 239-253, 2002.
24
Ibidem.
25
GOSTIN, Lawrence. Te Aids Pandemic: complacency, injustice and unfulflled expec tations.
Chapel Hill: University of North Caroline Press, 2004. p.195.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 170
No Brasil, podemos tomar como exemplo a criminali zao do uso de
substncias psicoativas, que tem merecido crtica por parte de juristas
26
face a
sua absoluta inefccia no que se refere preveno e seus efeitos danosos sobre
a sade dos usurios, impedidos de procurar assistncia mdi ca ou submetidos
a tratamentos inadequados. A proposta de reduo de danos aos usurios de
drogas ilictas reconhece que a criminalizao no interrompe o processo de
consumo, ao contrrio, produz efeitos nefastos sobre os usurios.
27
Exatamente o reconhecimento desses efeitos danosos sobre sade dos
usurios fez com que o legislativo aprovas se a Lei 11.343/2006 impedindo o
aprisionamento de usurios de drogas no pas.
28
O mesmo pode ser dito sobre o aborto. A ilegalidade do aborto trans-
forma-o em um comportamento de alto risco para as mulheres pois realizado,
na maioria das vezes, sob condies inadequadas e por pessoas sem a devida
quali fcao. A Organizao Mundial de Sade (OMS) defne o aborto de risco
como um procedimento para interromper uma gravidez indesejada, realizado
por pessoas que no tem as habilidades necessrias ou em um ambiente que
no tem os padres mdicos mnimos, ou ambos.
29
Comportamentos considerados de risco, mas em ge ral, individualmente
praticados, tais como consumo de drogas ilcitas e aborto implicam, primeira-
mente, risco para o/a prati cante. A criminalizao desses comportamentos no
impede sua realizao, mas atua como vetor da ilegalidade. A possi bilidade de
dano a terceiros mnima e no justifca o uso do direito penal para sua con-
teno. evidente que estes com portamentos devem ser tratados no mbito
da sade pbli ca e no no mbito criminal como recomenda a Organizao
26
KARAM, Maria Lcia. Novos caminhos para a questo das drogas. In: DE CRIMES, penas e
fantasias. 2. ed. Rio de Janeiro: Luam, 1993.
27
Ministrio da Sade lanou em 2004 sua Poltica para Ateno Integral aos Usuri os de Alcool e
Outras Drogas. Disponvel em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/ pdf/A%20politica.
pdf> Acesso em: 02 jun. 2007.
28
A Lei 11.343 de 24/08/2006 Institui o Sistema Nacional de Polticas Pblicas sobre Drogas
-Sisnad; prescreve medidas para preveno do uso indevido, ateno e reinsero social de
usurios e dependentes de drogas; estabelece normas para represso produo no autorizada
e ao trfco ilcito de drogas; defne crimes e d outras providncias. No entro no mrito da
discusso da lei porque no objeto deste artigo.
29
WHO -Organizao Mundial de Sade - Te prevention and management of unsafe abortion.
Report of a Technical Working Group. Geneva: 1992, p.5. Disponvel em: <http://whqlibdoc.
who.int/hq/1992/WHO_MSM_92.5.pdf> Acesso em: 2 jun. 2007.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 171
Mundial de Sade e a farta critca por parte de criminlogos
30
, mdicos
31
e fe-
ministas
32
no pas.
Particularmente no caso do aborto, reclama-se o uso da legislao penal
para a proteo do feto. No entanto, os elevados indces de abortos pratica-
dos clandestinamente de monstram que a proteo ao feto no realizada pelo
siste ma de justia criminal. Se a pretendida proteo ao feto no acontece,
ento, qual o signifcado da proteo penal?
Aborto e Direito Penal
A Constituio reconhece a dignidade da pessoa hu mana como fun-
damento do estado e a inviolabilidade da vida dos brasileiros e brasileiras
33
.
A tutela penal da vida tem como premissa a proteo da pessoa humana
34
. O
direito penal pro tege a vida da pessoa em grau mximo e em grau menor a
expectativa de vida
35
. No entanto, quando em discusso a proteo do embrio
ou do feto, a proteo da pessoa hu mana, mais precisamente, a vida das mulhe-
res, desaparece do cenrio argumentativo. Em geral, a discusso em torno da
proteo penal ao aborto tem sido restrita proteo dos interesses do feto ou
embrio ou contraposta aos interesses das mulheres. No raro, o feto tratado
como fosse um ser independente da mulher, no relacionado ao seu corpo, ao
seu ao desejo e sua vontade; como se os seus interesses pudessem ser des-
membrados dos interesses da mulher que o carrega no tero. Essa ciso entre
o feto e a mulher gestan te signifcativa, porque ela que transforma o feto em
um sujeito autnomo, igualvel ao sujeito mulher e, muitas vezes, com interes-
ses superiores aos da gestante. Os casos de ne gao de interrupo da gestao
de fetos anenceflicos so um perfeito exemplo da imposio dos interesses de
um feto absolutamente invivel sobre os direitos sade fsica, men tal e auto-
30
Ministrio da Sade A poltica do Ministrio da Sade para a ateno integral dos usurios de
alcool e outras drogas. BRASIL. Ministrio da Sade, 2004, 2. ed., rev. ampl. Ainda, KARAM,
Maria Lcia. Novos caminhos para a questo das drogas. In: DE CRIMES, penas e fantasias. 2.
ed. Rio de janeiro: Luam, 1993.
31
Anbal Fandes e Jos Barzelatto. Obra citada, nota 4.
32
LINHARES, Leila. O movimento feminista e a descriminalizao do aborto. Revista Es tudos
Feministas. Rio de Janeiro, v. 5, n.2, 1997.
33
Artigo 1, III da Constituio da Repblica de 1988 e artigo 5. Caput, respectivamente.
34
No desconheo as posies de certos setores, principalmente religiosos, que reclamam a
proteo da vida desde a concepo. No entanto, no comungo deste entendimento.
35
Por exemplo- Homicdio simples (artigo 121): pena: recluso de seis a vinte anos. Aborto (art.
124) Pena: deteno de um a tres ano. Cdigo Penal Brasileiro.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 172
nomia da gestante
36
. Esse desaparecimento do feminino no discurso jurdico
sobre o aborto nega o pressu posto de que a proteo constitucional da vida das
mulheres um valor fundamental e ignora que a tutela penal da vida humana
recebe diferente valorao no ordenamento jurdico, razo pela qual os tipos
penais de homicdio, infanticdio e aborto so diferentemente sancionados
37
.
A ponderao de valores tem como ponto de partida o ser humano j
concebido, a partir do qual erradiam-se as demais tutelas jurdicas. Isso no
signifca negar proteo ao feto, mas admitir que sua proteo jurdica in-
ferior da vida j constituda. Igualmente, no signifca admitir que a tutela
penal a forma mais adequada de proteger o feto. Conside rando a dependn-
cia do feto vida da mulher, no vislumbro nenhuma possibilidade de dis-
cutir sua proteo como um ser a parte, um ser em abstrato que possa existir
independente mente da gestante. A proteo dessa expectativa de vida est inti-
mamente relacionada e condicionada vida da mulher, enquanto encontra- se
no tero materno. Uma suposta neu tralidade a partir da discusso em abs-
trato da norma penal, na verdade, busca igualar ou sobrepor os interesses do
feto e obscurecer os direitos das mulheres em concreto.
38
Por isso, parto do pressuposto de que a discusso so bre a utilizao do
direito penal para a proteo dos interes ses do feto remete, primeiramente,
ao aspecto da legitimida de do estado interferir sobre o corpo, a automia e o
direito de auto-determinao reprodutiva das mulheres. legtima essa inter-
ferncia em nome da proteo dos interesses do feto? Se legtima, at aonde
pode o estado ir na proteo do feto sem violar os direitos fundamentais das
mulheres, principalmente de decidir quando, como e quantos flhos ter?
Por outro lado, alm desse questionamento, deve-se adicionar interro-
gantes referentes efccia dessa interfe rncia estatal na persecuo de seu fm.
Ou seja, , de fato, o feto protegido pela lei restritiva? Alm disso, quais so os
custos sociais da penalizao do aborto? H outros meios atravs dos quais
seria possvel atingir o mesmo resultado com custo social menor?
36
Exemplo mximo dessa interpretao encontrada no HC -STJ 32.159/2004 RJ (2003/0219840-
5). Em sentido contrrio merece destaque o voto do ministro Joaquim Bar bosa no HC 84025-6
RJ (2004) onde refuta a interpretao dada pela Ministra Laurita Vaz no HC 32.159/2004.
37
Artigo 121 - Homicdio simples. Pena: recluso de seis a vinte anos. Infanticdio - Art. 123 -
Pena: deteno, de dois a seis anos. Aborto - Art. 124 - Pena: deteno de um a trs anos.
38
Ver HC 32.159-6 RJ (2003/0219840-5) Em sentido contrrio, ver HC 84.025-6 RJ - Rela tor: Min.
Joaquim Barbosa.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 173
As diversas legislaes sobre o aborto demonstram como a ponderao
de valores varia enormemente. Por exem plo, o aborto pode ser realizado, sem
maiores restries, em pases como a Austrlia, Canad, Dinamarca, Sucia e
Suia. Isso signifca dizer que esses pases no protegem a vida do feto? Certa-
mente no. Signifca dizer que a autonomia repro dutiva das mulheres respei-
tada e que o feto protegido por outras polticas sociais.
39
A utilidade da pena no caso do aborto um non sen se. A ameaa da
punio no impede a prtica do aborto. Por outro lado, a baixa punibilidade
do aborto revela tanto uma aceitao por parte do sistema de justia criminal
quanto uma aceitao social face baixa incidncia de denncias. Em estudo
referente a processos judiciais em casos de abor to, Danielle Ardaillon
40
ob-
servou que, em um perodo de qua se 20 anos, entre 1970 a 1989, de um total
de 765 decises pesquisadas, 503 casos foram arquivados por no reuniram
elementos comprobatrios para a pea acusatria, num per centual de 53%. O
nmero de condenaes pelo jri foi de apenas 32, perfazendo 4%. No total,
apenas 13% dos casos foram a julgamento, o que signifcou que em 87% dos
ca sos nao foi possvel a confgurao do delito.
41
Diante disto, possvel argu-
mentar que, embora o aborto fgure como tipo penal, na prtica sua persecuo
no considerada social e criminalmente relevante. Assim, hipoteticamente,
se tomar mos como exemplo o nmero de atendimentos realizados pelo siste-
ma de sade em 2006 (220.000 curatagens ps -aborto) e o compararmos com
os casos levados ao sistema judicial, considerando os nmeros encontrados
por Ardaillon e presumindo que estes no tenham sofrido nenhuma mudan-
a signifcativa, perceberemos uma enorme diferena entre os propsitos da
norma penal em abstrato e (os nmeros de atendimentos na rede pblica em
face de abortos praticados de maneira inadequada), a realizao do aborto em
concreto. Se ainda, tomarmos como exemplo a estimativa de abortos clandesti-
namente realizados, ento essa disparidade assume propores asssustadoras.
39
http://www. http://www.reproductiverights.org Alguns pases restringem o aborto medi-
calmente necessrio, por exemplo, as primeiras semanas de gestao, o que no signifca proibir
sua realizao.
40
ARDAILLON, Danielle. Por uma cidadania de corpo inteiro: a insustentvel ilicitude do aborto.
Disponvel em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/Para%20 uma
%20Cidadania%20de%20Corpo%20Inteiro%20-%20A%20Insustent%E1vel....pdf>. p. 12.
41
ARDAILLON, Danielle. Por uma cidadania de corpo inteiro: a insustentvel ilicitude do aborto.
Disponvel em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/Para%20
uma%20Cidadania%20de%20Corpo%20Inteiro%20-%20A%20Insustent%E1vel....pdf>. p. 13.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 174
Esses dados por si s deveriam ser sufcientes para uma mudana na poltica
criminal refe rente ao aborto, levando a concluso que a descriminalizao a
nica soluo racionalmente aceitvel. O tratamento do aborto pelo sistema
de justia revela-se, ento, despropor cional, inadequado e no razovel; ainda
mais, no atinge os fns a que se destina, no o meio mais adequado e extre-
mamente gravoso.
Alm disso, a inutilidade da pena, seja pela sua inefc cia em impedir a
realizao do aborto, seja por sua baixssima aplicabilidade, deslegitima a uti-
lizao do direito penal, con trariando os pressupostos tericos sobre os quais a
funo da pena legitimada. Ou seja, a criminalizao do aborto ope ra contra-
riamente as fnalidades da pena de preveno geral (ameaa a todos para que
no venham a delinquir) e especial (impedir que o criminoso volte a delinquir)
e sequer atua como retribuio.
Assim, retomando a questo formulada anteriormente, se a pena no
cumpre suas funes, qual a razo para a cri minalizao do aborto?
As razes da utilizao da legislao penal para re gular o aborto es-
tendem-se para alm da proteo da vida do feto. O discurso da proteo
do feto acima dos direitos das mulheres assinala uma preocupao com a
regulao da autonomia sexual e reprodutiva feminina, um interesse em
conformar as mulheres ao papel social de mes
42
, como se esse papel social
fosse natural e no historicamente constru do. Um interesse em regular o
corpo reprodutivo feminino, em domestic-lo, em negar-lhe autonomia da
vontade, em submet-lo desigualmente ao controle social, j que o corpo mas-
culino no sofre as mesmas restries normativas. Como afrma Ardillon:
O corpo das mulheres foi controlado desde sem pre e em
toda a parte, por ser, mais que o corpo dos homens, o locus
da reproduo. por isso, talvez, que na nossa sociedade
como em outras, o direito de abortar, essa autonomia de
um indi vduo feminino sobre o processo de reproduo,
parece simbolizar uma subverso extrema, ina ceitvel.
43
O direito penal adquire, ento, papel preponderante na normatizao
do corpo reprodutivo feminino. A criminalizao do aborto parece ser o l-
42
SIEGEL, Reva. Reasoning from the body: a historical perspective on abortion regula tion and
questions of equal protection. Stanford Law Review, Stanford, v. 44, n.. 2, p. 261-381, jan. 1992.
43
Nota 41, p. 4
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 175
timo estgio dessa regulao. No en tanto, conforme os dados estatsticos de-
monstram, esse con trole revela-se um estrondoso fracasso e com custos sociais
altssimos. Diante disso, a racionalidade jurdica aponta no sentido de que a
melhor forma de prevenir o aborto e proteger o feto prevenir a gravidez in-
desejada, atravs de polticas pblicas de sade sexual e reprodutiva, como o
planejamen to familiar, o acesso informao e aos servios de sade, respei-
tando-se a autonomia e a dignidade das mulheres.
Normas restritivas de regulao do aborto so social mente engendra-
das, isto , esto profudamente enraizadas nos papis sociais de gnero. As
diferenas reprodutivas en tre homens e mulheres so frequentemente evoca-
das para justifcar uma proteo jurdica s mulheres, j que capazes de gerar e
carregar uma nova vida. Quando essas diferenas reprodutivas so normatiza-
das, elas tendem a reforar papis estereotipados de gnero, implementando a
desigualdade de gnero e regulando, de fato, a maternidade. Os tribunais, por
sua vez, ao interpretarem essas normas, pecam por no fl trarem, constitucio-
nalmente, esses preconceitos de gnero, reafrmando os esteretipos.
Por exemplo, no HC 32.159/RJ (2004) a ministra Lau rita Vaz refora
esse entendimento:
O que preciso compreender-se - e agora sim surge a in-
cidncia do princpio da razoabiliade - que vida intra-
uterina existe.
que, mesmo neste estgio, sentimentos de acolhida, cari-
nho, amor, passam, por certo, do pai e da me, mormente
desta para o feto.
Se ele est fsicamente deformado - por mais feio que pos-
sa parecer isto jamais impedir que a acolhida, o carinho,
o amor fua vida, que exis te, e enquanto existir possa.
44
(grifo no original).
Esta passagem ilustra como o papel social de me entendido e refor-
ado. A mulher obrigada a acolher o feto anenceflico e am-lo. A possibili-
dade de no desejar a con tinuidade da gravidez absolutamente rejeitada pelo
tribunal porque ela rompe com as expectativas maternais socialmente cons-
trudas para as mulheres. Observa-se como o direito pe nal utilizado para
44
HC 32.159 RJ (22/03/2004) A Ministra relatora Laurita Vaz reproduz as palavras do Ministrio
Pblico Federal e nega provimento ao apelo de uma gestante portadora de um feto anenceflico.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 176
construir julgamentos normativos sobre as mulheres e no apenas preocupa-
es com o feto.
Como bem observa Siegel:
Os diversos meios que uma sociedade emprega para pro-
mover o bem-estar das geraes dos no nascidos refete
vrios julgamentos norma tivos sobre as mulheres e tem
efeitos dramatica mente diferentes em suas vidas.
45
O corpo feminino est sujeito a toda espcie de interfe rncia normativa,
pelas quais as mulheres so expropriadas de sua autonomia e dignidade. No
entanto, essa expropria o do controle sobre a reproduo atravs da crimi-
nalizao do aborto, viola os direitos humanos das mulheres expressos tanto
na Constituio da Repblica como em diversos intru mentos internacionais
ratifcados pelo Brasil, em particular, a Conveno para a Eliminao de Todas
as Formas de Dis criminao contra a Mulher (Conveno das Mulheres) e a
Conveno Inter-Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia con-
tra a Mulher (Conveno de Belm do Par).
46
A Plataforma de Ao de Pequim refere que os direitos huma nos das
mulheres incluem seu direito de controlar e decidir livre e responsavelmente,
sem coao, discriminao e vio lncia nas questes relacionadas a sua sexu-
alidade, incluin do a sade sexual e reprodutiva. Isto inclui o bsico direito
de decidir o nmero, o espaamento e o como ter flhos.
47
A Plataforma tam-
bm chama a ateno para o compromisso dos estados de rever as legislaes
45
SIEGEL, Reva. Nota 43 p. 7. (Traduzido pela autora).
46
O Brasil ratifcou a Conveno das Mulheres (CEDAW) em 01 de fevereiro de 1984 e seu
protocolo facultativo em 28 de junho de 2002. A Conveno de Belm do Par ratifcada pelo
Brasil em 27 de novembro de 1995 e promulgada pelo Decreto 1.973, de 1 de outubro de 1996.
47
Plataforma de Ao de Pequim. 94. Reproductive health is a state of complete physical, mental
and social well-being and not merely the absence of disease or infrmity, in all matters relating
to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health therefore
implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability
to reproduce and the freedom to decide if, when and how ofen to do so. 95. Bearing in mind the
above defnition, reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized
in national laws, international human rights documents and other consensus documents. Tese
rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and
responsibly the number, spacing and timing of their chil dren and to have the information and
means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health.
It also includes their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination,
coercion and violence, as expressed in human rights documents. (grifei).
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 177
punitivas do aborto e re duzir o nmero de mortes maternas decorrentes dos
abortos ilegais.
48
Por sua vez, o Comit de Direitos Econmicos, So ciais e Culturais, em
suas Observaes Conclusivas sobre o primeiro relatrio do Estado brasileiro,
analisado no seu 30 perodo de sesses, entre 05 e 23 de maio de 2003, expres-
sou preocupao com as altas taxas de mortalidade materna devido a abortos
ilegais, particularmente nas regies ao Norte do pas, onde as mulheres tm
acesso insufciente aos equi pamentos de sade pblica (pargrafo 27).
49
Re-
comendou ainda que o Estado empreendesse medidas legislativas e outras,
incluindo a reviso de sua legislao atual, a fm de proteger as mulheres dos
efeitos de abortos clandestinos e inseguros e assegure que as mulheres no
recorram a tais procedimentos prejudiciais.
Da mesma forma, a Conveno das Mulheres, em sua Recomendao 24
sobre Mulher e Sade, ao comentar o ar tigo 12 da Conveno, dispe:
O acesso da mulher a uma adequada ateno mdica es-
barra tambm em outros obstculos, como as leis que pe-
nalizam certas intervenes mdicas que afetam exclusi-
vamente a mulher e punem as mulheres que se submetem
a tais in tervenes (grifei).
50
48
Plataforma de Ao de Pequim - j. Recognize and deal with the health impact of unsafe abortion
as a major public health concern, as agreed in paragraph 8.25 of the Programme of Action of
the International Conference on Population and Development; k. Post-abortion counselling,
education and family-planning services should be ofered promptly, which will also help to
avoid repeat abortions, consider reviewing laws containing punitive measures against women
who have undergone illegal abortions; Disponvel em: <http://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/platform/health.htm#object1>
49
Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Brazil.
23/05/2003. E/C.12/1/Add.87. (Concluding Observations/Comments). Disponvel em: <http://
<www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.87.En?Opendocument>
50
O artigo 12 da Conveno dispe: 1. Os Estados Partes adotaro todas as medidas adequadas
para eliminar a discriminao contra as mulheres na es fera dos cuidados com a sade, com
vistas a assegurar-lhes, em condies de igualdade entre homens e mulheres, o acesso aos
servios mdicos, inclusive os relativos ao planejamento familiar. O item 14 da Recomendao
24 obriga os estados a tomarem medidas para assegurar o acesso a procedimentos mdicos que
as mulheres necessitam. 14. Te obligation to respect rights requires States parties to refrain
from obstructing action taken by women in pursuit of their health goals. States parties should
report on how public and private health care providers meet their duties to respect womens
rights to have access to health care. For example, States parties should not restrict womens
access to health services or to the clinics that provide those services on the ground that women
do not have the authorization of husbands, partners, parents or health authorities, because they
are un married or because they are women. Other barriers to womens access to appropriate
health care include laws that criminalize medical procedures only needed by women and that
punish women who undergo those procedures.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 178
A criminalizao do aborto opera como um obstculo ao acesso sade
pois, diante de uma gravidez indesejada, as mulheres so foradas ou a procurar
servios clandesti nos e de risco ou a levar a gravidez a seu termo. Ambas as prti-
cas so violadoras de direitos fundamentais. Impedir o acesso aos procedimentos
para abortamento seguro viola os direitos fundamentais vida, segurana, e
sade pois ex pe desnecessariamente s mulheres a risco de morte, vio lao de
sua integridade fsica e mental, e lhes nega o acesso universal e igualitrio sade.
51
Alm disso, o Brasil, ao ratifcar a Conveno das Mu lheres obrigou-se a
tomar todas as medidas para respeitar e facilitar o acesso sade das mulheres e
mais, a no restrin gir esse acesso atravs de leis que criminalizam procedimen-
tos mdicos que somente as mulheres necessitam, como o caso do aborto.
Por sua vez, a Conveno de Belm do Par estabe lece que os direitos
humanos das mulheres incluem o direito vida, integridade fsica, psquica
e moral; liberdade e segurana pessoais; e a no ser submetida a torturas
52
e o dever do estado em abster de violar esses direitos e tomar medidas efetivas
para a sua realizao.
O Comit (CEDAW), que monitora o cumprimento da Conveno para
a Eliminao de Todas as Formas de Discri minao contra as Mulheres, em
seus Comentrios Conclu sivos referentes ao Relatrio Brasileiro de 2002, ma-
nifestou preocupao com os altos ndices de abortos clandestinos no pas,
decorrentes, dentre outras causas, da pobreza, da ex cluso e falta de acesso
informao.
53
51
Constituio da Repblica. Art. 5 - Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a inviolabilidade do
direito vida, liberdade, igualdade, segurana. Art. 196. A sade direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante polticas sociais e econmicas que visem reduo do risco
de doena e de outros agravos e ao acesso universal e igualitrio s aes e servios para sua
promoo, proteo e recuperao.
52
Artigo 4 - Toda mulher tem direito ao reconhecimento, gozo, exerccios e proteo de todos
os direitos humanos e s liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e inter nacionais
sobre direitos humanos. Estes direitos compreendem , entre outros: 1. o direito a que se respeite
sua vida; 2. o direito a que se respeite sua integridade fsica, psquica e moral; 3. o direito
liberdade e segurana pessoais; 4. o direito a no ser submetida a torturas.
53
126. Te Committee is concerned at the high maternal mortality rate, particularly in the more
remote regions where access to health facilities is very limited. Te Committee is also concerned
at the health condition of women from disadvantaged groups and at the high rate of clandestine
abortion and its causes, linked to, among others, poverty, exclusion and a lack of access to
information. (grifei) Concluding comments of the Committee - CEDAW: Brazil. 18/07/2003.
A/58/38,paras.76136. (Concluding Observations/Comments).
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 179
O aborto clandestino um aborto de alto risco, e abso lutamente evit-
vel. O Estado brasileiro tem o dever de tomar providncias no campo da sade
pblica em decorrncia de seus compromissos internacionais e descrimina-
lizar o aborto, como nica medida capaz de deter os riscos sade e a mor-
talidade materna dele decorrente.
54
O aborto provocado um procedimento seguro quan do realizado por
mdico e defnido, segundo o Comit de tica da FIGO, como a interrupo
da gravidez pelo uso de drogas ou interveno cirrgica aps a implantao e
antes do concepto (signifcando o produto da concepo) tenha se tornado in-
dependentemente vivel.
55
Assim, o aborto deve ser uma interveno mdica
acessvel s mulheres brasilei ras, evitando-se assim, os danos sociais decorren-
tes da clan destinidade. Conforme notam Fades e Barzelatto:
Um aborto mdico ou cirrgico realizado por um profs-
sional bem treiando, com os meios neces srios e em um
ambiente mdico adqueado, considerado seguro porque
implica um risco extremantemente baixo para a mulher.
A morta lidade materna observada com o aborto seguro
no mais que 1 em 100 mil procedimentos, e as com-
plicaes tambm so extramente baixas. Na verdade, se
o aborto for feito cedo (at 12 se manas), a morbidade e
a mortalidade associadas so mais baixas que as de um
parto normal.
56
Assim, impedir o aborto implica em severos danos sade feminina e
viola a norma constitucional que garante o direito sade como um bem jur-
dico universal e indisponvel.
Alm do mais, impor uma gravidez indesejada a uma mulher viola o
princpio da dignidade e o direito autonomia reprodutiva e equivale tor-
tura. A Conveno contra a Tortu ra defne tortura como qualquer ato pelo
54
A Organizao Mundial de Sade OMS, na 10 reviso da Classifcao Internacional de
Doenas (CID-10), em 1994, defniu morte materna como a morte de mulheres durante a
gestao ou dentro de um perodo de 42 dias aps o trmino da gravidez, devida a qualquer
causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relao a ela,
porm no devida a causas acidentais ou incidentais. Segundo a CPI da Mortalidade Materna
(2001) a taxa no Brasil de 114 mortes por 100.000 nascimentos vivos.
55
SCHENKER, JG; CAIN, JM. FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Repro duction
and Womens Health. Int J Gynaecol Obstet, v. 64, p.317-322, 1999,
56
FANDES, Anbal, BARZELATTO, Jos. O Drama do aborto: em busca de um consenso. So
Paulo: Komedi, 2004. p. 54.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 180
qual dores ou so frimentos agudos, fsicos ou mentais, so infigidos intencio-
nalmente a uma pessoa a fm de obter, dela ou de terceira pessoa, informaes
ou confsses; de castig-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido
ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou ou-
tras pes soas; ou por qualquer motivo baseado em discriminao de qualquer
natureza.
57
Forar uma mulher a ter um flho um ato que inten cionalmente in-
finge-lhe sofrimento fsico e mental, expropria -lhe de sua condio tica de
cidad, rouba-lhe a autonomia e nega-lhe a dignidade inerente sua condio
humana.
Nesse sentido, o Comite de Direitos Humanos da ONU analisando vio-
laes ao Pacto Internacional dos Direitos Ci vis e Polticos, no caso K.L. v Peru
(2005) decidiu que negar o acesso ao aborto em caso de um feto anenceflico
exps a adolescente K.L a sofrimento no s fsico como mental, o que signif-
cou submet-la a tortura e tratamento cruel e de gradante.
58
Deciso idntica foi tomada pela Suprema Corte da Colombia ao con-
cluir que forar a mulher, sob a ameaa de persecuo criminal a levar a gra-
videz a seu termo implica em tratamento cruel, desumano e degradante, que
afeta seu bem-estar moral e seu direito dignidade.
59
O Supremo Tribunal Federal, no HC 84.025-6 RJ (2004) em que repele
a deciso do STJ no HC 32.159/RJ
60
, em voto relatado pelo Ministro Joaquim
Barbosa, assim se manifestou:
[...] dizer-se criminosa a conduta abortiva, para a hiptese
em tela, leva ao entendimento de que a gestante cujo feto
seja portador de anencefa lia grave e incompatvel com a
vida extra-uterina est obrigada a manter a gestao. Esse
enten dimento no me parece razovel em compara o
57
A Conveno contra a Tortura e Outros Tratamentos Crueis, Desumanos e Degradantes foi
ratifcada pelo Brasil em 28/09/1989 e seu Protocolo Opcional em 12/01/2007
58
Communication No. 1153/2003: Peru. 22/11/2005. CCPR/C/85/D/1153/200. Comu nicao
submetida por Karen Noelia Llantoy Huamn (representeda pelas organizaes DEMUS,
CLADEM and Center for Reproductive Law and Policy). O Comite considerou que houve
violao do artigo 7 da Conveno que diz ningum poder ser submetido tortura, nem a
penas ou tratamentos cruis, desumanos ou de-gradantes. O Comite considerou ain da que o
estado peruano violu tambm os artigos, 2, 17 e 24 do Pacto.
59
Suprema Corte da Colombia, deciso C-355/2006. p. 57.
60
HC 32.159/RJ - relatado pela ministra Laurita Vaz. Ver nota 45.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 181
com as hipteses j elencadas na legislao como exclu-
dente da ilicitude de aborto, principal mente porque estas
se referem interrupo da gestao de feto cuja vida ex-
tra-uterina plena mente vive .
61
(grifo no original).
No entanto, qualquer gestao forada, no unicamen te em casos de
anencefalia, no razovel, pois per se uma prtica violadora da dignidade
feminina, interefere na autono mia reprodutiva das mulheres, viola o direito
sade e impe tratamento cruel e desumano s mulheres.
2. Aborto: um segredo?
Falar que o aborto acontece em segredo no Brasil ao mesmo tempo
uma verdade e uma falcia. uma verdade porque as mulheres no revelam
abertamente, os familiares e amigos silenciam e a sociedade fnge que no sabe.
uma falcia porque as autoridades pblicas no pas tem conheci mento da
prtica do aborto, atravs das pesquisas de estima tiva de abortos clandestinos
e atravs dos dados revelados pelas internaes hospitalares decorrentes das
leses provo cadas pelos abortos de risco.
No Brasil, esse segredo ensurrecedor, barulhento e incomodativo.
Todos conhecem as Veras, Anas, Marias e tantos outros nomes que diaria-
mente procuram clinicas clan destinas ou mtodos capazes de terminar uma
gravidez inde sejada.
Revelar o segredo de Vera Drake signifca tirar a ms cara da hipocre-
sia e, seriamente, tratar o aborto como um problema de sade pblica que
lesiona milhares de mulheres anualmente e que viola direitos fundamentais
cotidianamen te. Signifca admitir que vivemos em um estado laico onde as
crenas religiosas so parte da cultura, mas no esto auto rizadas a ditar quais
os direitos as mulheres podem ou no usufruir. Signifca reconhecer que a cri-
minalizao fracassou na sua proposta de deter um comportamento na prtica,
ad mitido socialmente, mas com elevados custos. A criminaliza o do aborto
no serve aos fns que se prope, intil, des necessria, irracional e perversa.
Nossas Veras, Anas e Marias no precisam revelar o seu segredo, mas
ns temos o dever de torn-lo menos dolo roso e mais humano.
61
HC 84025-6 RJ (2004). Ministro relator: Joaquim Barbosa. DJ 25/06/2004, Ementrio No. 2157-
2, p. 354.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 182
Referncias
ARDAILLON, Danielle. Por uma cidadania de corpo intei ro: a insustentvel ilicitude
do aborto. Disponvel em: <http://www. abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/
Todos/Para%20 uma%20Cidadania%20de%20Corpo%20Inteiro%20-%20 A%20
Insustent%E1vel....pdf>. p. 12.
FANDES, Anbal, BARZELATTO, Jos. O Drama do aborto: em busca de um consenso.
So Paulo: Komedi, 2004.
GOSTIN, Lawrence. Te Aids pandemic: complacency, in justice and unfulflled
expectations. Chapel Hill: University of North Caroline Press, 2004.
GREENE, Michael; ECKER, Jefrey. Abortion, health and the law. Te New England
Journal of Medicine, v. 350, n. 2, p. 184-186. 2004.
KARAM, Maria Lcia. Novos caminhos para a questo das drogas. In: DE CRIMES,
penas e fantasias. 2. ed. Rio de janeiro: Luam, 1993.
LINHARES, Leila. O movimento feminista e a descriminaliza o do aborto. Revista
Estudos Feministas. Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, 1997.
MONTEIRO, Mrio F.G; ADESSE, Leila. A magnitude do aborto no Brasil: uma anlise
dos resultados de pesquisa no Brasil. Instituto de Medicina Social do Rio de Janeiro:
2007. Disponvel em: <www.ipas.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2007.
ORGANIZAO DOS ESTADOS AMERICANOS. Conven o Interamericana para
prevenir, punir e erradicar a violn cia contra a mulher. Ratifcada em 27 de novembro de
1995 e promulgada pelo Decreto 1.973, de 1 de outubro de 1996.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS. Conveno para a Eliminano de todas as
formas de d iscriminao contra a Mulher. Ratifcada em 01 de janeiro 1984.
________. Concluding comments of the Committee - CEDAW: Brazil. 18/07/2003.
A/58/38,paras.76136. (Conclu ding Observations/Comments).
________. Conveno contra a tortura e outros trata mentos crueis, desumanos e
degradantes. Ratifcada em 28 set. 1989.
________. Protocolo Opcional Conveno Contra a Tor tura e Outros Tratamentos
Cruis, Desumanos e Degradan tes, ratifcada pelo Brazil em 12 jan. 2007.
________. Pacto Internacional dos Direitos Econmi cos, Sociais e Culturais. Concluding
Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Bra zil.
23/05/2003. E/C.12/1/Add.87. (Concluding Observa tions/Comments). Disponvel em:
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/E.C.12.1.Add.87.En?Opendocument>
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 183
SCHENKER, J.G.; CAIN, J.M. FIGO Committee for the ethical aspects of human
reproduction and womens health. Int J Gynaecol Obstet, 1999, v. 64, p.317-322.
SIEGEL, Reva. Reasoning from the body: a historical perspec tive on abortion regulation
and questions of equal protection. Stanford Law Review, Stanford, v. 44, n. 2, p. 261-381.
jan. 1992.
RAA, GNERO, CLASSE, IGUALDADE E JUSTIA
Rep resentaes simblicas e
ideolgicas do flme Crash,
de Paul Haggis
Eliezer Gomes da Silva
A
questo racial parece um desafo do presente,
mas trata-se de algo que existe desde h muito
tempo. Modifca-se ao acaso das situaes, das
formas de sociabilidade e dos jogos das foras sociais, mas
reitera-se continuamente, modifcada, mas persistente.
Esse o enigma com o qual se defrontam uns e outros, in-
tolerantes e tolerantes, discriminados e preconceituosos,
segregados e arrogantes, subordinados e dominantes, em
todo o mundo. Mais do que tudo isso, a questo racial re-
vela, de forma particularmente evidente, nuanada e estri-
dente, como funciona a fbrica da sociedade, compreen-
dendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade,
cooperao e hierarquizao, dominao e alienao.
1
1. O enredo, sua trama e seus aparentes propsitos uma sntese
introdutria de Crash.
O clebre flme Crash possui uma trajetria de sucesso. Indicado a seis
estatuetas do Oscar em 2006, arrebatou trs: melhor flme, melhor roteiro ori-
ginal, melhor edio. Confrmao do talento de seu diretor e roteirista, Paul
Haggis, que ano anterior j havia sido indicado premiao pelo roteiro de
Menina de Ouro (Million dollar baby),Crash , sem dvida alguma, um daque-
les flmes que nunca se confrontar com a indiferena do espectador. Imprevi-
svel (e portanto contra-intuitivo), dramtico (e portanto catrtico), refexivo
(e portanto cerebrino), politicamente engajado (e portanto controvertido),
prope-se a narrar histrias de vida de personagens da cidade de Los Angeles,
que eventualmente se esbarram (e no simplesmente se encontram) quando
trilham a senda comum do preconceito, do racismo, da discriminao.
1
IANNI, Octavio. Dialtica das relaes raciais. Estudos Avanados, So Paulo, v 18, n. 50, p. 21,
2004.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 186
Por meio de uma elaborada construo de personagens redondos, de
perfl psicolgico complexo, com vacilante ou contraditrio senso moral, o
extraordinrio roteiro, emoldurado por impecvel fotografa e sedutora trilha
sonora, desenvolve-se com competncia em seu ntido desiderato: fugindo de
uma tica maniquesta ou politicamente correta, procura demonstrar que o
racismo, o preconceito (e por consequncia a discriminao) impregnam a
nossa existncia, quer disso estejamos cientes ou no. E isso alcanado por
mltiplos ncleos dramticos:
De um lado, vemos os explcitos arroubos racistas do veterano policial
Ryan (Matt Dillon). Inicialmente (e com a contrariedade de seu parceiro, o
jovem policial Hansen, interpretado por Ryan Philippe), Ryan ser o respon-
svel por uma revista policial sexualmente abusiva e humilhante em Christine
(Tandie Newton), na presena de seu marido Cameron (Terrence Howard),
um bem-sucedido Diretor de TV negro, quando tem seu carro parado. Mais
tarde, o mesmo Ryan protagonizar insultos raciais contra Shaniqua Johnson
(Loretta Devine), inconformado com o fato de o plano de sade preferir um su-
perfcial e incuo tratamento ambulatorial doena de seu pai (como se fosse
uma simples infeco na bexiga), a examinar a concreta possibilidade de tratar -
se de cncer na prstata. Isso (no entendimento de Ryan) a despeito de seu pai
ter sido levado runa aps a Prefeitura passar a adotar polticas afrmativas,
privilegiando a contratao de servios geridos por afro-descendentes.
De outro lado, a esposa de um Promotor Pblico, Jean Cabot (Sandra
Bullock), aps ter sido vtima de um assalto a um veculo da famlia por dois
jovens negros, Anthony (interpretado pelo rapper Ludacris) e Peter Waters (in-
terpretado por Larenz Tate), no mais dissimula o asco, a repugnncia, o des-
conforto de conviver com o que lhe parece uma perigosa subclasse de bandidos
negros ou de empregados latinos. Do arrependimento por no ter seguido seus
instintos de que dois jovens negros so sempre suspeitos em potencial,
2
segue -
se a sua impacincia com a prpria empregada domstica, Maria (Yomi Perry),
2
Brada Jean a seu marido Rick: And it was my fault. I knew it was gonna happen.
But if a white person sees two black men walking towards her and she walks in other
direction shes racist, right?
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 187
que mantm a loua limpa na mquina de lavar (e no nos armrios da co-
zinha), e a suspeio sobre o chaveiro Daniel (Michael Pea), a quem (pelas
calas de cs baixos, pelas tatuagens e pela cabea raspada), acredita ser par-
tcipe de uma futura ao furtiva a sua residncia, repassando a terceiros as
chaves da fechadura que acaba de trocar.
O preconceito e a discriminao de Jean no tm a aprovao de seu
marido Rick (Brandon Fraser), Promotor Pblico. Contando com o suporte
eleitoral da comunidade negra, esfora-se em suas manifestaes pblicas e
atitudes profssionais para no trair a confana de seu eleitorado. Com efeito,
da manipulao poltica da questo racial, pelo Promotor Rick, que lamenta
ter tido a infelicidade de ser assaltado por dois jovens negros, ante a incon-
veniente exposio na mdia do caso (o que, na sua avaliao pode lhe cus-
tar votos tanto da comunidade negra quanto dos adeptos da lei e ordem
3
),
segue-se a manipulao jurdica de um outro caso de possvel conotao ra-
cial. Seu assistente Flanagan (William Fichtner), encarregado por Rick de
um servicinho sujo
4
: convencer um detetive negro, Graham (Don Cheadle)
a ajudar a encobrir as evidncias vitimolgicas adversas que envolvem o as-
sassinato de um outro policial negro, Lewis. que trezentos mil dlares foram
encontrados no estepe do veculo que Lewis conduzia, embora o veculo no
lhe pertencesse. Tudo para no atrapalhar um caso exemplar de punio do
assassino de um jovem negro (Lewis) por um policial branco, Conklin (Martin
Norseman), com histrico de outras duas mortes suspeitas de jovens negros,
embora possivelmente tenha Conklin agido em legtima defesa, considerando
o aparentemente ilcito comportamento de Lewis e seu desinteresse em ter o
veculo vistoriado. De quebra, Graham seria promovido (aumentando a vi-
sibilidade dos negros em cargos estratgicos de indicao da Promotoria) e o
irmo de Graham, Peter, duplamente reincidente em crimes patrimoniais, po-
deria ter suspenso o cumprimento do mandado de priso (capaz de lhe custar
3
Indaga Rick aps o assalto que o vitimou: Why did these guys have to be black? I
mean, why? No matter how we spin this thing, Im either gonna lose the black or Im
gonna lose the law and order vote.
4
Como diz Flanagan, apresentando-se a Graham: If he did his own dirt work none of us would
have jobs.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 188
uma priso por tempo indeterminado, de acordo com a regra do three strikes
and youre out
5
).
Aps inicialmente recusar, com veemncia, a proposta de Flanagan,
como condio para a sua promoo, Graham ouve o desabafo de Flanagan.
Primeiro, sobre a aparentemente incontrolvel inclinao dos negros em ge-
ral criminalidade, contrariando as explicaes sociolgicas que registra ter
conhecimento sobre a seletividade do sistema penal. Segundo, sobre a neces-
sidade de serem criados ou preservados smbolos positivos para jovens ne-
gros (para Flanagan prefervel confrontarem-se com Lewis como um mrtir
negro que como um trafcante de drogas).
6
Chamando Graham responsa-
bilidade por isso
7
, Graham d sinais de consentir com o acobertamento das
evidncias contra Lewis, principalmente pelo apelo de ordem pessoal (evitar a
priso de seu irmo Peter).
Num outro ncleo da trama, Fahrad (Shaun Toub), antigo imigrante
iraniano, naturalizado americano, apesar de seu ingls precrio e errante, v
recusada a venda de uma arma. Sofre explcita discriminao pelo vendedor
5
Essa expresso, que utiliza uma analogia com o jogo de baseball (com trs faltas o
jogador deixa de participar do jogo) para rotular uma poltica criminal vigente em
muitos Estados norte-americanos (notadamente na Califrnia) pretende signifcar que
na terceira prtica do crime - por mais insignifcante que seja o reincidente recebe uma
pena altssima (por exemplo 25 anos) ou mesmo uma life sentence (priso por tempo
indeterminado). Sobre os problemas dessa diretriz poltico-criminal, ver a coletnea de
artigos editados por SCHICHOR, David; SECHREST, DALE K., eds. Tree Strikes and
Youre Out - Vengeance as Public Policy. Tousand Oaks (California): Sage, 1996.
6
Diz Flanagan: Fucking black people, huh? [What did you just say? retruca Graham]
I know all the sociological reasons why per capita, eight times more black men are
incarcerated than white men. Schools are a disgrace, lack of opportunity, bias in the
judicial system and that stuf. All that stuf. But still its gotta get to you on a gut level as
a black man. Tey just cant keep their hands out of the cookie jar. Of course, you and I
know thats not the true. But thats the way it always plays, doesnt it? And assholes like
Lewis keep feeding the fames. (...) What do you think those kids need? To make them
believe. To give them hope. Do you think they need another drug-dealing cop? Or a
fallen black hero?
7
Flanagan para Graham: What are you, the fucking defender of all things white? Were talking
about a white man who shot three black men. And youre arguing with me that maybe were not
being fair to him? You know, maybe youre right. Maybe Lewis did provoke this. Maybe he got
exactly what as coming to him. Or maybe, stoned or not, just being a black man (in the valley)
was enough to get him killed. Tere was no one there to see who shot frst. So theres no way to
know. Which means we could get this wrong. Maybe thats what happened with your brother.
Maybe we got it wrong. Maybe Lewis isnt the only one who deserves the beneft of the doubt.
Youre the one closest to all this. You need to tell us. What does your gut tell you?
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 189
americano, que v em Fahrad a imagem e a semelhana de um terrorista is-
lmico suicida, nos moldes dos que se envolveram no 11 de setembro,
8
recu-
sando-lhe at mesmo o direito de possuir armas, que a segunda emenda
Constituio americana atribui a todos os seus cidados, direito invocado por
Fahrad, mesmo reconhecendo no ter o mnimo preparo para o manuseio de
armas de fogo (ou para a escolha da munio apropriada). Com a interveno
de sua flha, Dorri (Bahar Soomekh), que sutilmente invoca seus direitos de
consumidora, a compra da arma e da munio efetivada, aps grande alterca-
o. Mais tarde Fahrad, que no seguira as recomendaes do chaveiro Daniel
(de que deveria trocar a porta emperrada e no apenas a fechadura), tem sua
mercearia furtada e vandalizada. Tendo recusado o pagamento da indenizao
do seguro por alegada negligncia no conserto da porta, Fahrad volta sua fria
para Daniel. De posse da arma adquirida, persegue Daniel em sua residncia,
chegando, por erro de execuo, a disparar contra a pequena flha de Daniel,
Lara (Ashlyn Sanchez) que, contudo, no atingida porque a munio adqui-
rida (resultado, ao que tudo indica, da escolha aleatria de Dorri, na tumultu-
ada venda - e para a tranquilidade do vendedor) era de festim.
Em meio a toda essa trama de incompreenses e intolerncias, Anthony
procura conscientizar seu parceiro de crime, Peter, sobre racismo e desigual-
dade de oportunidades em todos os aspectos da sociedade norte-americana
(Peter v exagero nas afrmaes de Anthony). Mas as vidas de Peter e An-
thony se entrecruzam num acidente, com o atropelamento do coreano Choi
(Greg Joung Paik), marido de Kim Lee (Alexis Rhee), que por sua vez troca
insultos com Ria (Jennifer Esposito), quando Ria e Kim se envolvem num aci-
dente de carro. Oportunamente, recuperando-se do atropelamento no hospi-
tal, descobre-se que Choi est envolvido com o trfco de pessoas do Camboja
e da Tailndia, encontrados por acaso por Anthony acorrentados no interior
da enorme van que furtou.
Hansen, o jovem policial branco, confrontado com as atitudes abusivas
de seu colega de ronda, Ryan (especialmente aps a abordagem que este fez
a Christine e Cameron), no hesita em pedir a seu superior hierrquico, o
tenente negro Dixon (Keith David) para no mais acompanhar Ryan em suas
rondas, estando disposto, se necessrio for, a formalizar denncia contra Ryan
8
Diz o vendedor, com ironia e agressividade, expulsando Fahrad da loja: Youre liberating my
country and Im fying 747s into your mud huts, incinerating your friends. Get out!
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 190
por racismo. O fato minimizado pelo tenente Dixon, que expe seu temor de
que a apurao das prticas racistas, por Ryan, um policial que h anos esteve
sob sua superviso direta, possa trazer prejuzos ao prprio Dixon, cuja ascen-
so na carreira policial lhe teria custado muito, no ambiente racista da polcia
de Los Angeles, o que Dixon pede a Hansen que leve em considerao.
9
Nestes
termos, Dixon apenas consente que o jovem idealista branco faa sozinho suas
rondas (sugerindo-lhe o motivo formal para tanto: fatulncia incontrolvel),
sem adotar qualquer providncia em relao a Ryan.
Nesse vai-e-vem de encontros e desencontros, de preconceitos, dios,
incompreenses, prevaricaes, intolerncias, oportunismos e incompreen-
ses mtuas (na verdade, as colises, fsicas, morais e metafricas que o ttulo
do flme evoca), numa cena surpreendente, o jovem idealista Hansen, de folga,
ao dar carona a Peter Waters, numa noite fria de inverno, tolhido por seu
prprio preconceito, ao atirar contra o carona, erroneamente supondo que Pe-
ter estava prestes a sacar uma arma, quando em verdade apenas detinha uma
estatueta de So Cristvo, do mesmo tipo que, por coincidncia, viu no carro
do policial Hansen e que gerara um gracejo de Peter, atiando a irritao do
policial, at ento politicamente correto, e levando-o a ordenar a Peter que
sasse do carro, aps pedir (sem ser obedecido) que Peter lhe mostrasse o que
tinha em sua mo. Morre assim Peter, o irmo de Graham que sua me (in-
terpretada pela atriz Beverly Todd), viciada em crack, pedia insistentemente
ao flho Graham que localizasse e trouxesse para casa. E o flme termina com
uma batida entre o carro da gerente do plano de sade, Shaniqua, e o veculo
de terceiro, de origem latina.
Evidentemente, essa apertada sntese amesquinha a fora dramtica do
roteiro, muito bem construdo e muito bem interpretado por um elenco de
primeira linha (com perfeita distribuio de papis), num flme que, grosso
modo, no tm personagens principais. De qualquer forma, o que pretenda-
mos deixar assentado, como premissa ftico-argumentativa para as considera-
es seguintes, as quais, doravante, tentaro justifcar o ttulo e o tema desse
ensaio, que toda a histria construda em encontros aparentemente casu-
ais de personagens, cujos discursos e atitudes, contraditrios e moralmente
9
Dixon para Hansen: Just like you understand how hard a black man has to work to get to where
I am, in a racist fucking organization like the LAPD. And how easily that can be taken away. Tat
being said, its your decision.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 191
questionveis, nos fariam antever ou lembrar que o preconceito, o racismo, a
discriminao, fazem parte de nossa experincia diuturna de vida, com o que
deveramos todos nos envergonhar, embora cientes da ausncia de solues
simples para o seu enfrentamento. Esta, alis, a chamada interpretao au-
tntica exposta pelo prprio autor da histria, Paul Haggis (bem como dos
autores envolvidos) nos depoimentos que prestam nos extras do DVD: um
flme forte, sincero, que se prope a debater o preconceito (o medo dos estra-
nhos), o racismo, de forma crua e brutal, com suas nuances mais complexas
(em que se misturam questes de gnero e de classe), guisa de combat-lo ou
de ridiculariz-lo.
2. Os atos falhos de Crash O racismo de um flme anti-racista.
Examinando-se mais detidamente o flme, com a licena que o carter
aberto de sua trama nos d (e o vis convictamente racial de sua temtica),
chegamos, sem muito esforo, constatao de que Crash insere-se naquele
rol de trabalhos que, a pretexto de abordarem de forma direta a questo ra-
cial, com declarado objetivo ecumnico ou de pacifcao social, acabam por
prover ao racismo sutis conotaes simblicas de forma muito prxima de sua
prpria justifcao. que a atenta anlise de cada cena, cada quadro, cada pla-
no do flme bem revelar (no importa aqui se de forma deliberada ou no por
seus criadores e preferimos acreditar tratar-se de um ato falho) que a lgica
aleatria, da mera coincidncia, do acaso, do inesperado, na sequncia de
encontros e desencontros entre os personagens (marca cativante da narrativa,
que tem despertado entusiasmados elogios de todos os que assistem ao flme)
no seguida, em momento algum, no delineamento moral dos personagens
negros e brancos. Aqui nada acontece de forma diversa do que poderia supor
a ideologia racista. Muito pelo contrrio: a trama absolutamente coerente
(do incio ao fm) com o privilegiamento moral dos personagens brancos, em
detrimento das minorias tnicas (especialmente os negros e, num grau me-
nor, os orientais, sendo at condescendente com os personagens latinos). E
essa representao simblica, de inferiorizao moral de um grupo de deter-
minada etnia ou origem nacional, em detrimento de outro, no pode deixar
de constituir a marca mais caracterstica da ideologia racista de ontem e
de hoje - permitindo-se uma leitura deste signifcado ideolgico subreptcio a
Crash principalmente em sua metalinguagem (a forma racista como a histria
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 192
contada) e no por seus bvios referenciais linguagem racista de seus per-
sonagens (a mensagem anti-racista que a histria quer passar).
10
Certamente no ter sido mera coincidncia a forma desnecessaria-
mente racista com que os personagens negros so moralmente estruturados,
guisa de inseri-los numa cinematografa engajada na luta pelo racismo. Crash
apresenta-se como de cunho anti-racista, na medida em que delineia persona-
gens vtimas de discriminao e preconceito, diretamente relacionados a sua
etnia ou nacionalidade, tidas pelos ofensores como intelectual, social e moral-
mente inferiores. Entretanto, o flme tambm subscreve essa ideologia racista,
quando deixa de atribuir a esses personagens (vtimas do racismo) qualidades
morais, ticas ou intelectuais positivas, que no hesita em vincular aos perso-
nagens brancos do flme, a despeito das falhas morais que lhes delineia. Como
que imbudo do propsito de deixar claro na trama fccional que, talvez, em
certos aspectos, as vtimas do preconceito, da discriminao, justifquem, com
seu comportamento e com suas atitudes, muitos dos fundamentos da ideologia
racista. Reedita-se aqui, com ferramentas contemporneas, um subreptcio e
subliminar discurso de uma intrnseca superioridade moral, social e intelectu-
al dos brancos, sob o perverso manto protetivo de um flme que aparentemente
se prope a combater o racismo (o que nos induz legtima expectativa de que
deixaria uma mensagem positiva de pacifcao social).
11
10
Palavras, imagens, mensagens, ou qualquer outra forma simblica seriam inofensivas se no
carregassem ideologia consigo, se no estivessem promovendo interesses de grupos de pessoas
que, consciente ou inconscientemente, discriminam aqueles/as que so minorias. ROSO,
Adriane et al.. Cultura e ideologia: a mdia revelando esteretipos raciais de gnero. Psicologia e
Sociedade, v. 14, n. 2, p. 80, jul./dez. 2002.
11
De fato, na contemporaneidade, quando o mundo se faz imagem por efeito da razo tecnolgica,
a redescoberta pblica (e publicitria) do afeto faz-se sob a gide da emoo como um aspecto
afetivo das operaes mentais, assim como o pensamento e o seu aspecto intelectual. Se por um
lado afrma-se a morte da Razo una e universal, que a metafsica do pensamento forte e nico
entronizada pelo Iluminismo, por outro proclama-se a vida das mltiplas razes particulares, e
pode-se mesmo ento instituir epistemicamente uma razo ou uma inteligncia para a emoo.
a ento, que tanto a mdia quanto o esprito comunitrio ainda vigente nos interstcios do
individualismo das relaes societrias regidas por economia, direito e poltica liberal pode
contribuir fortemente para atacar o mal-estar civilizatrio intitulado preconceito racial. Mdia e
comunidade so lugares predominantemente afetivos, onde o meio vital dos argumentos de que
fala Wittgenstein pode ser esteticamente transformado em favor de determinadas representaes
humanas. Para tanto, faz-se imperativo reinterpretar em termos prticos as noes histricas
de mdia e de comunidade. PAIVA, Raquel; SODR, Muniz. Mdia, comunidade e preconceito
racial. Murcia: Sphera Pblica, n. 4, 2004, p. 147.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 193
Portanto, poderamos identifcar em Crash um anti-racismo racista, a
que se ope o racismo anti-racista, antolgica expresso cunhada por Sartre
em 1948.
12
Mas tais assertivas e concluses ho de ser provadas e documen-
tadas de modo sufcientemente objetivo, com fundamentao especialmente
rigorosa (porque contra-intuitiva) e com fdelidade moldura fccional e dis-
cursiva (o que nos foi facilitada pela regularidade com que esse padro ideo-
lgico-discursivo se faz presente no decorrer de todo o enredo de Crash). o
que faremos a seguir.
I. certo que quase todos os personagens do flme no so isentos de
falhas ou defeitos morais, independentemente de etnia, gnero, classe scio-
econmica ou da posio que eventualmente ocupem no sistema jurdico-
penal (os policiais, o Promotor Pblico
13
ou seu assistente), pano de fundo
para muitos dos dramas vivenciados pelos personagens. A exceo seriam os
personagens quadrados de origem latina (Daniel, Maria e Ria) ou mesmo
de origem rabe (como Dorri, flha de Fahrad), os quais demonstram perfeita
assimilao dos valores da sociedade branca norte-americana. O curioso que
aos personagens brancos norte-americanos se permite uma redeno moral de
seus pecados, uma at antiquada justia potica, o que inexoravelmente
negado a qualquer dos personagens negros de Crash. Muito ao contrrio, esses
parecem sempre retratados como os irremediavelmente responsveis por suas
prprias desgraas. Vejamos:
II. O policial branco, ostensivamente racista, Ryan, que realiza uma re-
vista sexualmente abusiva na esposa (Christine) do jovem diretor de TV negro,
Cameron, na presena deste, redime-se com a atitude herica (e duplamen-
te humilhante para a prpria Christine e para Cameron) de salvar a vida de
Christine, resgatando-a de um carro acidentado, pouco antes de explodir. N-
12
Como se perpetuaram essas raas? Sartre (1948), em Orfeu negro, seu famoso ensaio de
introduo poesia da ngritude, nos sugere uma dialtica de suplantao do racismo em que
a assuno da idia de raa pelos negros caracterizada por ele como racismo anti-racista
- constituiria a anttese capaz de construir um futuro anti-racismo sem raas. Ou seja, Sartre
refete sobre o fato de que no se pode lutar contra o que achamos que no existe. Dizendo
de outro modo, se os negros considerarem que as raas no existem, acabaro tambm por
achar que eles no existem integralmente como pessoas, posto que assim que so, em parte,
percebidos e classifcados por outros. GUIMARES, Antonio Srgio. Racismo e anti-racismo no
Brasil. So Paulo: Editora 34. 2005, p. 67
13
Preferimos a referncia genrica a Promotor Pblico, ante as grandes distines (que no
convm aqui explicitar) entre as atribuies do District Attorney (D.A.) norte-americano e a
fgura do Promotor de Justia no cenrio jurdico-constitucional brasileiro.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 194
tida a mensagem moral: ainda que Ryan tenha l seus desvios de conduta, um
policial destemido, corajoso, a quem Christine dever ser eternamente grata,
porque lhe salvou a vida, perdoando-o pela indelicadeza da revista abusiva.
14
A cena de Ryan abraado a Christine, quando salva sua vida, e que ilustra o
material promocional do DVD, bem caracterstica dessa mensagem corrente
do flme, a despeito de seu propsito de denunciar o racismo: o que seria dos
negros no fossem os brancos.
III. Esse mesmo policial Ryan, que no se contm em insultar, com ter-
mos explicitamente racistas, por duas vezes (por telefone e pessoalmente) a ge-
rente negra do plano de sade, Shaniqua Johnson, redime-se com a preocupa-
o que demonstra ter pelo sofrimento a que injustamente passa seu pai, sem a
adequada assistncia mdica, pelo modesto plano de sade que tem condies
de pagar, aps anos de trabalho rduo. No bastasse isso, as palavras profticas
desse veterano policial ao colega mais jovem e idealista, Hansen (Espere at
que voc esteja por mais alguns anos nesse trabalho.)
15
so confrmadas nas
prprias circunstncias em que Hansen acaba matando o jovem Peter. Quase
que a corroborar o maior dos mitos da chamada cop culture: de que a dureza
das ruas, a maior exposio ao submundo da criminalidade (preo a que paga-
riam os que se propem a garantir a paz e a segurana pblica mais que um
trabalho, uma misso), traz inevitavelmente incidentes, acidente de tra-
balho, por melhores que sejam as intenes de muitos dos que ingressam nos
quadros policiais.
16
Ou seja, o policial Ryan um homem experiente, honesto,
dedicado a seu trabalho, ainda que um tanto tosco, rude, atributo inevitvel
aos que trabalham nas ruas.
14
Imbudo de surpreendente e inoportuna gentileza (ambos esto no interior de um veculo
capotado, prestes a explodir), Ryan chega a abaixar o vestido de Christine, durante o salvamento,
pedindo-lhe a todo o momento licena para toc-la: I need to reach across your lap. Can I do
that please? Christine, ao se defrontar com a morte, implora a Ryan que a salve: Are you gonna
get me out? Ryan a tranquiliza: Look at me. Im gonna get you out. Everything is gonna be
fne.. Salva por Ryan, Christine o abraa, agradecida, protegida, ainda que constrangida.
15
[Ryan, ao se despedir de Hansen] Wait till youve been on the job a few more years. Look at me.
Wait till youve been doing it a little longer. You think you know who you are? You have no idea
16
Te core of the police outlook is this subtle and complex intermingling of the themes of
mission, hedonistic love of action and pessimistic cynicism. Each feeds of and reinforces the
other, even though they may appear superfcially contradictory. Tey lead to a pressure for
results which may strain against legalistic principles of due process. Pace Skolnicks account,
this pressure for ef ciency is not primarily derived externally but a basic motivating force
within police culture. It does, however, relate to the other facets of cop culture suspicion,
isolation/solidarity, conservatism in the way Skolnick suggests. REINER, Robert. Te politics
of the police. Londres: Harvester Wheatsheaf, 1992.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 195
IV. Ainda que a longa cena no deixe dvidas em retratar a prtica de
uma revista policial sexualmente abusiva por Ryan a Christine, o carro de luxo
do bem-sucedido diretor de TV negro parado por Ryan (mesmo aps Han-
sen lhe observar que no a mesma placa do carro roubado que procuravam)
porque o casal (Christine e Cameron), animado no retorno de uma cerim-
nia de premiao, praticava sexo oral com o veculo em movimento. Assim, o
inaceitvel abuso de Ryan, a Christine e a Cameron, acaba sendo contraposto
ao fato de que, tivesse o casal negro se comportado de forma mais decente,
mais civilizada, contendo-se de suas taras sexuais, e no fosse Christine to
desbocada, o desfecho da abordagem, por Ryan, talvez fosse outro. A consci-
ncia, por Cameron, de que seu comportamento no veculo (ao permitir-se a
fellatio de Christine) era socialmente inaceitvel, o deixa nas mos do policial
Ryan.
17
At para evitar o escndalo (sobre as razes da deteno) que eventu-
al reclamao aos rgos correcionais da Polcia lhe acarretariam. Como diz
Christine: no reage Cameron atitude abusiva de Ryan, sequer denunciando-
o, para que seus amigos no se lembrem de que ele [Cameron] nunca passou
de um negro, de quem no se poderia mesmo esperar se comportasse de forma
diversa.
18
Ou (como diria Ryan ou Flanagan): no se comportassem os negros
de forma to desviante das regras da sociedade civilizada (o que tornaria um
mito a discriminao racial na construo dos suspeitos, durante as abor-
dagens policiais)
19
, boa parte de seus problemas com a polcia e a justia no
existiriam. Reedita-se aqui a crena no duro fardo civilizatrio do homem
17
Acusa Ryan: My partner and I just witnessed your wife performing fellatio while you were
operating a motor vehicle. Tats reckless endangerment, which, incidentally, is a felony. We
can charge your wife with lewd conduct in performing sexual act in public. We could use our
discretion and let you go with a warning or we can cuf you and put you in the back of the car.
What do you think we should do, sir?
18
Christine a Cameron: You werent afraid that all your friends at the studio were going to realize
that You know, hes actually black!
19
Sobre o tema, no contexto brasileiro, registre-se recente pesquisa acadmica: RAMOS, Silvia;
MUSUMECI, Leonarda. Elemento suspeito abordagem policial e discriminao na cidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 196
branco, de que nos fala IANNI.
20
Uma vez mais a mensagem: a vida dos bran-
cos seria menos custosa no fossem os negros.
V. Mas isso no basta ao aniquilamento moral de Cameron. O olhar
lascivo do policial sobre Christine (e provocativo de Christine sobre Ryan, an-
tes de sair do carro), entremeada a improprios verbais de uma descontrola-
da Christine
21
, seguida da revista sexualmente abusiva, por Ryan,
22
retira do
jovem negro (j privado do respeito que normalmente sua condio scio-
-econmica superior lhe proporcionaria no basta ter dinheiro, preciso ser
branco) sua prpria masculinidade. H uma castrao simblica de Cameron,
em alguns aspectos tanto impactante que um profundo ato de racismo, embora
dele derivado, a mesclar dimenses de gnero e raa. Cameron humilhado
como homem porque incapaz de proteger sua fmea dos abusos de outro ma-
cho. E no bastasse o estupro simblico de sua mulher (o estupro, como arma
de guerra, constitui-se em imagem corrente ao longo da histria, muito menos
pela satisfao sexual que proporciona, e muito mais pela castrao simblica
do derrotado, a marcar sua patente inferioridade),
23
ainda humilhado por
sua mulher, Christine, que no se conforma com o fato de Cameron no ter
reagido (O que eu preciso de um marido que no fque parado enquanto eu
sou molestada)
24
embora mais tarde Christine procure entender suas razes
20
Sim, no sculo XXI continuam a desenvolverem-se operaes de limpeza tnica, praticadas em
diferentes pases e colnias, compreendendo inclusive pases do primeiro mundo; uma prtica
ofcializada pelo nazismo nos anos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), atingindo judeus,
ciganos, comunistas e outros; em nome da civilizao ocidental, colonizando, combatendo ou
mutilando outras civilizaes, outros povos ou etnias. A guerra de conquista travada pelas elites
governantes e classes dominantes norte-americanas, em 2002 no Afeganisto, e em 2003 no
Iraque, pode perfeitamente fazer parte da longa guerra de conquistas travadas em vrias partes
do mundo, desde o incio dos tempos modernos, como exigncias da misso civilizatria do
Ocidente, como fardo do homem branco, como tcnicas de expanso do capitalismo, visto
como modo de produo e processo civilizatrio. Cabe refetir, portanto, sobre o enigma ou os
enigmas escondidos na questo racial, como sucesso e mutliplicao de xenofobias, etnicismos,
intolerncias, preconceitos, segregaes, racismos e ideologias raciais, desde o incio dos
tempos modernos, em todo o mundo. IANNI, Octavio. Dialtica das relaes raciais. Estudos
avanados, So Paulo, v. 18, n. 50, p. 22, 2004.
21
Christine a Ryan: Fuck you. Tats what this is all about, right? You saw a white woman blowing
a black man and it drove you.
22
Ryan a Christine: Tats quite a mouth you have. Of course, you know that.(...) Youd
be surprised at the places where Ive found weapons.
23
DIKEN, Blent; LAUSTSEN, Carsten. Becoming abject: rape as a weapon of war. Body
and Society, vol. 11, n. 11, 2005, p. 111-128. MILILLO, Diana. Rape as as tactic of war
social and psychological perspectives. Af lia, vol. 21, n. 2, 2006, p. 196-205.
24
[Christine a Cameron] .. what I need is a husband who will not just stand there while Im being
molested.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 197
(ainda que nunca se conforme).
25
Aqui mais uma ironia sobre o politicamente
incorreto: Christine consente que o marido fez coisa certa (o que era menos
lesivo ao corpo e imagem de ambos na situao), mas ainda assim ressente-se
de sua falta de virilidade, de sua dignidade de macho ser subtrada, masculini-
dade que ir mais tarde encontrar na fgura destemida e protetiva do policial
branco e racista que, mesmo pondo em perigo a sua prpria vida, a salva da
morte. Virilidade, coragem, ousadia, utilizados por Ryan com inteligncia e no
momento prprio, e no de forma inoportuna, como a estpida investida de
Cameron aos policiais, quando assaltado por Peter e Anthony.
Ao homem fraco, incapaz de salvar a esposa do abuso ou do perigo, sem
poder denunciar aos rgos competentes o comportamento abusivo de Ryan
(porque tudo teria derivado do comportamento sexualmente promscuo de
Cameron e Christine), contrape-se a superioridade masculina de Ryan, que
no apenas abusa sexualmente de CHRISTINE, frente de seu esposo, mas
corajoso o sufciente para colocar em perigo sua prpria vida para salv-la de
um acidente de carro. Ryan a imagem perfeita do macho, que Christine (re-
forando os esteretipos de gnero) com a ajuda da surpreendente cena do
salvamento a contragosto gostaria de ver em Cameron.
VI. Hansen, o jovem policial branco, reconhecendo Cameron da humi-
lhao que Ryan o submetera, intercede numa outra abordagem policial ao Di-
retor de TV, que tambm tem a vida salva por um policial branco. que Came-
ron, de modo absolutamente irracional, suicida mesmo, no apenas reage a uma
tentativa de roubo a seu veculo (perpetrado por Anthony e Peter), mas, tendo
arrebatado a arma dos ladres, ao invs de exigir sua priso, passa a desafar
os prprios policiais que surgem (como se estivesse a roubar o prprio carro),
pedindo-lhes que se ajoelhassem e lhe praticassem sexo oral, prometendo gestos
ainda mais ameaadores.
26
No fosse pela casual interveno de Hansen, Came-
25
Christine a Cameron: Its not like I havent been pulled over before. But not like that. And yes, I
was a little drunk. And I was mouthing of. Im sorry. But when that man was putting his hands
on me [I dont want to talk about this interrompe Cameron] I couldnt believe you let him.
Look, I know what you did was the right thing. Okay? But I was humiliated. For you. I just
couldnt stand to see that man take away your dignity.
26
Cameron ao grupo de policiais: You fucking want me? Here I am, you pig fuck... Fuck you man.
Pull the fucking trigger. You get on your knees and suck my motherfuck dick while you down
there. [policial responde: Do I look like Im fucking joking with you?] - Tats what you look
like. A fucking joke to me. [Policial fala: Tis man is making threatening gestures] You wanna
see a threatening gesture? I got a threatening gesture for you.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 198
ron certamente seria morto em legtima defesa (como se apressa em esclarecer
o jovem policial Hansen).
27
Pobre Cameron: mal sabe escolher a ocasio e os
meios mais racionais para uma atitude herica, para expressar sua indignao.
Que seria de Cameron, se no fosse Hansen. Ou, uma vez mais: o que seria dos
negros (naturalmente irascveis, temperamentais, impulsivos, inconsequentes,
irracionais como Cameron), se no existissem brancos como Hansen (que salva
a vida de Cameron) ou mesmo de Ryan (que salva a vida de Christine).
VII. O mesmo Cameron, embora diretor de TV, se deixa convencer
pela sugesto de seu assistente branco de reflmar uma cena tecnicamente per-
feita, simplesmente porque o personagem negro ousara utilizar uma frase que
traduziria uma expresso incompatvel com o carter tosco que um negro
presumivelmente estaria fadado a representar (estereotipada, gramaticalmente
inadequada, segundo os registros da norma culta).
28
Vale dizer, Cameron nem
mesmo capaz de exercer seu legtimo e incontrastvel poder como diretor de
uma cena no exerccio de sua profsso, pois a quem nasceu para escravo no
se pode esperar aja como senhor (a dialtica senhor/escravo, de que nos fala
IANNI, no poderia estar aqui melhor simbolizada).
29
Ao contrrio de Ryan, o
27
Hansen a Cameron: Do you wanna die here? Is that what you want? Cause these guys are really
gonna shoot you. And the way youre acting theyll be completely justifed.
28
[O assistente de direo para Cameron, sobre o ator negro indevidamente utilizando a linguagem
correta dos brancos] Is Jamal seeing a speech coach or something?... Have you noticed ... Tis is
weird for a white guy to say. But have you noticed hes talking a lot less black lately?... Really? In
this scene he is supposed to say Dont be talking bout that. And he changed it to Dont talk to
me about that. ...All Im saying is, its not his character. Eddie is supposed to be the smart one.
Not Jamal, right? You are the expert here. But to me, it rings false.
29
A dialtica do escravo e do senhor pode ser tomada como uma das mais importantes alegorias
do mundo moderno, fundamental na flosofa, cincias sociais e artes. Est presente em distintos
crculos sociais, envolvendo tanto etnias e raas, como a mulher e o homem, o jovem e o
adulto, o operrio e o burgus, o rabe e o judeu, o ocidental e o oriental, o norte-americano e
o latino-americano, os sul-africanos e os bers ou afrikaners; diferentes coletividades, grupos
sociais, classes sociais e nacionalidades; todos se relacionando, integrando-se e tensionando-
se no jogo das foras sociais: o indivduo, tomado no singular ou coletivamente, forma-se,
conforma-se e tranforma-se na trama das relaes sociais, formas de sociabilidade, jogos
de foras sociais. So vrias, mutveis e contraditrias as determinaes que constituem o
indivduo, no singular e coletivamente, o que pode transform-lo e transform-los (...) todos
e cada um visto como criados e recriados, modifcados e transfgurados na trama das relaes
sociais, das formas de sociabilidade e dos jogos das foras sociais; envolvendo sempre processos
socioculturais e poltico-econmicos, desdobrando-se em teorias, doutrinas e ideologias. Assim
se d a metamorfose do indivduo em geral, indeterminado, em indivduo em particular,
determinado, concretizado por vrias, distintas e contraditrias determinaes. Esse o clima
em que germina o eu e o outro, o ns e o eles, compreendendo identidade e alteridade,
diversidade e desigualdade, cooperao e hierarquizao, diviso do trabalho social e alienao,
lutas sociais e emancipao. IANNI, Octavio. Dialtica das relaes raciais. Estudos Avanados,
So Paulo, v. 18, n. 50, 2004, p. 27.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 199
policial branco que luta por suas convices e que, a seu modo, mantm o con-
trole de tudo e de todos.
VIII - Em suma, por ser negro, Cameron no macho (porque incapaz
de defender ou satisfazer - sua prpria fmea) e nem rico (apesar de homem
de posses, no respeitado como tal e sua posio econmica no lhe permite,
por razes prprias e externas relacionadas a sua etnia, fazer valer seus direitos).
At porque no sabe se comportar de forma adequada, decente em pblico, ao
volante de seu carro, e no sabe se impor perante as insinuaes estereotipadas
(e racistas) de seu assistente de direo. Ou seja, nem comandar sabe. O atributo
racial priva Cameron, a um s tempo, do ser e do ter, por um ato abusivo de um
agente do Estado, e com o reforo dos esteretipos de gnero que sua mulher pa-
rece mais inclinada a observar. Mais que isso: a tolerncia, a resignao de Came-
ron, os modos de adaptao que aprendeu a realizar para seguir seu rumo numa
sociedade racista, conquanto lhe assegure relativo sucesso profssional, priva-o
de sua dignidade humana (como lhe bradou Christine), na medida em que re-
presentam rituais tpicos da dialtica senhor-escravo. Equilibrando-se de forma
utilitria nessa corda bamba, entre os valores do individualismo e do racismo,
que o leva a dobrar-se diante de Ryan e de seu assistente, Cameron no consegue
ser negro nem consegue ser branco. No consegue ser pobre e nem consegue ser
rico. E s essa constituio moral amorfa, ambgua e contraditria, aniquiladora
de sua individualidade poderia explicar a postura suicida que adota.
IX - Os insultos racistas de Ryan a Shaniqua Johnson, porque presumi-
velmente justifcveis pelos arroubos irracionais de um flho diante do drama
vital do pai, circunscrito s amarras de um sistema de sade injusto, so ob-
nubilados de forma muito mais contundente do que a ntida confsso, por
Shaniqua, de que a soluo para o pai de Ryan poderia ser encaminhada com
maior boa-vontade caso o prprio pai (e no o arrogante Ryan) tivesse com-
parecido (o que no quer dizer que Shaniqua tenha solicitado sua presena).
30
Nesse sentido, no deixa de ter razo Ryan, ao observar que a Shaniqua bas-
taria to-somente um rabisco em sua caneta.
31
Temos ento uma gerente ne-
gra de um plano de sade que, por conta dos insultos (pelo contexto do flme
30
Diz Shaniqua a Ryan: Your father sounds like a good man. And if hed come in here today, I
probably would have approved this request. But he didnt come in. You did. And for his sake its
a real shame.
31
Ryan a Shaniqua And you know how its going to cost you? Nothing. Just a fick of your pen.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 200
justifcveis ante o drama do pai, vivenciado pelo flho, e pelo sacrifcio que
o paciente sofreu em sua vida pessoal com a implantao de polticas de ao
afrmativa), prejudica um terceiro inocente, o idoso e moribundo pai de seu
ofensor. A mensagem, uma vez mais, clara: essas negras so mesmo vingati-
vas, impiedosas, insensveis, arrogantes e ingratas. Sequer se sensibilizam com
a dor sofrida por um idoso doente, mrtir das polticas de ao afrmativa.
32
No por acaso, a mesma SHANIQUA, na cena fnal, logo aps se envolver num
pequeno acidente de carro, dirige-se ao motorista do carro de trs exigindo-lhe
que fale o idioma americano (e no a lngua inglesa),
33
encerrando-se o flme
com mais essa alegoria, da boca de um personagem negro, ao preconceito,
discriminao, ignorncia. Mais uma vez, enquanto Ryan, ao longo do flme
redime-se de suas falhas de carter (de abusador a injustiado), o espectador
assiste (sem redeno alguma) ao rebaixamento moral de Shaniqua.
X - Contrastemos agora a famlia de Ryan com a famlia Waters. En-
quanto o pai do policial Ryan, cidado de bem e trabalhador, conseguiu-lhe
forjar o gosto pelo trabalho lcito (ainda que sujeito a inevitveis acidentes
de percurso) e sua preocupao com o bem-estar de seus familiares, a me
de Graham e Peter, que permanece inativa em sua casa apenas consumindo
crack, duplamente falha em seu legado moral aos flhos. Por um lado, h de
ter falhado (esta a mensagem do flme) na formao moral de Peter, que ao
invs de dedicar-se ao trabalho lcito, torna-se um ladro de automveis. Por
outro lado, embora tenha conseguido incutir em Graham a inclinao para o
trabalho honesto, no se houve bem em fazer com que nutrisse um senso de
solidariedade familiar (a cena em que Graham encontra comida estragada na
geladeira da casa da me, bem sintomtica de seu abandono) ou mesmo o
mnimo senso de respeito familiar, de educao, de civilidade. preciso que
a nomorada de Graham, Ria (Jennifer Esposito), branca - ainda que de ascen-
dncia latina - o repreenda moralmente
34
por ter interrompido a ligao que
sua me lhe fazia para declarar-lhe que no podia atend-la porque estava fa-
zendo amor com uma mulher branca,
35
de cuja nacionalidade nem mesmo est
32
Ryan a Shaniqua And he never blamed you. Now, Im not asking you to help me. Im asking
you to do this small thing, for one who lost everything so people like yourself could reap the
benefts.
33
Shaniqua Dont talk to me unless you speak American.
34
Ria a Graham: What kind of man speaks to this mother that way?
35
Graham a sua me: Mom, I cant talk right now. Im having sex with a white woman.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 201
certo (a tem por mexicana, quando na realidade flha de pais salvadorenhos
e porto-riquenhos, o que lhe vale uma aula de Geografa por parte de Ria).
36
Mais uma vez o esteretipo racista: os negros so mesmo uns mal-educados,
grosseiros, comportam-se de forma menos civilizada que os brancos, do mais
importncia ao sexo que a qualquer outra coisa.
37
Mais isso o de somenos
importncia em relao a Graham: mais signifcativa sua paulatina degradao
moral, ao preferir participar de uma fraude para livrar o irmo de uma priso
que a atender aos insistentes pedidos de sua me para que procurasse o irmo
mais jovem, o trouxesse para casa, o recuperasse, sendo por isso acusado pela
prpria me de ser responsvel pela morte de Peter.
38
XI - A morte do jovem Peter, embora decorrente de uma falsa represen-
tao da realidade pelo policial Hansen (que toma uma estatueta de So Cris-
tvo como se fosse uma arma) antecedida de uma atitude inconsequente de
Peter, que seguidas vezes ignora o apelo de Hansen a mostrar o que tem em
suas mos e no o faz. Como se estivesse pedindo para morrer, numa espcie
de legtima defesa putativa (erro de tipo permissivo). Embora a aparente mo-
ral da histria seja a de que at o insuspeito Hansen guardava um resqucio de
preconceito (que levou a seu equvoco), toda a cena elaborada de modo que
tambm Hansen possa se redimir dessa sua falha trgica, pois tudo indicaria
que Peter o induziu ao equvoco. Mais uma vez, os negros so os responsveis
por seu prprio infortnio. Mais uma vez um embarao causado a um branco
por uma atitude inadequada de um negro. A mensagem clara: maldito dia
em que Hansen (contrariando a postura corrente numa comunidade racista)
resolveu dar carona a um jovem negro. A vida de policiais brancos como Han-
sen seria muito mais fcil no existissem negros inconsequentes como Peter
Assim como Jean Cabot maldisse o instante em que, intuindo que seria assal-
tada por dois jovens negros, no mudou de direo.
XII - Flanagan, assistente do Promotor Rick, enuncia seu brado contra
as polticas de aes afrmativas, com o argumento de que, independentemente
das inegveis constataes de seletividade racial do sistema penal, os negros pa-
recem compulsivamente, atavicamente (diria um darwinista social) inclinados a
36
Ria a Graham: You want a lesson? Ill give you one. What about Geography?
37
Graham para Ria: Okay, I was raised badly. Why dont you take your clothes of and
teach me a lesson.
38
Aps ouvir de Graham que descobriria o assassino de Peter: I already know. You did. I asked
you to fnd your brother. But you were busy.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 202
colocar a mo no jarro
39
, o que, segundo a teoria de Flanagan justifcaria o fato
de que os dois irmos (Peter e Graham), mesmo tendo oportunidades equiva-
lentes, tenham tido destinos completamente dspares.
40
Nesse aspecto, Flanagan
(e o Promotor Rick, que representa) incorpora o que alguns analistas chamam
de racismo ambivalante.
41
Nessa mesma cena nmero 8 de Crash, Flanagan, ao terminar de expor
os fundamentos de sua tese de que no fundo, nenhum negro for que se
cheire, ainda se oferece a, com a generosidade branca, adotar uma poltica
afrmativa to radical que baseada na injustia: pede a colaborao do deteti-
ve negro Graham para que a Promotoria acuse de homicdio com conotaes
raciais um policial branco potencialmente inocente, Conklin, encobrindo as
evidncias de que a vtima (irmo de cor de Graham) no era inocente. Com
a simultnea promessa de promover Graham para uma posio de destaque e
abstendo-se de dar efetividade priso, por tempo indeterminado, do irmo
de sangue, Peter. Tudo isso para que o sistema judicial (sob os auspcios do
Promotor e de seu assistente) sinalizasse estar politica e juridicamente com-
prometido com as minorias tnicas.
39
Flanagan para Graham: Fucking black people, huh? [What did you just say retruca Graham?]
I know all the sociological reasons why per capita, eight times more black men are incarcerated
than white men. Schools are a disgrace, lack of opportunity, bias in the judicial system and that
stuf. All that stuf. But still its gotta get to you on a gut level as a black man. Tey just cant keep
their hands out of the cookie jar. Of course, you and I know thats not the true. But thats the way
it always plays, doesnt it? And assholes like Lewis keep feeding the fames. ...What do you think
those kids need? To make them believe. To give them hope. Do you think they need another
drug-dealing cop? Or a fallen black hero?
40
Flanagan para Graham: Twenty something years old and already three felonies. Tat kids going
away for life for stealing a car. Christ, thats a shitty law. Teres a warrant in there. But he had
every opportunity you had. Fucking black people, huh?
41
Katz, Wackenhut e Hass (1986) afrmam que a ambivalncia a caracterstica mais saliente
nas relaes raciais dos norte-americanos brancos. Estes autores, considerando que os
valores determinam as atitudes e os comportamentos, analisam um suposto confito entre
duas orientaes axiolgicas dos norte-americanos. Por um lado, existe uma valorizao da
democracia e do igualitarismo e por outro tambm importante o individualismo, caracterizado
pela nfase na liberdade pessoal, na autoconfana, na devoo ao trabalho, e na realizao. Estas
duas orientaes podem produzir um confito e gerar ambivalncia de sentimentos e atitudes
dentro dos indivduos. Assim, ao aderir aos valores da igualdade e do humanitarismo os brancos
podem sentir simpatia pelos negros, que esto em pior situao social e econmica. Por outro
lado, a adeso aos valores do individualismo, tpicos da tica protestante, levaria os brancos a
identifcarem os negros como sendo desviantes em relao a estes valores. Esta percepo estaria
na origem de sentimentos de averso e de atitudes negativas em face dos negros. Portanto, a
ambivalncia resulta da dupla percepo de que os negros so desviantes e, ao mesmo tempo,
esto em desvantagem em relao aos brancos. LIMA, Marcus Eugnio Oliveira; VALA, Jorge.
As novas formas de expresso do preconceito e do racismo. Natal: Estudos de Psicologia, vol. 9,
n. 3, 2004, p. 406.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 203
Poucas vezes deparamo-nos com eixo argumentativo e ideolgico (ainda
que fccional) to cruel e cnico como pano de fundo para uma crtica s aes
afrmativas. A proposta indecorosa de Flanagan (de em nome da causa negra
realizar-se uma injustia) parece signifcar um alerta velado, sub-reptcio, dos
perigos, dos riscos a que podemos estar submetidos caso levemos s ltimas
consequncias as medidas compensatrias das desigualdades raciais. Ou (o
que mais grave) como as concesses s reivindicaes de justia, baseadas na
diversidade, seriam no fundo incompatveis com os princpios de justia que
nortearam a civilizao europia e que, posteriormente, foram transplantadas
para suas colnias. Como se os reclamos de incluso social, poltica e jur-
dica das minorias corrompessem o equilbrio perfeito da civilizao branca
de matriz europia. Subverte-se aqui a crtica normalmente feita lgica da
identidade.
42
XIII - Embora se possa afrmar que a soluo particular aventada por
Flanagan (e, por via oblqua, por Rick, na esfera pblica), sendo moralmen-
te insustentvel, no poderia ser adicionada conta das supostas redenes
morais dos personagens brancos, no podemos esquecer que o rebaixamento
moral do policial negro, Graham, que acaba aquiescendo com a proposta de
Flanagan, h de ter relevncia dramtica muito mais proeminente (posto que
vinculado a um personagem com senso tico at ento inabalvel) que as ila-
es de quem desde o incio se apresenta como o responsvel pelo servicinho
sujo de uma instituio do Estado (a Promotoria). Aqui mais uma perversa
42
No cerne da maioria das crticas justia liberal est o que se chama de lgica da identidade:
que a justia depende de as pessoas serem idnticas em importantes aspectos; ou seja, a justia
somente pode ser realizada em comunidades que compartilhem um senso de justia, um senso
de justia que se origina das qualidades que as pessoas tm em comum. O argumento da crtica
contempornea de que tais teorias surgiram porque os flsofos estavam apenas pensando
na justia entre pessoas que realmente compartilhavam caractersticas comuns: cidados do
sexo masculino, proprietrios de Estados nacionais europeus. Isso signifcava que os princpios
de justia e as leis e instituies que eles estabeleceram eram baseados no comportamento e
nos interesses desses cidados do sexo masculino, detentores de propriedade, europeus.
Mulheres, crianas e povos nativos estavam fora do crculo de justia no mbito dos pases
europeus, e os povos nativos estavam fora do crculo de justia no mbito dos pases europeus,
e os povos indgenas das Amricas, frica, sia e Austrlia, colonizados pelos europeus, eram
obviamente excludos. Conforme esses diferentes grupos sociais tm procurado ser includos
como pessoas legitimadas justia, suas reivindicaes somente tm sido bem-sucedidas se
elas forem capazes de demonstrar que so idnticas, em aspectos relevantes, aos dos homens
brancos (MacKINNON). HUDSON, Barbara. Direitos humanos e novo constitucionalismo:
princpios de justia para sociedade divididas. In: CLVE, Clmerson; SARLET, Ingo Wolfgang;
PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 13.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 204
mensagem do chamado de anti-racismo racista incorporado na construo
de Crash: os prprios negros so os corruptores do sistema, na medida em
que, contrariamente s evidncias de sua inadaptao social s regras do
mundo civilizado, alheios s perspectivas do American Dream, ainda foram
maioria branca, em nome da pacifcao social, vez por outra lhes dar eloquen-
tes razes de que o sistema ofcial reconhece que vivemos numa sociedade
injusta e desigual e de que se esfora para diminuir (nem que seja construindo
um mrtir negro e injustiando um branco). A velha lgica racista, subjacente
ao cnico discurso anti-racista de Flanagan: embora tudo fosse mais fcil se
o detetive Lewis no trafcasse, ou se Peter, irmo do detetive Graham, no
praticasse seguidos furtos e roubos, uma vez que o tema da desigualdade racial
adquiriu tamanho peso poltico, inevitvel que os brancos aproveitem as oca-
sies politicamente propcias para uma (falsa) demonstrao de sensibilidade
com as minorias tnicas. Negar o racismo no parece ser mais uma estratgia
vlida. Melhor reconhec-lo enfaticamente, vez por outra, no plano ofcial, na
esfera pblica (aes de governo, declaraes imprensa como as empreen-
didas por Flanagan e Ricky) e continuarmos a subscrever, no ntimo, na ordem
privada, os fundamentos da ideologia racista.
43
XIV - Nenhum atributo moral positivo tampouco vinculado a Dixon,
o tenente negro que se recusa a encaminhar uma acusao formal de racismo
contra Ryan, a que Hansen estava disposto a deduzir, sob o improvvel receio
de que poderia ser acusado de no ter se apercebido antes do comportamento
racista de Ryan, quando este estava sob sua superviso, o que poderia prejudi-
car sua carreira. Como se fosse natural ou plausvel que um policial branco e
racista explicitasse seu preconceito, realizasse seus atos discriminatrios para
que seu superior negro pudesse testemunhar. Mas essa pfa justifcativa para
a recusa de Dixon em encaminhar a reclamao de Hansen um argumen-
to forado para nova mensagem decorrente do rebaixamento moral de outro
personagem negro: esses negros, mesmo quando em posio de comando, so
egostas e prevaricadores, ainda que esteja em jogo a luta pela superao do
racismo.
XV At mesmo Jean Cabot (Sandra Bullock), que abertamente expe
a seu marido Rick suas suspeitas em relao ao chaveiro Daniel (na presena
43
Rick para seus auxiliares: If we cant duck this thing we have to neutralize it. What we
need is a picture of me pinning a medal on a black man.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 205
do prprio Daniel, que ainda se encontrava na residncia) e assume seu pre-
conceito em relao inclinao dos negros criminalidade (na presena da
assistente negra do Promotor Rick), tambm tem a oportunidade de se redi-
mir de seu preconceito contra os outros (negros, latinos, pobres, imigrantes),
quando se sentindo sozinha aps cair da escada de sua nobre residncia, v-se
amparada pela empregada domstica Maria, quando ento a abraa e a chama
de melhor amiga. No mais cordial estilo da dialtica senhor-escravo.
XVI - O personagem trgico do iraniano Farhad, interpretado por
Snaun Toub, que quer uma arma, sem saber como us-la ou que munio lhe
seria mais adequada, que no sabe a distino entre o trabalho de um marce-
neiro e de um chaveiro, que no sabe de suas obrigaes para ter garantido o
pagamento do seguro, representa no um caso de difculdade de comunicao
lingustica, mas de absoluta ignorncia. A aparente difculdade de entendi-
mento da lngua inglesa, atribuda a Fahrad, nitidamente um disfarce para a
caracterizao de um personagem islmico como paranico e inconsequente,
indigno da cidadania americana ou incapaz de compreender a cultura a ela
subjacente. A justifcar os insultos do vendedor americano da loja de armas,
que se nega a vender-lhe a arma, vendo-o como eptome de uma ameaa terro-
rista. A insensatez do vendedor iraniano, que armado vai ao encontro do cha-
veiro, para mat-lo, reputando-o como responsvel por toda a sua desgraa, e
que por pouco no mata a flhinha do chaveiro Daniel, Lara, parece justifcar o
vaticnio racista do vendedor de armas: imigrantes de origem islmica, como
Fahrad, no merecem, de fato, nenhum dos atributos da cidadania americana.
A Amrica seria melhor se no fossem alguns fanticos e paranicos muul-
manos. Pior que isso: a santa ignorncia dos imigrantes (e a prudente omis-
so do vendedor americano branco) teria salvo a vida de Lara (e de Daniel),
quando a flha de Fahrad, Dorri, ao confrontar o vendedor pela injustifcvel
recusa de vender a munio, acaba por adquirir meio que aleatoriamente balas
de festim, como se fossem verdadeiras.
precisamente essa absurda crena (convicta ou inconsciente no deli-
neamento moral dos personagens negros ou islmicos de Crash), de intrnseca
inferioridade de um grupo de pessoas sobre outro, por vezes associada a uma
marca visual ou biolgica (fentipo), por vezes vinculada a aspectos simbli-
cos e culturais, o que constitui precisamente o racismo, alis nica razo para
que esse conceito ainda conserve sua utilidade no plano da anlise dos fen-
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 206
menos sociais,
44
quando h muito (do Apelo de Atenas, produzido em col-
quio da UNESCO, em 1981,
45
s concluses do Projeto Genoma sobre a in-
veno das raas)
46
j no se tem dvida acerca da insubsistncia do conceito
do ponto de vista da Biologia ou da Antropologia fsica . O conceito de raa e
de racismo (a que preferimos novel expresso racialismo) permanece como
uma matriz operacional, no campo do direito, da sociologia, da antropologia
cultural, da psicologia, exatamente porque, como conceito, sintetiza um certo
tipo de subjetividade e de interao social nela baseada que supe uma preten-
samente natural inferiorizao de um grupo sobre outro. Pouco importa que
os argumentos racistas sejam pseudo-cientfcos, do ponto de vista biolgico,
ou que estejam vinculados a marcas de um pretenso processo civilizatrio di-
44
Para sumariar a discusso feita at aqui, afrmo que o conceito de raa no faz sentido seno
no mbito de uma ideologia ou teoria taxonmica, a qual chamarei de racialismo. No seu
emprego cientfco, no se trata de conceito que explique fenmenos ou fatos sociais de ordem
institucional, mas de conceito que ajude o pesquisador a compreender certas aes subjetivamente
intencionadas, ou o sentido subjetivo que orienta certas aes sociais. Tal conceito plenamente
sociolgico apenas por isso, porque no precisa estar referido a um sistema de causao que
requeira um realismo ontolgico. No necessrio reivindicar nenhuma realidade biolgica
das raas para fundamentar a utilizao do conceito em estudos sociolgicos. GUIMARES,
Antonio Srgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. So Paulo: Editora 34, 2. ed., 2005, p. 31.
45
1. As descobertas antropolgicas mais recentes confrmam a unidade da espcie humana. 2. A
disperso geogrfca da espcie humana facilitou sua diferena racial sem no entanto afetar sua
unidade biolgica fundamental. 3. Foi a partir de caractersticas fsicas aparentes que se fzeram
tentativas de classifcao da espcie humana com a preocupao de dar contedo objetivo
ao conceito de raa. Mas esse conceito s pode se basear em caractersticas transmissveis, ou
seja, no em particularidades fsicas aparentes, mas nos fatores genticos que as determinam.
Excertos do manifesto Apelo de Atenas A voz da cincia contra o racismo, de 1981, encontrado
no site da UNESCO (www.unesdoc.unesco.org), acessado em 10/08/07).
46
Podemos apenas repetir que as raas so uma coisa que ns inventamos e que hoje o melhor
modo de resumir o que sabemos sobre a biodiversidade humana ainda o slogan Todos parentes,
todos diferentes. Podemos recordar que a nossa identidade reside somente em pequena parte
na herana biolgica que carregamos dentro de ns, e muito nas pessoas que frequentamos,
nas relaes que somos capazes de estabelecer com os outros, nos modos como gostamos de
gastar nosso tempo, nas viagens que fzemos, nos livros que lemos, na msica que ouvimos:
coisas todas essas que deixaram e deixam em ns uma marca profunda, mas que derivam de
uma escolha nossa, no de uma sentena irreversvel pronunciada no momento em que fomos
concebidos. Aqui, um texto que fala de biologia precisa parar, deixando a cada um a liberdade,
mas tambm a responsabilidade de chegar por si s prprias concluses. BARBUJANI, Guido.
A inveno das raas. So Paulo: Contexto, 2007.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 207
ferenciado.
47
Nesse sentido, a histrica deciso do Supremo Tribunal Federal,
no caso Ellwanger.
48
Reedita-se na fco um fenmeno muito real e concreto, delineado
pelos estudiosos das relaes raciais, relacionado a uma roupagem muito mais
sutil, simblica, privatista do racismo contemporneo do que as formas mais
explcitas, pblicas, as quais (embora ainda presentes) jamais poderiam gozar de
formal aceitao scio-jurdica. Um insidioso reforo dos elementos estigmati-
zadores de um grupo tnico como naturalmente inferior a outo. Uma oposio
assimtrica, ao mesmo tempo cultural, temporal e racial, como teoriza FERES
47
Mas se raa no h, existe ainda a relao racial, quer dizer, o sentimento de dissimetria ou
disparidade nas relaes sociais, provocado pela iluso racial, ou seja, pela predominncia
de um paradigma tnico ou fenotpico sobre outros. o caso da branquitude, o paradigma
ocidental de dominao racial. Por trs dele perfla-se todo o prestgio do capital, da cincia e
do monotesmo europeu, que so universais de dominao econmica e cultural. O preconceito
racial abre mo de seus fundamentos biolgicos, mas aprofunda as suas razes culturais ou
simblicas, apreendidas como razes da supremacia branca. A supremacia no se presta
avaliao externa, ela constitui o seu prprio padro pelo qual devem os outros se medir.
Assim, a pele branca experienciada como o Ocidente absoluto. Vm desse paradigma os
julgamentos que, no sento comum cotidiano, constituem o sistema de crenas ou certezas sobre
o outro, sobre a diferena fenotpica, negro, indgena, oriental, etc. Antes, a criana aprendia
basicamente a partir do adulto; hoje, preciso acrescentar o agenciamento formativo da mdia.
S que no mais preciso ensinar a uma criana (como o faria o velho racista doutrinrio) que
o outro inferior, uma vez que as proposies associadas a este julgamento esto implcitas
no sistema prvio de julgamentos, que funciona como uma espcie de eixo rotatrio de um
corpo em revoluo. (...) Deste modo, o preconceito racial j pode mesmo abrir mo da palavra
racial, pois hoje ele se difratou (como uma bolinha de mercrio) para uma gama ampla de
pequenas certezas, que esto ancoradas no senso comum da branquitude e chegam junto com
uma mirade de proposies culturais hegemnicas. PAIVA, Raquel; SODR, Muniz. Mdia,
comunidade e preconceito racial. Murcia: Sphera Pblica, n. 4, 2004, p. 143.
48
Raa humana. Subdiviso. Inexistncia. Com a defnio e o mapeamento do genoma humano,
cientifcamente no existem distines entre os homens, seja pela segmentao da pele, formato
dos olhos, altura, plos ou por quaisquer outras caractersticas fsicas, visto que todos se
qualifcam como espcie humana. No h diferenas biolgicas entre os seres humanos. Na
essncia so todos iguais. Raa e racismo. A diviso dos seres humanos em raas resulta de
um processo de contedo meramente poltico-social. Desse pressuposto origina-se o racismo
que, por sua vez, gera a discriminao e o preconceito segregacionista. (HC 82424-2, Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Maurcio Correa, julgado em 17/09/03, publicado
no DJ de 19/04/04, p. 17.)
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 208
JNIOR
49
Em Crash, todos, absolutamente todos os personagens negros do
flme so fracos, covardes, submissos, impulsivos, vingativos ou ingratos. Sem
exceo. Essa uma lgica inexorvel do flme que, exatamente pela pretensa
ilogicidade da trama (casualidades), no pode deixar de conter uma conotao
nitidamente racista.
3. Para alm das brancas pipocas a responsabilidade social e
tica da indstria do entretenimento
Lamentavelmente, essa a tnica de algumas obras de fco norte-ame-
ricanas que trabalham, de modo mais explcito, com questes raciais, ainda
que escritas por negros. A pretexto de enfrentarem o racismo, terminam por
sediment-lo de modo ainda mais perverso, posto que sub-reptcio. Em Do the
right thing (Faa a coisa certa), de 1989, escrito, dirigido, produzido e interpre-
tado por Spike Lee, que em muitos aspectos Crash parece ser o complemento
ou a inspirao (o dia mais quente do ano, no primeiro flme, e o dia mais frio
do ano, no segundo so apenas algumas das vinculaes bvias), os persona-
gens negros do flme so ainda mais estigmatizados como indolentes, arruacei-
ros, baderneiros, preguiosos, incivilizados, o que explicitamente enunciado
por eles prprios, quando comparados ao rpido progresso comercial de um
casal de coreanos trabalhadores que se instalam na comunidade,
50
e que acaba
49
claro que, do ponto de vista do observador, o racismo, e mesmo a idia de raa, uma
construo cultural. Contudo, em sua performance, ou seja, como prtica social, o discurso
racial sempre produz verdades que se apresentam alm, ou aqum, da cultura e do tempo. Isso
altera drasticamente o horizonte de expectativas e projetos sobre o Outro. Sua inferioridade
torna-se um problema do qual ele no pode se livrar. A redeno temporal no opera aqui.
Portanto, esse tipo de oposio assimtrica aponta para solues como o controle do corpo do
Outro, inclusive de suas atividades reproduvitas, sua segregao, eugenia e at extermnio. Essa
forma de oposio assimtrica no ocorre em estado puro, mas antes misturada a oposies
de ordem cultural e temporal. Em suma, o Outro racial tambm exibe sinais de inadequao
cultural e de primitivismo. FERES JNIOR, Joo. Aspectos semnticos da discriminao racial
no Brasil para alm da teoria da modernidade. Revista Brasileira de Cincias Sociais, So Paulo,
v. 21, n. 61, p. 172, jun. 2006.
50
Indaga ML (Paulo Benjamin) a seus companheiros Sweet Dick Willie e Coconut sid:
Look at those Koren motherfuckers across the street. I bet they havent been a year of the
motherfucking boat before they opened up their own place. ... A motherfucking year of the
motherfucking boat and got a good business in our neighborhood occupying a building that had
been boarded up for longer than I care to remember and Ive been here a long time. ...Now for
the life of me, I havent been able to fgure this out. Either the Koreans are geniuses or we Blacks
are dumb. [Coconut sid responde] Its gotta be cause were Black. No other explanation, nobody
doesnt want the Black man to be about shit. [Sweet dick Willie] Old excuse.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 209
amplifcado na medida em que o flme ambientado num bairro habitado qua-
se que completamente por negros.
51
52
Em Do the right thing, Sal (Salvatore), interpretado por Danny Ayelo,
um talo-americano trabalhador, que literalmente pe a mo na massa para o
sucesso de sua pizzaria, instalada h 25 anos no bairro do Brooklyn. Emprega
Mookie, jovem negro (interpretado pelo prprio Spike Lee), perdoa seus cons-
tantes atrasos e trata-o como flho, permitindo at que interfra em assuntos
familiares, como o relacionamento conturbado entre Pino e seu irmo. Mookie
apresenta-se e relaciona-se com Sal e seus flhos como se fossem integrantes
de uma mesma famlia e no como empregados e patres. E tal como o pai de
Ryan, em Crash, Salvatore, em Do the right thing, tendo sido sempre um sim-
patizante da comunidade negra, acaba sendo por ela arruinado. Se a runa
pessoal do pai de Ryan, em Crash, teria decorrido dos contratos da Prefeitu-
ra, que passaram a privilegiar polticas afrmativas, Sal, em Do the right thing,
tem sua pizzaria destruda pelos vizinhos negros, revoltados com a morte do
personagem Radio Raheem (Bill Nunn), ao ser detido por policiais que procu-
51
As identidades tambm so estruturadas atravs de relacionamentos. Raa, gnero, religio,
status social, sero mais evidentes em alguns contextos que em outros. Numa vizinhana
predominantemente negra, a negritude pode passar despercebida e as pessoas serem julgadas
por seu carter, sem emprego, o tipo de carro que dirigem, se so bons pais, etc. Para uma pessoa
negra, numa vizinhana branca, a negritude pode ser a primeira e algumas vezes a nica coisa
que notada. HUDSON, Barbara. Direitos humanos e novo constitucionalismo: princpios
de justia para sociedades divididas. In. CLVE, Clmerson; SARLET, Ingo Wolfgang;
PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 15.
52
ARAJO, analisando tais esteretipos na veiculao de telenovelas brasileiras com personagens
negros, observou: Na histria da televiso brasileira, a maioria dos personagens reservados para
os atores negros foram inspirados como atualizao dos esteretipos criados pelos romances
folhetinescos no perodo escravocrata. No sculo passado, os esteretipos mais recorrentes
eram: o negro de ndole escrava, humilde e resignado (a Tia Anastcia e o Pai Toms). A escrava
imoral, robusta e tarada (Xica da Silva). O escravo demnio, quilombola selvagem, traioeiro e
ingrato. O escravo mau e brutal, estuprador, violento, desajustado (o cinema brasileiro foi mais
frtil na utilizao destes dois esteretipos). A mulata sedutora, lasciva, smbolo da sensualidade
e da abundncia da fora e da fauna brasileira (este esteretipo se consolida nos romances de
Alusio de Azevedo e sero atualizados pelos personagens femininos de Jorge Amado). E o
mulato desequilibrado, resultado malsucedido de uma mistura gentica condenada pela cincia
do incio do sculo (Loureiro de Lima, 1984) ao ressentimento social e desequilbrio psicolgico
(Brookshaw, 1983)(embora no sculo XX a mestiagem tenha deixado de ser condenada social
e cientifcamente, o mulato continuou sendo tratado como um ser inferior e bundo nos
programas de TV, a exemplo de vrios personagens interpretados pelo ator afro-brasileiro
Nelson Xavier, nas novelas das oito, como em Renascer e Pedra sobre Pedra). ARAJO, Joel
Zito. Identidade racial e esteretipos sobre o negro na TV brasileira. In: GUIMARES, Antonio
Srgio; HUNTLEY, Lynn. Tirando a mscara - ensaios sobre o racismo no Brasil. So Paulo: Paz
e Terra, 2000, p. 78.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 210
ravam conter a briga na pizzaria, provocada por Radio Raheem e Buggin Out
(Giancarlo Esposito). O flho de Sal, Pino, que explicita em diversas passagens
sua averso pelos negros (embora f de alguns negros diferentes, como Eddie
Murphie, Magic Johnson, Barry Manilow, Prince ),
53
vaticina ao irmo uma
profecia: voc ser apunhalado pelos negros primeira vez que lhes der as
costas, pois nenhum negro confvel.
54
Isso aps tentar convencer o pai, sem
sucesso, a transferir sua pizzaria para outro local, enquanto ainda estivessem
vivos.
55
56
E a profecia se auto-realiza quando, terminada a briga na pizzaria, o
prprio Mookie, o negro protegido de Sal (e tratado como se fosse seu flho e
futuro herdeiro)
57
o primeiro a arrebatar um lato de lixo e arremessar con-
tra a janela da pizzaria, incitando seus demais irmos de cor a fazer o mesmo,
at que destruam completamente o estabelecimento. E no dia seguinte ainda
interpela Sal, o dono da pizzaria, para que pague o que lhe deve, reivindicao
que acaba sendo aceita por Sal, apesar dos prejuzos com a destruio do esta-
belecimento (iniciada por Sal). Sal tira do bolso US$ 500,00 e o joga as cdulas
em direo a Mookie (interpretado pelo prprio Spike Lee), que recolhe cada
cdula do cho. Com efeito, a reivindicao do pagamento, por Mookie (em
meio ao que restou da pizzaria de Sal), difculta eventual interpretao de que
Mookie atirou a lata de lixo, incitando os demais a destruirem a pizzaria, por
simples indignao pela morte de Radio Raheemn (a denotar que a vida sem-
pre haveria de ter um valor maior que o patrimnio). Se assim o fosse, Sal cer-
tamente no teria feito tanta questo de exigir o pagamento (pela destruio
por ele prprio iniciada), em meio ao infortnio pessoal de Sal.
53
Pino conversando com Mookie: Its diferent. Magic, Eddie, Prince are not niggers. I mean, are
not black. I mean, theyre black but not really black. Teyre more than black. Its diferent.
54
Pino para Vito: Good. Vito, you trust that Mookie too much. So does Pop. [Mookies Ok,
responde Vito]. Prossegue Pino: Mookie is not to be trusted. No Moulan Yan can be trusted.
Te frst time you turn your back, boom, a knife right here. In the back. In the back.
55
Dilogo de Pino para o pai, Sal: - Pop. I think we should sell this place, get outta here while
were still ahead... and alive. Since when do you know whats best for us? - ouldnt we sell this
and open up a new one in our own neighborhood? Too many pizzerias already there? Ten
we could try something else. We dont know nothing else. Im sick of niggers, its a bad
neighborhood. I dont like being around them, theyre animals. [Vito: Some are OK]
56
[Pino para o pai, Sal] Pop, what else can I say? I dont wanna be here, they dont want us here.
We should stay in our own neighborhood, stay in Bensonhust. [Sal responde] So what if this
is a black neighboord, so what if were a minority. Ive never had no trouble with these people,
dont want none either, so dont start none. Tis is America. Sals famous pizzeria is here for
good. You think you know it all? Well, you dont. Im your father, you better remember that.
57
[Sal] We did good business today. We got a good thing going. Nothing like a family in business
working together. One day the both of you will take over... and Mookie, there will always be a
place for you at Sals famous pizzeria. Yknow, it should be Sals and sons famous pizzeria.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 211
Assim como em Crash o racismo de Ryan obtemperado pelo compor-
tamento indecente (de Christine e Cameron), vingativo, injusto, ingrato (de
Shaniqua Johnson) ou criminoso (os ladres Anthony e Peter), de quem sim-
plesmente se recusa a trabalhar duro, tomar nibus, fazer servios subalternos,
o racismo de Pino tambm neutralizado pela ingratido e intolerncia de
Mookie (e toda a comunidade negra do bairro) a Salvatore, o bonacho dono
da pizzaria, at ento orgulhoso de alimentar geraes de vizinhos negros, en-
cantado com a beleza de Jade, irm de Mookie.
como se no fundo Ryan (de Crash) e Pino (de Do the right thing) no
fossem racistas (parece ser esta uma representao simblica e ideolgica co-
mum a ambos os flmes), mas simplesmente no tolerassem negros vagabun-
dos, desordeiros, indolentes, incivilizados, os quais se recusam a arcar com o
nus (do trabalho duro, da dedicao, do estudo, da disciplina) que alimen-
tam o progresso individual, conquanto reivindiquem direitos de igualdade.
58
Como se os prprios negros fossem responsveis pela discriminao que
recebem, que seria muito mais decorrente de uma postura individual diante
da vida (reivindicassem menos e trabalhassem mais, seriam mais felizes) e no
por razes histricas, polticas e scio-econmicas. Nessas obras de fco, a
postura indolente diante da vida (que evidentemente pode ser reconhecida em
qualquer grupo tnico) sempre estigmatizada como pertencentes aos negros
(at os latinos ou orientais, nesse aspecto so poupados vide as imagens po-
sitivas de trabalhadores atreladas a Ria, Daniel e Dorri em Crash, e do casal
coreano em Do the right thing). Como se o racismo, o preconceito, a discrimi-
nao racial no fossem inveno dos brancos, mas dos prprios negros, cujos
comportamentos sociais estariam sempre a justifcar que, em verdade, no es-
58
Talvez no seja correto, contudo, identifcar a somente a imputao de expectativas de
comportamento pr-moderno. Frases como servio de preto, quando no faz na entrada, faz
na sada, por exemplo, podem de fato ser lidas como uma expectativa de performance pr-
moderna: falta de aplicao no trabalho, falta de capacidade de planejamento etc. Por outro
lado, elas tambm denotam falta de capacidade racional tout court, incapacidade moral,
infantilismo e primitivismo que so, por sua vez, e isso digno de destaque, atribudos a causas
raciais, ou seja, de matriz biolgica (...) Portanto, o problema da negao do reconhecimento
dos direitos iguais aos negros no se limita projeo de expectativas pr-modernas, pois
se assenta na prtica mais bsica de consider-los como seres subhumanos, seres que, como
Koselleck brilhantemente notou em seu estudo de ideologia nazista, esto fora da humanidade
(1985). Em suma, o problema do preconceito racial, como notamos na anlise do horizonte de
expectativas da oposio assimtrica racial, no somente o de produzir subcidadania, mas sim
o de produzir subhumanidade. FERES JUNIOR, Joo. Aspectos semnticos da discriminao
racial no Brasil para alm da teoria da modernidade. Revista Brasileira de Cincias Criminais,
So Paulo, v. 21, n. 61, p. 164-176, jun. 2006.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 212
to ainda em condies de compreender e de se amoldar s regras do mundo
civilizatrio branco e ocidental. Um racismo ancorado numa ideologia (no
sentido que lhe d CHAU
7;
), reinventado e justifcado pelos prprios negros.
Como se gratuitamente ou por livre e espontnea vontade, preenchessem em
nmero to expressivo as vagas dos presdios, dos necrotrios, dos subempre-
gos, dos hospitais psiquitricos (como criticamente menciona a pungente letra
de uma cano popular brasileira
60
). Ambos os flmes carreiam a sub-reptcia
mensagem da irracionalidade, da passividade, da submisso, do inato desajus-
te (inadaptao social), incivilidade dos grupos minoritrios, o que constitui
uma expresso mais subtil (e no menos perversa) de preconceito racial, uma
espcie de racismo de atitudes.
61
Crash ou Do the right thing encaixam-se naquilo que rotulamos de anti-
racismo racista. E a Hollywood, ao pretender-se sria, engajada, ao tocar te-
mas alm do simples e puro entretenimento, acaba colocando mais um tijolo
simblico na longo e paulatina construo e reforo estrutural de esteretipos
acerca dos negros, alimentando o racismo e e pouco contribuindo para supri-
mir o preconceito e a discriminao racial. Por isso, recebemos com surpresa o
fato de o flme ter sido ganhador (alm de uma dezena de outros prmios) do
59
A ideologia um conjunto lgico, sistemtico e coerente de representaes (idias e valores)
e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o
que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que
devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela , portanto, um
corpo explicativo (representaes) e prtico (normas, regras, preceitos) de carter prescritivo,
normativo, regulador, cuja funo dar aos membros de uma sociedade dividida em classes
uma explicao racional para as diferenas sociais, polticas e culturais, sem jamais atribuir
tais diferenas diviso da sociedade em classes a partir das divises na esfera da produo.
Pelo contrrio, a funo da ideologia a de apagar as diferenas como de classes e fornecer
aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais
identifcadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a
Igualdade, a Nao, ou o Estado. CHAU, Marilena. O que ideologia. 2. ed., So Paulo:
Brasiliense, 2001, p. 108.
60
1 estrofe da cano A carne, de Seu Jorge, Marcelo Yuca e Ulisses Cappelletti, imortalizada
na voz da cantora Elza Soares: A carne mais barata do mercado/ a carne negra/ Que vai de
graa pro presdio/E para debaixo do plstico/E vai de graa pro subemprego/E pros hospitais
psiquitricos.
61
Quais os mecanismos e instituies sociais que permitem o funcionamento do racismo como
sistema no reconhecido juridicamente e apenas apoiado no racismo de atitudes? Primeiro,
alterou-se a forma de legitimao social do discurso sobre as diferenas. As explicaes das
desigualdades sociais pelas raas foram substitudas por explicaes que usavam o conceito de
cultura, persistindo, portanto, a noo da superioridade da cultura e da civilizao brancas ou
europias sobre a cultura e civilizao negas ou africanas, publicamente como incultas ou
incivilizadas. GUIMARES, Antonio Srgio. Combatendo o racismo: Brasil, frica do Sul e
Estados Unidos. Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol. 14, n. 39, jan. 99, p. 107.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 213
Humanitas Prize, prmio de excelncia na escrita cinematogrfca e televisiva,
dedicado a louvar histrias que afrmam a dignidade da pessoa humana, in-
vestigam o signifcado da vida, e iluminam o exerccio da liberdade humana; a
histrias que velam pela humanidade comum, para que o amor possa permear
a famlia humana e auxiliar a liberar, enriquecer e unifcar a sociedade.
62
Igual-
mente surpreendentes os inmeros prmios, coletivos ou individuais, relacio-
nados ao flme, conferidos pelo Black Movie Awards. Surpresa porque, por trs
das explcitas cenas de dio, preconceito, racismo, que evidentemente chocam
e escandalizam o espectador (e que, evidentemente, o flme procura repudiar,
denunciando-a de forma brutal), esconde-se (consciente ou inconscientemen-
te) uma mensagem moral muito incisiva e penetrante (posto que sub-reptcia)
na linha diametralmente oposta quela (socialmente responsvel) que os auto-
res da histria apregoam: o que seria dos negros se no fossem os brancos ou
(o que a mesma coisa): como o mundo dos brancos seria melhor no fossem
os negros.
Convm frisar que no estamos aqui a patrulhar uma obra de fco,
exigindo que siga o caminho do bom samaritano, execrando, de forma expl-
cita, unilateral ou romntica os males do racismo, sem deixar qualquer
mensagem ambgua acerca do posicionamento de seus criadores ou de seus
personagens. A indstria do entretenimento seria mesmo muito enfadonha
se tivssemos de ler todos as obras de fco como documentrios ou papers
acadmicos. Ocorre que quando uma obra de fco se prope a abordar, de
forma direta e convicta, temas sociais, jurdicos ou polticos, abre-se neces-
sariamente ao escrutnio universal de sua tessitura discursiva, quer queiram
ou no seus criadores. As artes em geral e a mdia televisiva e cinemtica, em
especial (ante seu extenso, instantneo e global efeito difusor) no podem se
eximir de sua responsabilidade social, tica e poltica. Principalmente quando
seus criadores optam por trabalhar com temas e enfoques especialmente com-
plexos no plano das razes e das sensibilidades como a questo racial,
ainda mais entrecortada por vetores de gnero, classe, igualdade e justia. Se ao
procurar faz-lo, acabam por sutilmente reforar esteretipos histricos, cul-
turais e sociais, to deletrios luta secular e universal de erradicao do racis-
mo, do preconceito, do dio, da discriminao, todos aqueles comprometidos
62
Traduo livre do signifcado do prmio, consoante registrado em sua prpria pgina eletrnica
(www.humanitasprize.org.br).
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 214
com essa luta, devem dar-se ao direito (aos intelectuais, evidentemente, com as
armas do rigor analtico, com fundamentao o menos passional possvel) de
contrapor vises alternativas, crticas ou mesmo opostas ideologia a que tais
obras procuram se apoiar ou referendar. .
Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no caso Ellwanger, exi-
gir do trabalho intelectual (profssional, artstico, cientfco ou de entreteni-
mento) responsabilidades ticas, e conformidade com os ditames de nossas
leis, constituies e tratados internacionais no signifca suprimir ou reduzir a
liberdade de expresso, mas de harmoniz-las como princpios e valores caros,
como a igualdade e a dignidade da pessoa humana.
63
Com efeito, as polmicas
obras de Ellwanger (que se propunham a refutar o holocausto judeu, fazendo
apologia de idias preconceituosas e discriminatrias) ao menos no renegam
seus objetivos explcitos. Talvez at mais perigosas e deletrias sejam as sub-
reptcias, insidiosas formas de racismo em meio a trabalhos desde o incio
orientados a expor uma tese contrria ao racismo.
4. The end ou at quando? guisa de concluso
Crash mais que uma pancada, uma coliso, soco na boca do estmago
de todos os que sinceramente acreditam no ideal de solidariedade e de fraterna
convivncia entre as vrias etnias, entre os diversos grupos sociais. Pressupe
irremedivel um confito entre, de um lado, os cidados americanos, brancos
e ocidentais (sintetizados na formula WASP white anglo-saxon puritan)
e, de outro lado, cidados negros, latinos e orientais. Apresenta elementos de
uma rica, reiterada e consistente imagstica (acima demonstrada), de coerncia
absolutamente incoerente com a aparente incoerncia e casualidade da trama,
no sentido de um inevitvel aniquilamento moral de um grupo sobre o outro,
embora aparentemente a isso pretenda se opor.
Os esbarres, os encontres fsicos, os confitos, os choques, as incom-
preenses que o flme retrata na interao dos personagens no deixam escon-
der, qual ato falho, uma viso profundamente centrada (ou inconscientemente
63
As liberdades pblicas no so incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira
harmnica, observados os limites defnidos na prpria Constituio Federal (CF, artigo 5,
2, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expresso no consagra o direito
incitao do racismo, dado que um direito individual no pode constituir-se em salvaguarda
de condutas ilcitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalncia dos princpios da
dignidade da pessoa humana e da igualdade jurdica. [Precedente do STF j citado].
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 215
arraigada) na natural superioridade de um grupo tnico sobre o outro. Os em-
bates e confitos raciais, retratados no flme, permeiam uma atitude ambgua,
de atrao e repulsa ao prprio racismo, com suas explosivas combinaes
com as dimenses de gnero, classe, igualdade e justia.
Quem sabe precisemos mais de flmes em que a temtica racial, meio s
interaes sociais, polticas, econmicas e amorosas entre os personagens, no
se apresentem como temtica racial, mas exatamente para propor sua supera-
o, retratem de tal forma o inter-relacionamento entre negros e brancos como
algo indigno de chamar ateno. E que o delineamento moral dos persona-
gens no seja to abusivamente seletivo, discriminatrio. Se com DURKHEIM
aprendemos que o crime h de ser considerado um fato social normal, ainda
que de consequncias indesejveis, a legitimar uma resposta penal do Esta-
do (como censura ou como sano), que ento esteja relacionado, tambm na
fco, como um fato associado a pessoais normais, brancas e negras, altas e
magras, gordas e brancas, ricos e pobres, latinos ou orientais. Oxal vivencie-
mos o dia em que no precisemos acrescentar marcas fenotpicas adjetivando
profsses, papis e funes sociais (o prefeito negro, o jogador negro, o as-
tronauta negro, o msico negro, o cientista negro, o artista negro, o assaltante
negro), se certo que tais adjetivaes nunca se fazem presentes em relao
aos brancos.
64
O alerta que esperamos promover nessa anlise de Crash (e aproveito
aqui para render minhas sinceras homenagens aos geniais organizadores des-
sa coletnea de ensaios) de que, embora no se trate de um documentrio
(cuja verdade dos fatos pode ser facilmente contraposta) ou de um ensaio
acadmico (cuja verdade das idias pode ser igualmente refutada), a estrutu-
ra simblica e ideolgica de seu roteiro encerra elementos analticos em torno
da questo racial que nos permite concluir ser manifestamente falsa e engana-
dora a lgica ou justifcativa de sua trama como que uma crua retratao
do racismo, para que nos envergonhemos de sua existncia. A forma como os
personagens brancos e negros se entrelaam, se esbarram, trombam e caem,
em suas falas, atos e concepes morais, deixa muito bem impressa a mensa-
64
Cabem aqui as palavras de Anthony, em sua tentativa de conscientizar Peter de que o hip hop,
aparentemente um cone da cultura negra, seria a msica do opressor: Listen to it, man.
Nigger this, nigger that. Tink white people go around calling each other honkies? Honky!
Hows business? Going great, cracker. Were diversifying.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 216
gem de uma pretensa superioridade branca.
65
Como se o mundo pudesse ser
menos problemtico, menos confituoso, mais pacfco, no fossem os negros.
Talvez eles representem as perturbadoras pequenas nuvens negras que per-
manecem pairando ao redor (de que nos fala a letra da msica-tema do flme,
Maybe tomorrow), impedindo os brancos e ricos de chegarem, sem sobressal-
tos ou confitos de conscincia, ao encontro de seus lares.
66
Talvez no futuro (maybe tomorrow), sem se perder ou retroceder, o tema
das relaes raciais, na cinematografa hollywoodiana, possa vir emoldurado
por histrias fccionais que sinceramente acreditem na diferena e na diversi-
dade como parceiras (e no obstculos) democracia, ao estado de direito,
justia, ao desenvolvimento humano. Que no abusem, consciente e inconscien-
temente de smbolos, valores, crenas e esteretipos que hierarquizem etnias ou
culturas (expresso maior do racismo), justifcando e perpetuando, de forma to
perversa, a discriminao, o dio, a intolerncia.
67
Que no substituam a violn-
cia real pela violncia simblica, centrada numa ideologia desagregadora. E que
qualquer semelhana (no delineamento moral dos personagens de uma histria)
com os esteretipos racistas da vida real, possa ser de fato mera coincidncia.
REFERNCIAS:
ARAJO, Joel Zito. Identidade racial e esteretipos sobre o negro na TV brasileira. In:
GUIMARES, Antonio Srgio; HUNTLEY, Lynn. Tirando a mscara - ensaios sobre o
racismo no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
BARBUJANI, Guido. A inveno das raas. So Paulo: Contexto, 2007.
65
PAIVA, Raquel; SODR, Muniz. Mdia, comunidade e preconceito racial. Murcia: Sphera Pblica,
n. 4, p. 141- 149, 2004.
66
[1 estrofe da cano Maybe tomorrow, escrita por Kelly Jones, Richard Mark Jones e Stuart
Cable, interpretada pela banda gaulesa Stereophonics] Ive been down and/Im wondering
why/Tese little black clouds/Keep walking around with me/With me... So maybe tomorrow/Ill
fnd my way home.
67
Com o processo de mundializao da cultura, atravs da competitiva e hegemnica indstria
cultural dos Estados Unidos, avolumou-se a presena de produtos culturais para TV, dirigidos
ou representados por afro-norteamericanos. Esta crescente presena de flmes, sries policiais,
sitcoms, shows e clips de msicos negros, com um tratamento positivo, tende tambm a
infuenciar novos padres de imagens e presenas da cultura negra brasileira na televiso.
Entretanto, as imagens contraditrias permanecero. A histria do cinema e da TV tem um
grande peso sobre o presente: um sculo de cinema e meio sculo de televiso, marcados pela
dominao branca, pelas fantasias e pelos conceitos errneos que a cultura branca tem da cultura
negra, continuaro a desflar diante dos nossos olhos. ARAJO, Joel Zito. Identidade racial e
esteretipos sobre o negro na TV brasileira. In: GUIMARES, Antonio Srgio; HUNTLEY,
Lynn. Tirando a mscara - ensaios sobre o racismo no Brasil. So Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 77.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 217
CHAU, Marilena. O que ideologia. 2. ed., So Paulo: Brasiliense, 2001, p. 108.
DIKEN, Blent; LAUSTSEN, Carsten. Becoming abject: rape as a weapon of war. Body
and Society, vol. 11, n. 11.
FERES JNIOR, Joo. Aspectos semnticos da discriminao racial no Brasil para
alm da teoria da modernidade. Revista Brasileira de Cincias Sociais, So Paulo, v. 21,
n. 61, jun. 2006.
GUIMARES, Antonio Srgio. Combatendo o racismo: Brasil, frica do Sul e Estados
Unidos. Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol. 14, n. 39, jan. 99.
GUIMARES, Antonio Srgio. Racismo e anti-racismo no Brasil. So Paulo: Editora 34.
2005.
HUDSON, Barbara. Direitos humanos e novo constitucionalismo: princpios de
justia para sociedades divididas. In: CLVE, Clmerson; SARLET, Ingo Wolfgang;
PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio de Janeiro:
Forense, 2007.
IANNI, Octavio. Dialtica das relaes raciais. Estudos Avanados, So Paulo, v 18, n.
50, 2004.
LIMA, Marcus Eugnio Oliveira; VALA, Jorge. As novas formas de expresso do
preconceito e do racismo. Natal: Estudos de Psicologia, vol. 9, n. 3, 2004.
MILILLO, Diana. Rape as tactic of war social and psychological perspectives. Af lia,
vol. 21, n. 2, 2006.
PAIVA, Raquel; SODR, Muniz. Mdia, comunidade e preconceito racial. Murcia: Sphera
Pblica, n. 4, 2004.
RAMOS, Silvia; MUSUMECI, Leonarda. Elemento suspeito abordagem policial e
discriminao na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
REINER, Robert. Te politics of the police. Londres: Harvester Wheatsheaf, 1992.
ROSO, Adriane et al.. Cultura e ideologia: a mdia revelando esteretipos raciais de
gnero. Psicologia e Sociedade, v. 14, n. 2, jul./dez. 2002.
SCHICHOR, David; SECHREST, DALE K., eds. Tree Strikes and Youre Out - Vengeance
as Public Policy. Tousand Oaks (California): Sage, 1996.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 82424-2. Relator Ministro Maurcio Correa,
julgado em 17/09/03, publicado no DJ de 19/04/04, p. 17.
UNESCO. Apelo de Atenas A voz da cincia contra o racismo, de 1981. www.unesdoc.
unesco.org - Acessado em 10/08/07.
Cristina Zackseski
O
documentrio Notcias de uma guerra particular, dirigido por Joo
Moreira Salles e Ktia Lund, do qual trata este artigo foi rodado no Rio
de Janeiro entre 1997 e 1998. Esta gravao trouxe vrios problemas
para seus participan tes naquela poca. O contato que os diretores estabeleceram
com o mundo do trfco provocou reaes sociais e institu cionais, como
retaliaes na imprensa e intimaes policiais. Joo Moreira Salles chegou a ser
indiciado por favorecimen to pessoal
1
por ter pago uma bolsa de mil dlares
para que o famoso e j falecido trafcante Marcinho VP
2
escrevesse um livro. O
cineasta tambm teve que comparecer para depor na CPI do Narcotrfco no
ano de 2000. Ktia Lund deu uma entrevista revista ISTO em 2002, depois
de seu compa recimento polcia motivado pela presena de um trafcante na
pr-estria de Cidade de Deus
3
. Nesta entrevista ela men cionou a autorizao
concedida por Marcinho VP para que a equipe transitasse na favela durante
as flmagens do do cumentrio. Segundo ela as exigncias apresentadas pelos
trafcantes foram: que fosse oferecido o mximo de oportuni dade de trabalho
para os moradores da comunidade e para que o resultado fosse real, a invs de
uma fantasia sobre o confito que alimenta a diviso entre o morro e o asfalto.
4
A denncia contida no documentrio sobre a situao da violncia nos
morros cariocas j tem mais de dez anos sem que tenham sido escutados al-
1
Favorecimento pessoal: Artigo 348 do Cdigo Penal: Auxiliar a subtrair-se ao de autoridade
pblica autor de crime a que cominada pena de recluso. Pena - deteno, de um a seis meses,
e multa.
2
Lder do trfco no Morro Dona Marta na poca do documentrio. A vida do trafcante motivou
o trabalho do jornalista Caco Barcelos que, durante cinco anos dedicou-se a redigir sua biografa.
BARCELOS, Caco. Abusado: o dono do morro dona Marta. Rio de Janeiro: Record, 2003. Em
2003, dois meses depois do livro ter sido lanado Marcinho VP foi en contrado morto em uma
lixeira na Penitenciria de Bangu III.
3
Filme co-dirigido com Fernando Meirelles.
4
ALVES, Chico; MELO, Liana. Entre o asfalto e o morro. Isto , So Paulo, 2 out. 2002. (Entrevista
com Ktia Lund).
NOTCIAS DE UMA GUERRA PARTICULAR:
Um olhar sobre as subculturas
criminais cariocas do f nal
do Sculo XX
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 220
guns de seus bons argu mentos. Deles iremos tratar neste artigo, a partir da
experin cia acadmica em Curso de Criminologia ministrado na Gra duao
em Direito do Centro Universitrio de Braslia. Nesta experincia o documen-
trio em questo tem sido utilizado h anos, com sucesso, como recurso did-
tico para uma refexo bem especfca, que diz respeito a duas teorias da Socio-
logia Criminal norte-americana, que so a Teoria das Subculturas Criminais e
a Teoria das Tcnicas de Neutralizao.
As teorias subculturais sustentam trs idias fun damentais:
o carter pluralista e atomizado da ordem social, a cober-
tura normativa da conduta desviada e a semelhana cultu-
ral, em sua gne se, do comportamento regular e irregular.
A pre missa destas teorias subculturais antes de tudo,
contrria imagem monoltica da ordem social que era
oferecida pela Criminologia tradicional. A ordem social,
na verdade, um mosaico de gru pos e subgrupos, frag-
mentado, confitivo; cada grupo ou subgrupo possui seu
prprio cdigo de valores, que nem sempre coincidem
com os va lores majoritrios e ofciais, e todos cuidam de
faz-los valer frente aos restantes, ocupando o correspon-
dente espao social.
5
As principais contribuies para este desenvolvimen to terico so pro-
venientes da obra de dois autores: Edwin Sutherland e Albert Cohen. O pri-
meiro elaborou a Teoria das Associaes Diferenciais, segundo a qual a crimi-
nalidade se explicaria pela aprendizagem e esta se daria conforme os con tatos
frequentes e estreitos que o indivduo teria com compor tamentos conformistas
ou desviantes, ou seja, o indivduo se tornaria criminoso em razo das asso-
ciaes diferenciais.
6
O segundo autor dedicou-se compreenso da sub cultura dos bandos
juvenis
7
, pois lhe intrigava a concentrao dos ndices criminais nas classes
baixas dos bairros pobres norte-americanos no incio do Sculo XX. Para ele
5
GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antnio. Criminologia. So Paulo: RT, 2000. p. 296.
6
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1999. p. 71. Edwin H. Sutherland contribuiu para a teoria das subculturas criminais,
principalmente com a anlise das formas de aprendizagem do comportamento criminoso e da
dependncia desta aprendizagem das vrias associaes diferenciais que o indivduo tem com
outros indivduos ou grupos.
7
Ibidem, p. 73. Esta descrita como um sistema de crenas e de valores, cuja origem extrada
de um processo de interao entre rapazes que, no interior da estrutura social, ocupam posies
semelhantes.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 221
a subcul tura representaria a soluo de problemas de adaptao para os quais
a cultura dominante no oferece solues satisfa trias, pois a estrutura social
induziria nos adolescentes da classe operria uma incapacidade de se adaptar
cultura of cial, fazendo surgir neles problemas de status e de autocon siderao.
A subculutra resultante (caracterizada pela malva deza e pelo negativismo)
permitiria aos que dela fazem parte, [...] exprimir e justifcar a hostilidade e a
agresso contra as causas da prpria frustrao social.
8
Destacamos o fato de que estas teorias foram elabo radas num momento
de profundas transformaes na socie dade norte-americana, decorrente do ex-
cessivo crescimen to das cidades devido aos movimentos migratrios do incio
do Sculo XX. A presena dos imigrantes tornou evidente os confitos resultan-
tes da diversidade cultural (e normativa), as sim como tornou necessrio o seu
estudo. Entretanto, as ex plicaes da Teoria das Subculturas, embora apresen-
tassem a sociedade de forma pluralista, a apresentavam de forma ainda incon-
sistente, levando a crer que cada grupo possui ria cdigos de valores e normas
distintos e excludentes dos demais, o que no corresponde realidade. Cada
membro de cada grupo apreende regras prprias do grupo no qual socializa-
do, mas tambm tem conhecimento da existncia de regras sociais distintas e/
ou confitantes com as suas. Surge ento outro esquema terico representado
pela Teoria das Tcnicas de Neutralizao, que segundo Alessandro Baratta
uma correo da Teoria das Subculturas. A partir desta cor reo no se trataria
apenas de uma aprendizagem de cdi gos de valores e normas distintos, e sim
da aprendizagem de tcnicas de neutralizao que tornariam possvel a adeso
subcultura e a negao da cultura dominante, como exemplif caremos no de-
correr do texto.
9
Ou seja, a delinquncia emer giria a partir do aprendizado das
tcnicas que permitiriam aos excludos a neutralizao das regras dos extratos
mdios da cultura norte-americana, e no simplesmente pelo aprendiza do de
um padro normativo e comportamental distinto deste e com ele confitante.
importante ressaltar que neste texto procuramos destacar o fato de que
a discusso orientada teoricamente sempre mais produtiva, pois nos permite
8
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1999.
9
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1999.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 222
enxergar os limites e as possibilidades de ao que as imagens e opinies do do-
cumentrio nos oferecem. Contudo, ainda que o documentrio seja utilizado
para refexes sobre as teorias citadas, a Teoria Crtica contribui para libertar-
nos das teo rias sociolgicas da primeira metade do Sculo XX e aprovei tarmos
melhor da refexo atual proveniente da Criminologia Crtica e da Poltica Cri-
minal Alternativa, que ganharam fora como esquemas tericos da segunda
metade do Sculo XX em diante. Sendo assim, no estamos preocupados com
as causas do crime (se a socializao em outra cultura ou a neutralizao da
cultura ofcial) e sim com a maneira com que os confitos so colocados, enten-
didos e redimensionados por informaes tericas e situaes cotidianas que
contribuem para outros olhares sobre o mesmo objeto que a violncia.
Um dos argumentos apresentados no incio do docu mentrio o de que
a expanso do trfco de drogas a partir da metade da dcada de oitenta
diretamente responsvel pelo aumento vertiginoso do nmero de homicdios.
Esta afr mao se sustenta empiricamente, ainda que os dados a res peito no
sejam to especfcos. Mas se considerarmos vrios elementos de uma pesquisa
feita pelo Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) sobre o assunto
temos o seguinte panorama:
- O pas passou de uma taxa de 11,4 vtimas de homi cdios por 100.000
habitantes em 1980 para 29,1 em 2003.
10
-Seja como for, atualmente o crescimento do crime organizado, o alto
grau de impunidade e o fcil acesso a ar mas de fogo so apontados como trs
entre os principais res ponsveis pelo crescimento dos homicdios.
11
10
INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA. Radar social 2005. Rio de Janeiro:
IPEA, 2005. p. 108.
11
Ibidem, p.110. No queremos dizer com isso que concordamos com a defnio legal, nem com
a defnio cotidiana do que seja o crime organizado, que na maior parte das vezes confun-
dido com organizao criminosa. Tambm no aceitamos consideraes genricas sobre a
impunidade, que revelam uma tendncia a uma sociedade policialesca, incapaz de resolver seus
confitos sem utilizar o recurso da punio. Tampouco concordamos com o recm frustrado
Referendo do Desarmamento, que no permitiu discusses e decises sobre a proibio ou no
da fabricao de armas. No entanto, advertimos para o uso que o estudo citado faz sobre o
problema da impunidade, ressaltando a necessidade de respostas para crimes cometidos pelos
prprios agentes estatais (Idem, p. 112). Existem neste estudo outras afrmaes importantes
sobre o problema da violncia, den tre as quais destacamos a seguinte: As altas taxas de
vitimizao e de sensao de in segurana existentes no Brasil favorecem a incidncia de vrios
problemas como distr bios psicolgicos (sndrome do pnico, por exemplo), reduo de
contatos sociais, apoio a solues populistas e inefcazes (pena de morte e tortura) e apoio a
abusos de policiais e aes de grupos de extermnio.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 223
-Entre as atividades do crime organizado, o trfco de drogas um dos
que mais se destacam.
12
- Esto em pior situao Pernambuco e Rio de Ja neiro (ambos com 54,7
vtimas de homicdios por 100.000 habitantes).
13
-Em 2003 66% ou 2 em cada 3 homicdios no Brasil foram provocados
por armas de fogo.
14
Ktia Lund, na entrevista j referida, posiciona-se con tra a criminaliza-
o das drogas com as seguintes palavras:
Fala-se do trfco de drogas para distrair as pes soas e im-
pedi-las de falar do que realmente in teressa, que o tr-
fco de armas. Esse um as sunto muito grave. chocante
ver um menino, que nem comida em casa tem, segurando
uma arma que no sai por menos de R$ 5 mil. Como
possvel ele ter uma arma e no ter dinheiro para compara
comida ou mesmo estudar? Sou favor vel liberao da
droga. Quem quiser que use, mas tem que pagar imposto.
O alcoolismo talvez seja mais perigoso do que a prpria
maconha. A Lei Seca, por exemplo, no funcionou e ainda
serviu para criar a mfa.
15
Os dados do IPEA reforam a afrmao da diretora do documentrio
sobre a convenincia da descriminalizao das drogas, porque o comrcio
ilegal de drogas que alimenta o comrcio legal e ilegal de armas, e ao mesmo
tempo mos tram que uma das principais causas de mortalidade entre os grupos
mais vitimizados (homens, jovens e negros) so os disparos por armas de fogo.
De acordo com o documentrio seriam, na poca, cem mil pessoas envolvidas
no trfco de drogas no Rio de Janeiro e este nmero corresponderia ao nme-
ro de funcionrios da prefeitura. Dados sobre desem prego retirados da mesma
pesquisa do IPEA revelam que os ndices de desemprego cresceram no pas
entre 1995 e 2003, de 6,2% para 10%. O crescimento nas reas metropolitanas
do pas foi ainda maior, tendo subido no mesmo perodo, de 7% para 13,9%.
Dentre as regies metropolitanas com maio res ndices o Rio de Janeiro aparece
12
INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA. Radar social 2005. Rio de Janeiro:
IPEA, 2005.
13
Ibidem, p. 114. Dados referentes ao ano de 2003.
14
Ibidem, p. 120.
15
ALVES, Chico; MELO, Liana. Entre o asfalto e o morro. Isto , So Paulo, 2 out. 2002. (Entrevista
com Ktia Lund).
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 224
em terceiro lugar, atrs de Salvador e Recife. Como estado, o Rio de Janeiro o
se gundo, perdendo apenas para So Paulo.
16
No documentrio so apresentadas trs subculturas: a do policial, a do
trafcante e a do morador. Seu roteiro alter na falas de representantes de cada
uma das subculturas. En fatizaremos os discursos de tais grupos procurando
articul -los por assunto e no pela ordem em que esto expostos.
Para o discurso policial so utilizadas, principalmen te, falas do Capito
do Batalho de Operaes Especiais (BOPE), Rodrigo Pimentel. Ele comea
dizendo que em cer tos dias chega de manh para trabalhar e se sente inven-
cvel, que queria ter participado de uma guerra de verdade e que de fato par-
ticipa de uma guerra, com a diferena de poder ir para casa todos os dias. De
acordo com Luiz Eduardo Soares o Capito se exonerou em 2001 porque foi
perseguido dentro da corporao pela falta de respeito a dois valores da Pol-
cia Militar: hierarquia e silncio. Primeiro pela repercusso de seu depoimento
no documentrio que estamos analisando, depois (...) pelas crticas falta de
treinamento da polcia para enfrentar casos crticos como o do nibus 174.
Observe -se que o depoimento e a entrevista haviam sido previamente autori-
zados pela instituio.
17
O policial escreve hoje com Luiz Eduardo Soares. Em
um de seus recentes trabalhos, que se chama A elite da tropa, est estampado
o Hino do BOPE
18
, que revelador da lgica equivocada do treinamento e da
cultura policial destinada ao combate e eliminao do inimigo. O difcil nesta
lgica de guerra, como veremos, a compreenso de como so estabelecidos
os critrios para a identifcao do inimigo numa sociedade cuja viso sobre
os direitos no est relacionada compreenso de modos de vida diferentes e
das necessidades de cada um ou de cada grupo, e sim de pr-conceitos e estere-
tipos que se fragilizam rapidamente no contato com realidades sociais como
aquelas explicitadas no documentrio.
16
INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA. Radar social 2005. Rio de Janeiro:
IPEA, 2005. p. 32.
17
SOARES, Luiz Eduardo. Notcias de outra guerra particular. Disponvel em: In. <http://www.
luizeduar dosoares.com.br/docs/outra_guerra_particular.doc>. Acesso em: 7 abr. 2007. As
crticas de Pimentel ao despreparo da polcia esto registradas em outro documentrio: nibus
174. Nele so exploradas as imagens do adolescente Sandro Nascimento, sobre vivente da Chacina
dos meninos da Igreja da Candelria ocorrida em 1993, que culminou em seu reconhecimento
aps a morte da estudante Geisa Gonalves, alvejada por um atirador de elite e da sua prpria
morte por asfxia no interior da viatura da polcia.
18
SOARES, Luiz Eduardo; BATISTA, Andr; PIMENTEL, Rodrigo. A elite da tropa. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2006. p. 8.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 225
HOMEM DE PRETO QUAL SUA MISSO? INVA-
DIR A FAVELA E DEIXAR CORPO NO CHO. VOC
SABE QUEM EU SOU? SOU O MALDITO CO DE
GUERRA. SOU TREINADO PARA MATAR. MESMO
QUE ME CUSTE A VIDA, A MISSO SER CUMPRI-
DA, SEJA ELA ONDE FOR - ESPALHANDO A VIOLN-
CIA, A MORTE E O TERROR.
SOU AQUELE COMBATENTE, QUE TEM O ROSTO
MASCARADO; UMA TARJA NEGRA E AMARELA,
QUE OSTENTO EM MEUS BRAOS ME FAZ SER IN-
COMUM: UM MENSAGEIRO DA MORTE. POSSO
PROVAR QUE SOU UM FORTE, ISSO SE VOC VIVER.
EU SOU... HERI DA NAO.
ALEGRIA, ALEGRIA, SINTO NO MEU CORAO,
POIS J RAIOU UM NOVO DIA, J VOU CUMPRIR
MINHA MISSO. VOU ME INFILTRAR NUMA FAVE-
LA COM MEU FUZIL NA MO, VOU COMBATER O
INIMIGO, PROVOCAR DESTRUIO.
SE PERGUNTAS DE ONDE VENHO E QUAL MINHA
MISSO: TRAGO A MORTE E O DESESPERO, E A TO-
TAL DESTRUIO.
SANGUE FRIO EM MINHAS VEIAS, CONGELOU
MEU CORAO, NS NO TEMOS SENTIMENTOS,
NEM TAMPOUCO COMPAIXO, NS AMAMOS OS
CURSADOS E ODIAMOS PS-DE-CO.
COMANDOS, COMANDOS, E O QUE MAIS VOCS
SO? SOMOS APENAS MALDITOS CES DE GUER-
RA, SOMO APENAS SELVAGENS CES DE GUERRA.
De outro lado, o discurso dos trafcantes pode ser re presentado pela fala
de um sujeito de nome Adriano. Em suas palavras:
A gente no quer que ningum sofra que nem eu sofri
quando era pequeno. Eu poderia ter sido at uma pessoa
simples, mas poderia, no como hoje em dia, ter que cor-
rer da polcia, tendo que estar vivendo s vezes no morro.
Eu poderia es tar trabalhando at num trabalho humilde,
mas com uma condio boa de vida tambm. E isso o
que eu no tive. Se eu roubo, se eu j roubei, no foi para
cheirar cocana, se eu fz foi porque eu tive que comprar,
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 226
primeiramente alimenta o, que era comida, que eu no
posso morrer de fome. Segundo era para ajudar minha fa-
mlia. Terceiro para me manter, quero andar arrumado.
No penso em fazer maldade com ningum, no penso em
fazer covardia com ningum. Penso em viver minha vida.
Ou seja, a via criminal seria uma alternativa s frus traes decorrentes
da excluso social sofrida. Esta decla rao diferente do discurso de um preso
entrevistado para o documentrio, no qual se percebe mais a revolta contra
a discriminao feita na sociedade. Ele diz: Nunca gostei de ser massacrado
pela sociedade. O que eu tenho no foi a sociedade que me deu, fui eu que
consegui. Minha av tra balhou at os setenta e tal, e o que que ela ganhou?
No ganhou nada. Quando eu sair vai ser bem pior. Na teoria a via criminal
aparece caracterizada justamente pela malvade za e pelo negativismo, que tam-
bm aparece reafrmada na fala de outros bandidos.
Em outro momento do documentrio Adriano relata vinte e seis fugas de
instituies. Fala sobre o sofrimento da cadeia e diz que com a graa de Deus con-
seguiu sua liber dade. Esta ambiguidade do sujeito que pertence a uma orga nizao
criminosa e que ao mesmo tempo afrma valores da quilo que se chama homo me-
dius no Direito Penal um dos destacados e complexos pontos da Teoria das Sub-
culturas. Na teoria as explicaes para a constituio das subculturas a seguinte:
A via criminal considerada, assim, um meca nismo
substitutivo da ausncia real de vias leg timas para fazer
valer as metas culturais ideais que, de fato, a mesma socie-
dade nega para as classes menos privilegiadas. uma for-
ma que permitiria a estas classes a participao, ainda que
por meios ilegtimos, do conjunto de valores das classes
mdias (xitos, respeitabilidade, po der, infuncia etc.).
19
No meio da guerra que o documentrio originalmente descreve esto os
moradores. Seus discursos iniciam com o relato de Hilda, que entregadora
de jornal:
Eu acordo s duas e meia da manh todos os dias e vou l
pro meu trabalho entregar meu jor nalzinho. s sete horas
eu tenho que voltar cor rendo para voltar com eles, os dois
menores, para a escola e a subo correndo outra vez para
casa, para fazer os meus deveres de casa. Meu flho tam-
19
GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antnio. Criminologia. So Paulo: RT, 2000. p. 299.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 227
bm trabalha ao meio dia; tem que es tar em casa porque
ele chega - Me eu quero almoar, o almoo tem que
estar pronto. E a j o tempo que eu deso correndo para
apanhar ela e o irmo na escola e a eu j venho corren do e
l vamos ns de novo .... e a praticamente j acabou o dia,
j hora da janta, todo mundo cansado. s vezes eu dur-
mo as dez, que meu marido chega s dez do trabalho e eu
tenho que estar ali para dar janta para ele e da das dez eu
j nem durmo, eu praticamente desmaio. E acor do as duas
e meia todo o dia, com chuva ou com sol eu tenho que le-
vantar e vou luta; e vou sa tisfeita porque penso muito no
futuro dos meus f lhos porque vejo muita coisa por a que
eu jamais gostaria que acontecesse com eles.
O caso de Hilda sugere a refexo sobre o tempo dis ponvel para a vida
e o envolvimento comunitrio, que evi dentemente no cabem na rotina des-
crita. Ao percebermos sua preocupao com trabalho honesto e com o futuro
dos flhos, somada s atuais tendncias de que as condies de segurana das
comunidades devem ser partilhadas com seus membros, nos damos conta da
difculdade da tarefa que mui tas vezes exigida de tais comunidades, onde as
condies sociais e econmicas no favorecem esses processos demo crticos
de articulao. Ao invs disso, relaes hierrquicas e autoritrias so assumi-
das irrefetidamente. De acordo com Michel Foucault a disciplina um con-
tradireito porque intro duz assimetrias insuperveis e exclui reciprocidades.
Quando o autor fala dos processos disciplinares, tanto em Vigiar e pu nir
quanto em A verdade e as formas jurdicas, ele faz uso de exemplos histricos
de rotinas extenuantes que eram im pingidas aos trabalhadores europeus dos
sculos XVII e XVIII nas fbricas-prises para explicar a necessidade e os efei-
tos da automatizao dos comandos hierarquicamente impostos.
Dentre os moradores esto tambm Ado, Janete e Luanda (av, me e
flha). O discurso de Janete revela uma ambiguidade do problema das armas,
pois ela chega a falar do lado bom das armas, j que a presena das armas
do tr fco freou a violncia da polcia. O lado ruim das armas para ela que a
juventude teria um esprito suicida, e tambm seria violenta nas cobranas de
lealdade e dvidas.
20
Esta fam lia faz aluso ao problema da corrupo policial
20
O discurso de Janete refora inclusive uma crena na funo exemplar da punio, tambm
retratada por Michel Foucault no incio do livro Vigiar e punir. Ela relata as mortes, os
esquartejamentos feitos pelos lderes do trfco em represlia aos inimigos ou traidores.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 228
dizendo que muitas vezes os policiais invadem barracos e levam as coisas boas
sem querer saber se existe nota fscal, se a compra se deu numa loja, alegando
simplesmente que so coisas rou badas. Ado reproduz a fala de um policial
dizendo: Quando o policial sobe na favela ele j vem l de baixo preparado
para agredir todo mundo, velho, criana.... um policial falou pra mim: - Eu no
quero nem saber se velho, se alejado, se cego, eu meto o cacete em todo
mundo e no quero que ningum fala nada.
No documentrio aparece tambm a quase que ine vitvel discusso so-
bre o que tem sido chamado de Estado Paralelo ou poder paralelo, como
muitas vezes referida a ajuda mtua entre bandidos e favelados. A impresso
de uma menina a de que a maioria do morro fca do lado do mo vimento.
Sobre este tema, em outro momento surge a fala de um dos fundadores do Co-
mando Vermelho, Joo Gordo, que alimenta esta contraposio entre o poder
formal e o po der paralelo. Ele diz que o Comando Vermelho queria ocupar
todos os espaos que o governo deixa, e fazer l tudo aquilo que o governo no
faz. Posteriormente h uma declarao do delegado Hlio Luz no sentido de
que o Estado deixa aquele espao de excluso. Em outro momento, contudo,
Joo Gor do fala que o trfco no transforma nada, no substitui o Es tado, e
que o Terceiro Comando e o Comando Vermelho no tm viso poltica.
A reiterao desta idia da ausncia e incapacidade do Estado fazendo
surgir e se desenvolver um estado den tro do Estado tamanha que o prprio
Presidente Lula, em discurso realizado em 02 de julho de 2007, afrmou que
iria competir com o poder paralelo e entrar com ruas, hospitais e escolas no
ambiente de favela no Rio de Janeiro, referindo-se explicitamente ao Comple-
xo de Favelas do Alemo que foi alvo de operaes policiais proflticas pr-
-Pan (Jogos Panamericanos 2007).
O incio da histria do trfco de drogas no Rio de Ja neiro (1950 1980)
contado pelo escritor Paulo Lins.
21
Se gundo ele quem trafcava eram pessoas
idosas e no se usa va cocana. A violncia no atravessava o tnel (que se-
para a Zona Sul da periferia) e passou a aumentar quando a coca na entrou no
espao dos ricos. De acordo com o seu relato sempre morreu gente na favela
21
Paulo Lins autor do romance que deu origem ao flme de mesmo nome: Cidade de Deus.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 229
e no saa na imprensa. Esta situao se modifcou quando saiu do espao do
morro, como no caso das balas perdidas e dos sequestros.
22
Quando Joo Gordo relata o surgimento do Comando Vermelho, diz
que os presos polticos organizaram o crime, que o lema do Comando Ver-
melho era Paz, Justia e Liberda de. Paradoxalmente, a misso do BOPE que
observamos no Hino transcrito anteriormente levar a morte, o desespero e a
total destruio, que pode ser sintetizada no lema constan te do mesmo hino:
Violncia, Morte e Terror. Vivemos uma si tuao na qual aqueles que seriam os
legtimos representan tes do Estado e da sociedade motivam-se na eliminao
do adversrio e convivemos atualmente com a qualifcao das prticas ilcitas
dos criminosos como terroristas. No entanto, vemos que um dos primeiros
movimentos como os que hoje so designados como crime organizado tinha
como lema algo que no condiz com o seu estigma social.
De acordo com o Capito Rodrigo Pimentel h uma verdadeira guer-
ra nos morros que pode ser observada pelo uso de munio traante. Mas
ele tambm deixa claro que a polcia participa desta guerra por que em seis
meses de ao do BOPE 100% das operaes foram em favelas. No fnal do
documentrio ele reitera a informao de que a polcia o nico segmento do
Estado que vai at a favela.
No documentrio tambm so exibidas falas de crian as e adolescentes
do trfco. Dentre as afrmaes de maior impacto esto as de que quando se
mata um inimigo uma vitria que se comemora com fogos, que se faz at
churrasco. Perguntado sobre o medo de morrer cedo um menino (Lico) res-
pondeu que todos vo morrer um dia. Trata-se da reprodu o de uma lgica
bem conhecida de que melhor viver dez anos a mil do que mil anos a dez, e
que no est difundida somente entre crianas e adolescentes da periferia.
A primeira misso que um jovem relata ao entrar para o trfco foi a de
matar um X9.
23
Ele afrma que depois se sen tiu normal, como quando est con-
versando com Ktia Lund na entrevista. Diz que ainda no teve a oportunidade
de ma-tar um policial. O Capito, por sua vez, relata que quando mata traf-
cantes em operaes em favela fca com a sensa o do dever cumprido. Assim,
22
Da mesma forma podemos nos questionar se no caso dos Jogos Panamericanos 2007 houve uma
trgua dos trafcantes ou se houve uma trgua da mdia em no divulgar fatos violentos.
23
Delator.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 230
alimenta-se um dio recpro co, e nisso podemos observar um dos efeitos das
etiquetas que, segundo Lola Anyar de Castro o de produzir desvio secund-
rio. O exemplo oferecido pela autora justamente o de policiais que concen-
tram sua ateno sobre certos grupos que foram anteriormente identifcados
por etiquetas negativas (pobre = criminoso); isso cria ressentimento e hostili-
dade nas pessoas, que estaro ainda menos dispostas a cooperar com os agentes
de controle social; este comportamento intensifca a reao social e solidifca
como consequncia uma conduta que ser cada vez mais desviante. Assim, a
brecha entre o rotulado e a comunidade vai se aprofundando de forma que
pode instaurar-se de fato uma carreira criminal.
24
Alm des se efeito, a reverso
deste distanciamento torna-se cada vez mais difcil. Para o Capito Rodrigo Pi-
mentel existem deze nas de jovens esperando a vez para entrar no movimento.
Seriam jovens cada vez mais violentos. Uma demonstrao disso para ele o
fato de que hoje j existe, inclusi ve, o CVJ, Comando Vermelho Jovem.
Em outra fala de crianas do trfco, desta vez sobre objetos de consu-
mo so mencionadas as marcas de roupa que eles usam: TCK, Ciclone, Tou-
lon: - E uma da Company. O menino (Leandro), possivelmente, est falando
sobre to das as quatro camisetas que possui. Em outro momento as crianas
afrmam que a polcia no distingue trafcante de trabalhador, que no sabe
fazer o servio dela direito. Ob servamos, ento, que so reproduzidos pa-
dres de compor tamento, objetos de desejo e tambm noes de direitos de
um padro mdio brasileiro, referenciado no senso comum, segundo o qual
a polcia pode agir violentamente se sua ao for contra bandidos, mas que
deve respeitar os trabalhadores. O Cel. Carlos Magno Nazareth Cerqueira, na
mesma dcada de 1990 do documentrio relatava a difculdade que ele tivera
em uma situao na qual a polcia havia matado um rapaz e a me do mesmo
estava inconformada e repetia que seu flho no era bandido, ao que ele lhe
respondia: Minha senhora, mesmo que ele fosse criminoso ele no poderia
ter sido morto pela polcia.
25
O lder comunitrio Itamar Silva descreve com perfei o o tipo de racio-
cnio que originou a j referida Teoria das Subculturas Criminais:
24
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
25
O COMANDANTE de uma polcia brasileira. In. RAMOS, Slvia (Org.). Mdia e violncia
urbana. Rio de Janeiro: FAPERJ, 1994, p. 35.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 231
O que leva um jovem a entrar para o trfco? Eu acho que
esta juventude, principalmente esta ju ventude que est na
favela, que j a terceira gerao, busca uma afrmao
muito forte nes sa cidade, ento eu acho que o trfco ofe-
rece tambm isso, o respeito que ele no tem quando opta
por ser um entregador de farmcia. Ele est manifestando
o desejo de poder sobre uma so ciedade que no lhe reco-
nhece o real valor.
Janete corrobora a fala de Itamar enfatizando o aspecto sexual-relacio-
nal, pois menciona a atrao que os trafcantes exercem sobre as cocotinhas
l de baixo
26
. Diz que quanto maiores so as armas deles, mais elas fcam in-
teressadas, fcam loucas, e so moas louras, bonitonas, bem cuidadas, com
cabelo, que nem do muita intimidade para os outros rapazes.
A fala do policial civil Delegado Hlio Luz - refora este aspecto da
Teoria das Subculturas Criminais dizendo que com suas aes o jovem mos-
tra que pode ser gente, que pode se dar bem na vida. Quando eles vem no
jornal uma notcia sobre troca de tiros em favela na qual o trafcante le vou a
melhor, outros jovens em igual situao percebem que: Algum nosso deu
certo. Algum nosso se deu bem na vida, pode comprar um carro, ter cinco
mulheres. Se este jovem conseguir um emprego ter que trabalhar de oito a
doze ho ras por dia para ganhar um salrio mnimo por ms. Se ele se emprega
no trfco ganha isso por semana. O trfco seria op o, s no seria opo
para quem nunca passou fome. Ele considera o trfco um emprego, e alm do
mais o jovem pas sa a ganhar mais do que o pai, ele est vendo o irmo morrer
mais vai entrar assim mesmo. Para o delegado, a poltica de segurana do Rio
de Janeiro complexa e funciona, porque no precisa de cerca como na frica
do Sul do apartheid.
27
O problema que existiriam morros com cem homens
arma dos, e que no dia em que eles perceberem a sua fora eles tomam isso
daqui. O delegado afrma que s fcou o mito do Comando Vermelho. Eles
tentaram se organizar na cadeia, mas para a nossa sorte no deu certo. Alm
disso, diz que o morro o varejo, que primrio, que os trafcantes de l
sequer sabem operar muito dinheiro. Este tipo de afrmao nos remete a
uma parte da Teoria Estrutural-funcionalista do Desvio e da Anomia, que
se encontra na base da Teoria das Subculturas Criminais, na fase em que,
26
Aluso s moas da favela que residem em espaos privilegiados.
27
Se o favelado tentar sair da favela voc aponta uma arma pra ele e ele volta.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 232
tentando melhorar as explicaes sobre a criminalidade do colarinho branco
perce be-se que:
A maior parte dos pertencentes s classes mdia e supe-
rior no so capazes de abandonar facil mente sua cultura
de classe, para adaptar-se a uma nova cultura. Por outro
lado, e pela mesma razo, os membros da classe inferior
so exclu dos do acesso aos papis criminosos caracters-
ticos do colarinho branco.
28
Ou seja, a desigualdade est tambm no tipo de delito que se pode prati-
car, donde se conclui que at mesmo no que tange prtica de crimes os mem-
bros dos extratos inferio res esto em piores condies. Assim como so exclu-
dos da possibilidade da prtica de crimes do colarinho branco, que so aqueles
cometidos por pessoas de respeitabilidade e alto status social, no exerccio da
sua ocupao
29
, os membros de extratos sociais mais baixos so despreparados
tecnicamen te para a prtica de delitos que exigem domnio de determina dos
idiomas e tecnologias.
De acordo com o policial civil a instituio policial foi feita para fazer se-
gurana do Estado, segurana de elite, para ser violenta. Ele se pergunta como
possvel manter dois milhes de pessoas excludas sob controle, seno pela
violncia. Para ele a polcia poltica, a sociedade injusta e a polcia garante a
sociedade injusta. Ele se pergunta tam bm se a sociedade quer uma polcia que
no seja corrupta. Cita o exemplo de um homicdio cometido por um fazen-
deiro cujo indiciamento provocou um mal estar nas pessoas da sociedade e
uma viso negativa da atividade policial que es tava reprimindo aquele tipo de
ao. No entanto, o policial comete o erro de dizer que se a sociedade quiser
uma polcia no corrupta vai ter mandado de priso com p na porta na Del-
fm Moreira, pois no pode ser assim nem na favela, nem no Leblon.
O que importante da fala deste policial a meno que ele faz do proble-
ma da represso s drogas, que no equivalente represso das armas, sendo que
de um lado existem pases perifricos como produtores, como a Colm bia e a Bo-
lvia, e de outro lado pases centrais produtores, como os Estados Unidos e a Sua.
28
CLOWARD, R. A. apud BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 70.
29
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
Criminologia & Cinema Perspectivas sobre o Controle Social 233
O documentrio se encerra com um tom pessimista, pois os ltimos
depoentes afrmam que esta guerra nunca vai acabar, que vo fcar nesta
vida at morrer, que esta guerra nunca vai ter fm. Apesar de entendermos
a razo destas im presses, ousamos discordar das mesmas, pois deve haver
espao para uma cultura de paz a partir da qual estas animo sidades possam
ser desfeitas. A Criminologia Crtica e a Pol tica Criminal Alternativa apon-
tam para a necessidade de acei tao do desvio positivo, da admissibilidade
de outras formas de vida que no impliquem numa rejeio tal que culmine
com processos criminalizantes, e tambm para a necessidade de superao dos
obstculos oferecidos pela desigualdade de condies de vida que so sempre
repetidos e sistematica mente abandonados por se tratarem de alternativas de
mdio e longo prazo, enquanto a situao retratada segue fazendo vtimas,
apesar de j ter se passado uma dcada.
Podemos aprender com os envolvidos que existem er ros e acertos de
parte a parte, mas preciso estimular o de bate acadmico em torno deste
tipo de confito, pois o senso comum pode servir como ponto de partida para
nossas discus ses, nunca como ponto de chegada. No fcil responder a
questionamentos sobre o que deve ser feito, mas pode ser um bom comeo
descobrir o que no se pode fazer, e porqu. E o que no podemos fazer
incentivar respostas violentas, de nenhuma das partes. Isso tem sido chamado
genericamente de cultura de paz, e na Poltica Criminal Alternativa existem
propostas concretas de incentivo aos comportamentos confor me a lei, mais
prximos ao que designamos no Direito de san es premiais. Estamos fa-
lando de polticas pblicas voltadas para a insero de jovens e adultos em
carreiras conformistas (no desviantes, como a do trfco), como aquilo que o
cineas ta tentou fazer no plano privado com o trafcante. Os prprios trafcan-
tes demonstram esta tentativa quando recusam garotos que demonstram ter
uma especial vocao para a msica ou para o esporte, que so duas carreiras
no convencionais, mas permitidas para populaes de favela. Quer dizer, j
existe uma autorizao para que o sujeito ganhe a vida com a beleza, o talen-
to e a arte na cultura da contemporaneidade, mas isso no resolve o problema
coletivo da falta de acesso a servios e di reitos colocados de forma igualitria
pela Constituio Federal.
Cristina Zackseski e Evandro C. Piza Duarte 234
Referncias
ALVES, Chico; MELO, Liana. Entre o asfalto e o morro. Isto , So Paulo, 2 out. 2002.
(Entrevista com Ktia Lund).
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da reao social. Rio de Janeiro: Forense,
1983.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do direito penal. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1999.
BARCELOS, Caco. Abusado: o dono do morro dona Marta. Rio de Janeiro: Record, 2003.
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O comandante de uma polcia brasileira. In.
RAMOS, Slvia (Org.). Mdia e vio lncia urbana. Rio de Janeiro: FAPERJ, 1994.
GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antnio. Criminologia. So Paulo: RT, 2000.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Radar social 2005. Rio de
Janeiro: IPEA, 2005.
SOARES, Luiz Eduardo. Notcias de outra guerra particular. Disponvel em: <http://www.
luizeduardosoares.com.br/docs/outra_guerra_ particular.doc> . Acesso em: 7 abr. 2007.
SOARES, Luiz Eduardo, BATISTA, Andr; PIMENTEL, Rodri go. A elite da tropa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2006.
So tratamentos como os dessa coletnea
que contribuem para a transformao do direito
no sentido da superao das frmulas
que o perseguem desde Roma e para
a disseminao social de novas teorias
e prticas libertrias do relacionamento
poltico e intersubjetivo dos cidados. (...)
A contribuio do direito para deslindar o novo,
para ressignicar de modo contextual e rigoroso
os fenmenos criminais mais um instrumento
para libertao dos velhos dogmas, da leitura
de um cartesianismo mal lido.
Roberto Aguiar
You might also like
- Criminologia & Cinema - Perspectivas sobre o Controle SocialDocument236 pagesCriminologia & Cinema - Perspectivas sobre o Controle SocialRafael Henrique CamposNo ratings yet
- Criminologia e CinemaDocument236 pagesCriminologia e CinemaVeronica DominguesNo ratings yet
- 9 Congress o Dire I To InternacionalDocument71 pages9 Congress o Dire I To InternacionalAlan EnnserNo ratings yet
- O Livro Das Parcialidades Grupo Prerrogativas Março 2021Document229 pagesO Livro Das Parcialidades Grupo Prerrogativas Março 2021Jeferson DamascenaNo ratings yet
- Livro Alexandre Wunderlich PDFDocument114 pagesLivro Alexandre Wunderlich PDFAlessandro AlthausNo ratings yet
- A Critica Hermeneutica Do Direito e o Pensamento DDocument24 pagesA Critica Hermeneutica Do Direito e o Pensamento DDaiane RibeiroNo ratings yet
- Biodireito Constitucional. Questões Atuais by Maria Garcia (Auth.)Document419 pagesBiodireito Constitucional. Questões Atuais by Maria Garcia (Auth.)Pedro Luiz Sampaio CostaNo ratings yet
- A Racionalidade Penal Moderna: Reflexões teóricas e explorações empíricasFrom EverandA Racionalidade Penal Moderna: Reflexões teóricas e explorações empíricasNo ratings yet
- Perpectivas latino-americanassobre o constitucionalismo no mundoFrom EverandPerpectivas latino-americanassobre o constitucionalismo no mundoNo ratings yet
- Direito em Movimento reúne autores e abordagens jurídicasDocument280 pagesDireito em Movimento reúne autores e abordagens jurídicasLécio Augusto RamosNo ratings yet
- Teoria Do Direito - Curso TJRJ - AUTORESDocument5 pagesTeoria Do Direito - Curso TJRJ - AUTORESAnna C RavNo ratings yet
- Revista Dos Estudantes de Direito Da UnBDocument436 pagesRevista Dos Estudantes de Direito Da UnBacechaves100% (2)
- Nomos - UFC - V. 33.1 - 2013Document458 pagesNomos - UFC - V. 33.1 - 2013Edvaldo MoitaNo ratings yet
- 80 114 PBDocument15 pages80 114 PBMARIA GABRYELLE DANTAS ROCHANo ratings yet
- Estudos de Metodologia Da Pesquisa Jurídica - Volume 01 PDFDocument82 pagesEstudos de Metodologia Da Pesquisa Jurídica - Volume 01 PDFIza Fernandes100% (2)
- Acesso à Justiça: Estudos internacionais sobre modelos inovadoresDocument281 pagesAcesso à Justiça: Estudos internacionais sobre modelos inovadoresCesar Augusto Baldi100% (1)
- HUMANOS - Direitos - Humanos - Democracia 2010Document715 pagesHUMANOS - Direitos - Humanos - Democracia 2010joao_ricardo_atmNo ratings yet
- Defensoria Pública Semestral: Intensivo para ConcursosDocument221 pagesDefensoria Pública Semestral: Intensivo para ConcursosVladia CarvalhoNo ratings yet
- Revista do IBDH sobre direitos humanosDocument281 pagesRevista do IBDH sobre direitos humanosJaqueSouzaNo ratings yet
- Liber Amicorum - v4Document273 pagesLiber Amicorum - v4Felipe Negreiros paiNo ratings yet
- 2020 Estudos Sobre Amartya Sem - Volume 8 PDFDocument341 pages2020 Estudos Sobre Amartya Sem - Volume 8 PDFBetzy ValenciaNo ratings yet
- Direitos Humanos em Multiplas Miradas ODocument23 pagesDireitos Humanos em Multiplas Miradas OJulia MoraesNo ratings yet
- Eutanásia e dignidade humana: abordagem jurídico-penalDocument119 pagesEutanásia e dignidade humana: abordagem jurídico-penalRenato SouzaNo ratings yet
- Teoria Crítica dos Sistemas: Direito, Crítica e SociedadeDocument430 pagesTeoria Crítica dos Sistemas: Direito, Crítica e SociedadeRaoni100% (1)
- Lógica e Aspectos Psicológicos Da Decisão JudicialDocument326 pagesLógica e Aspectos Psicológicos Da Decisão JudicialKATHIA NEMETH Perez100% (1)
- Acesso À Justiça:From EverandAcesso À Justiça:No ratings yet
- Uma Genealogia Da Criminalização Da Pedofilia No BrasilDocument322 pagesUma Genealogia Da Criminalização Da Pedofilia No BrasilAdriana Jarenco100% (1)
- Os Pressupostos e Fundamentos Do Positivismo JurídicoDocument93 pagesOs Pressupostos e Fundamentos Do Positivismo JurídicoRoberto WöhlkeNo ratings yet
- Revista Direito e SensibilidadeDocument286 pagesRevista Direito e SensibilidadeadailtonpcNo ratings yet
- Violencia e CriminologiaDocument288 pagesViolencia e CriminologiaJoão MouraNo ratings yet
- A Psicografia Como Prova JudicialDocument217 pagesA Psicografia Como Prova JudicialAmanda Souza100% (1)
- Medidas de (In) Segurança e Violência InstitucionalDocument21 pagesMedidas de (In) Segurança e Violência InstitucionalLaís GranjeiroNo ratings yet
- Dogmatica JuridicaDocument501 pagesDogmatica Juridicaapi-3823907No ratings yet
- Livro Direitos Humanos, Politicas Publicas e CidadaniaDocument398 pagesLivro Direitos Humanos, Politicas Publicas e CidadaniaIotila AlvesNo ratings yet
- Casebook de Processo Coletivo – Vol. I: Estudos de Processo a partir de Casos: Tutela jurisdicional coletivaFrom EverandCasebook de Processo Coletivo – Vol. I: Estudos de Processo a partir de Casos: Tutela jurisdicional coletivaNo ratings yet
- Direitos naturais e ética ambientalDocument222 pagesDireitos naturais e ética ambientalBruno MelloNo ratings yet
- Audiência de Custódia e Direitos HumanosDocument303 pagesAudiência de Custódia e Direitos HumanosRicardo SouzaNo ratings yet
- Vitimologia IIIDocument53 pagesVitimologia IIIEduarda Sousa Mendes100% (1)
- Direitos Humanos em DebateDocument858 pagesDireitos Humanos em DebateLetícia leticia100% (1)
- Odisseia do Direito Quântico: O Desvendar Quântico da Lex AnimataFrom EverandOdisseia do Direito Quântico: O Desvendar Quântico da Lex AnimataNo ratings yet
- 2º Encontro de Psicólogos Jurídicos Do TJRJ - 2000 - ComunicaçõesDocument95 pages2º Encontro de Psicólogos Jurídicos Do TJRJ - 2000 - Comunicaçõesjcesar coimbraNo ratings yet
- Novas perspectivas jurídicas: Uma homenagem a Gilson DippFrom EverandNovas perspectivas jurídicas: Uma homenagem a Gilson DippNo ratings yet
- 10o Congresso Brasileiro de Direito Internacional e 2o Congreso da SLADI no Rio de JaneiroDocument71 pages10o Congresso Brasileiro de Direito Internacional e 2o Congreso da SLADI no Rio de JaneiroGustavo Menezes VieiraNo ratings yet
- Apostila de IEDDocument59 pagesApostila de IEDLeiliane RibeiroNo ratings yet
- Direito Processual Penal III: Nulidades, Recursos, Execução PenalDocument9 pagesDireito Processual Penal III: Nulidades, Recursos, Execução PenalDaniella PaivaNo ratings yet
- Direitos HumanosDocument1,156 pagesDireitos HumanosLemuell RoniNo ratings yet
- O Fundamento Do DireitoDocument362 pagesO Fundamento Do DireitoAdryanyFerreiraNo ratings yet
- Alvaro PiresDocument23 pagesAlvaro PiresAknaton Toczek SouzaNo ratings yet
- LocaçãoDocument6 pagesLocaçãolucasigorNo ratings yet
- Português João BolognesiDocument168 pagesPortuguês João BolognesiamandaNo ratings yet
- Joao Paulo BachurDocument376 pagesJoao Paulo BachurlucasigorNo ratings yet
- Democracia e desigualdade na América LatinaDocument26 pagesDemocracia e desigualdade na América LatinaSândalo JuniorNo ratings yet
- Análise semiótica de sentença judicialDocument11 pagesAnálise semiótica de sentença judiciallucasigorNo ratings yet
- 1853 6889 1 PBDocument21 pages1853 6889 1 PBlucasigorNo ratings yet
- EvoluçãoDocument29 pagesEvoluçãolucasigorNo ratings yet
- Relatorio de Leitura UFCDocument2 pagesRelatorio de Leitura UFClucasigorNo ratings yet
- BoaventuraDocument1 pageBoaventuralucasigorNo ratings yet
- PACHUKANIS Evgene. Teoria Geral Do Direito e Marxismo PDFDocument70 pagesPACHUKANIS Evgene. Teoria Geral Do Direito e Marxismo PDFDiego Pereira ViegasNo ratings yet
- Nietzche e o DireitoDocument239 pagesNietzche e o DireitolucasigorNo ratings yet