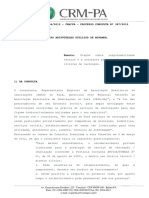Professional Documents
Culture Documents
Sentido e Alcance Do Processo Eleitoral No Regime Democrático
Uploaded by
Lydi LoboOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sentido e Alcance Do Processo Eleitoral No Regime Democrático
Uploaded by
Lydi LoboCopyright:
Available Formats
Sentido e alcance do processo
eleitoral no regime democrático
FÁBIO KONDER COMPARATO
ESSÊNCIA DA democracia, como a própria etimologia indica, é a
A titularidade e o exercício do poder político supremo – o kyrion da
filosofia aristotélica – pelo povo, isto é, o conjunto dos cidadãos.
Teoricamente, pode-se discutir a abrangência do conceito de povo entre o
alcance máximo de todos os que vivem no território do Estado, capazes de
declarar sua vontade livremente, e o limite mínimo de um grupo reduzido
de pessoas; vale dizer, entre a poliarquia e a oligarquia. A História apresen-
ta-nos uma gama extensa de variações, nesse particular. Mas o que não se
pode é confundir a democracia com os regimes que claramente dispensam a
manifestação da vontade popular, ou falseiam, por meio de engenhosos
mecanismos, a sua expressão legítima.
Importa também distinguir o poder do povo, do poder sobre o povo, e a
diferente função do processo eleitoral em um e outro caso (1). No regime
democrático, o povo exerce sua soberania, ou diretamente, ou mediante re-
presentantes. Estes últimos não devem ser confundidos com o governo,
isto é, com aqueles que dispõem de poder sobre o povo (2). Quando o
povo elege um chefe de Poder Executivo, numa democracia, este não se
transforma, pelo fato eleitoral, em representante do povo. A sua eleição ou
escolha equivale a uma manifestação de consentimento popular ao exercí-
cio do governo, que passa a ser fiscalizado pelo povo, diretamente, ou por
seus representantes, que são, em geral, os membros do Parlamento.
Numa democracia, já observara Montesquieu, o povo é, sob certos
aspectos, monarca e, sob outros, súdito. Ele é monarca pelos seus sufrágios,
que exprimem sua vontade. Daí porque as leis que regulam o modo de pro-
ceder das eleições são tão fundamentais no regime democrático, quanto a
lei de sucessão dinástica numa monarquia (3).
Ora, exatamente em função do vínculo indissolúvel entre democracia
e escolha ou consentimento popular, bem como em razão do prestígio cres-
cente que esse regime político passou a ter em todo o mundo na segunda
metade do século XX, as diferentes autocracias ou oligarquias, que não po-
diam correr o risco de perder sua aparência de legitimidade, procuraram
manter oficialmente o processo eleitoral, preservando no entanto o seu fun-
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 307
cionamento de todo risco capaz de afetar o poder supremo da minoria
governante.
A manipulação eleitoral, a bem dizer, não é um fato novo em nossa
história política. Com maior ou menor dose de refinamento, ela sempre
ocorreu entre nós. Uma rememoração, ainda que sumária, do nosso passa-
do eleitoral nem confirmar amplamente esse fato.
Sumário da variação sofrida pelo processo eleitoral,
na história do Brasil independente
A Constituição de 1824, como sabido, determinou que as eleições de
deputados e senadores, para a composição da Assembléia Geral, se fizessem
por sufrágio indireto e censitário (arts. 90 e ss.).
Em 1842, diante do escândalo geral provocado pelo ambiente de vio-
lência em que se desenrolara o último pleito, conhecido em nossa história
política como “as eleições do cacete”, o Governo decidiu baixar um decre-
to regulador do processo eleitoral, o de nº 157, de 4 de maio. Em que pese
às boas intenções governamentais, o Decreto era evidentemente inconsti-
tucional, e a oposição não deixou de denunciar o fato. O art. 97 da Carta
estatuia que “uma Lei regulamentar marcará o modo prático das Eleições, e
o número dos Deputados relativamente à população do Império”. Um de-
creto governamental não podia, a todas as luzes, ser aceito como o equiva-
lente de uma lei.
A regulação legal exigida pela Constituição acabou sendo votada em
19 de agosto de 1846, sem que, no entanto, a sua constitucionalidade esti-
vesse isenta de impugnações. O diploma legal mandava computar em prata
o censo eleitoral que a Carta havia estabelecido em moeda nacional. Além
disso, a nova lei excluiu o direito de voto dos magistrados e altos funcioná-
rios. Tais disposições, como foi oportunamente assinalado, dificilmente
poderiam ser entendidas como a regulação do “modo prático das eleições”.
Em 1855, outro Decreto governamental, o de nº 842, cuja inconsti-
tucionalidade era ainda mais pronunciada, instituiu entre nós a eleição por
distritos, então chamados círculos, como em Portugal. O mais curioso é
que essa eleição distrital majoritária, geralmente considerada pelos especia-
listas de hoje como uma brutalidade contra a minoria, foi defendida ardo-
rosamente pelo seu idealizador – Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês
de Paraná – como o modo mais eficaz de se evitarem as chamadas “câmaras
unânimes”. Escusa lembrar que o apregoado remédio não curou a molés-
tia, que continuou a grassar durante todo o Império e a 1ª República.
308 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
Reprodução
Escultura do imperador Dom Pedro II
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 309
Cinco anos depois, o Decreto nº 1.082 alargou a representação dos
círculos para três deputados, votando o eleitor em chapas fechadas de três
candidatos. Mas enquanto pelo sistema de 1855 exigia-se para a eleição a
maioria absoluta dos votos, instituindo-se para tanto dois turnos de vota-
ção, em 1860 o novo regulamento eleitoral contentou-se com a maioria
relativa.
Como ainda persistisse a ocorrência das câmaras unânimes, o Gover-
no resolveu baixar o Decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875, com o
propósito de forçar a representação da minoria. Doravante o voto seria dado
em apenas dois candidatos, embora continuassem os distritos a ser repre-
sentados por três deputados. Era a lei do terço.
Não obstante essa contínua alteração das regras eleitorais, a minoria
timbrava em não aparecer no Parlamento. Era geral o sentimento de que se
haviam esgotado todas as possibilidades oferecidas pelo sistema representa-
tivo estatuído pela Carta Constitucional. Em discurso proferido na Câmara
por ocasião das discussões da lei do terço, José de Alencar vocalizou de certa
forma a opinião dominante, ao concluir: “Temos experimentado os círcu-
los, os triângulos, diversas formas de manipulação, falta a eleição direta. É o
travesseiro para o enfermo que não tem repouso” (4).
A oferta desse travesseiro repousante enfrentava, porém, um grave
obstáculo constitucional: a necessidade de se reformar a Carta era, agora,
inafastável e insofismável. Ora, a reforma constitucional fazia-se, então, por
um processo sem dúvida mais democrático do que o que passou a vigorar
com a república, mas, por isso mesmo, muito demorado. Inicialmente, de-
liberava-se sobre proposta, cuja iniciativa pertencia a pelo menos um terço
dos deputados, da necessidade de se emendar tal e qual artigo da Constituição.
Vencida a necessidade da reforma, expedia-se uma lei, pela qual determina-
va-se aos eleitores dos deputados à seguinte legislatura, “que nas procura-
ções lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração, ou refor-
ma”, a qual seria, só então, proposta, discutida e votada (arts. 175 e ss.).
O governo imperial tinha, porém, pressa em introduzir a eleição dire-
ta e o Imperador receio de que uma discussão de mudança constitucional
degenerasse em desordem política. Deliberou-se, então, reformar a Carta
mediante lei ordinária, sem maiores exigências. Era uma indisfarçável vio-
lência, que os legisladores faziam à Constituição. A Câmara dos Deputados
transformava-se dessa forma, como bem qualificou José Bonifácio, o Moço,
em uma “constituinte constituída”. Infelizmente, como se sabe, não foi
este o único caso em que se praticou semelhante abuso em nossa agitada
história constitucional.
310 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
O Gabinete Sinimbú, que apresentara a proposta por meio de seus
correligionários políticos, não logrou contudo vê-la aprovada. Foi preciso
aguardar a constituição do Gabinete Saraiva e a promulgação da lei de 1881,
para que tivéssemos, enfim, um sistema de eleições diretas, voltando-se,
para esse efeito, à organização do eleitorado em círculos, agora chamados
definitivamente distritos, de um só deputado.
Proclamada a República, a nova Constituição, ecoando a velha queixa
contra as “câmaras unânimes” do Império, determinou que na Câmara dos
Deputados se garantisse “a representação da minoria” (art. 28, in fine).
Para obedecer ao preceito, a primeira lei eleitoral republicana, a de nº 35,
de 26 de janeiro de 1892, à míngua de idéias novas, voltou à fórmula dos
círculos de três deputados, votando o eleitor em apenas dois.
Enquanto isso, cada estado federado organizava autonomamente o
seu direito eleitoral. O Rio Grande do Sul, sob a liderança de Júlio de
Castilhos, adotou desde logo os preceitos do positivismo puro e duro, im-
pondo em sua lei de 1897 o voto a descoberto. A Exposição de Motivos
justificou a medida, afirmando que era preciso “viver às claras”, e que o
voto secreto constituia um dos mais poderosos estímulos à corrupção elei-
toral. O legislador federal acabou cedendo à influência dessas idéias. A Lei
Rosa e Silva, de 1904, deu ao eleitor a faculdade de votar a descoberto.
Este é mais um episódio que ilustra a nossa propensão a adotar, em
matéria eleitoral, com a mais firme convicção, remédios absolutamente con-
traditórios para os mesmos males. A Lei de 1855, como forma de proteção
à minoria, introduziu a eleição distrital majoritária, que sempre foi tida como
o modo mais drástico de se esmagarem os minoritários. Meio século de-
pois, com o fito de lutar contra a corrupção do voto, a lei eleitoral gaúcha
de 1897 e a Lei Rosa e Silva procuraram impedir o voto secreto, que viria a
ser, como todos sabem, o cavalo de batalha dos revolucionários de 1930
contra as práticas eleitorais da República Velha.
A nossa primeira Constituição republicana inaugurou, ademais, o siste-
ma de correções quantitativas à representação popular, determinando que o
número de deputados federais não seria nunca inferior a quatro por estado.
Foi só depois da Revolução de 30, com o Código Eleitoral de 1932 e
a Constituição de 1934, que introduzimos o sistema da representação pro-
porcional, preconizado por José de Alencar em livro escrito em 1866 e
publicado em 1868 (5). A fórmula idealizada por Assis Brasil – listas parti-
dárias abertas e voto nominal (6) – viria a ser o principal fator de enfraque-
cimento dos partidos políticos. O objetivo visado pelo idealizador do siste-
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 311
ma, aliás, não era outro: Assis Brasil não fez mistérios quanto ao seu propó-
sito de acabar com a prática do partido único, existente na República Velha.
Importante criação do Código de 1932 foi, sem dúvida, a Justiça Elei-
toral. Tanto mais que, na reforma da Constituição, votada em 1926, incluira-
se um dispositivo de claro sabor autocrático: “Nenhum recurso judiciário é
permitido, para a justiça federal ou local, contra ... a verificação dos pode-
res, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de mandato dos
membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual”.
Após o interregno do Estado Novo getulista, a Constituição de 1946
voltou ao sistema do Código Eleitoral de 1932, sem a representação classista
introduzida pela Constitição de 1934. Registre-se, no entanto, que em 7 de
janeiro de 1946, antes portanto de promulgada a nova Constituição, o
Decreto nº 8.566 determinou que a votação para a Câmara dos Deputados
se fizesse pelo sistema de listas partidárias fechadas. Mas a fórmula, que
corresponde à única representação proporcional legítima, contrariava o tra-
dicional personalismo de nossos políticos. O Decreto entrou em vigor, mas
não foi aplicado.
No tocante à composição das Câmara de Deputados, a Constituição
(art. 58) suprimiu o número mínimo de representantes por estado, man-
tendo apenas um redutor no número de deputados a partir de determinado
nível populacional, sistema esse que já existia desde a Constituição de 1891.
Sobre o triste período do regime militar, nada há a dizer, pois as elei-
ções, quando as havia, não passavam de mera encenação para o público exte-
rior. É curioso, porém, que na fase da abertura lenta, gradual e segura, uma
mal denominada emenda constitucional, de nº 22, promulgada em 5 de ju-
lho de 1982, determinou, para gáudio de certos cientistas políticos, que “na
forma que a lei estabelecer, os deputados federais e estaduais serão eleitos pelo
sistema distrital misto, majoritário e proporcional”. A lei, bem entendido,
não estabeleceu coisa alguma. Tivemos mais uma reforma eleitoral no papel.
E com isto chegamos ao regime pós-militar, para o qual Afonso Arinos
de Mello Franco cunhou a denominação otimista “República Nova”. A
novidade, como todos sabem, ficou só na alcunha.
Quase um século após a proclamação da República, a emenda consti-
tucional nº 25, de 15 de maio de 1985, reatribuiu aos analfabetos a capaci-
dade política, que a Constituição de 1891, reafirmando a Lei Saraiva, lhes
havia retirado. Doravante, os que não chegaram a adquirir as primeiras le-
tras, pelo descaso dos Poderes Públicos, já não seriam penalizados por uma
deficiência da qual não podiam, honestamente, ser responsabilizados (7).
312 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
A mesma emenda nº 25 fixou em 8 e 60 o número mínimo e máximo,
respectivamente, de deputados federais por estado.
A Constituição de 1988, praticamente, nada inovou em matéria elei-
toral, salvo no que diz respeito ao número máximo de deputados federais
por Estado. Em rídicula concessão à magnitude do maior eleitorado estadu-
al, fixou o teto de repreesentantes em 70 em cada circunscrição (art. 45, §
1º), quando o mínimo justo seria de pelo menos 120.
A grande inovação viria com a emenda constitucional nº 16, de 4 de
junho de 1997, a qual, contra toda a tradição, a prudência e o bom-senso,
introduziu a possibilidade de reeleição dos chefes de Poder Executivo. É
uma iniciativa temerária, que virá certamente reforçar ainda mais o poder
irresponsável de nossos governantes, sobretudo depois que a interpretação
espúria, vingou sustentada pelo Planalto, de que os candidatos à reeleição
não precisam se desincompatibilizar.
No plano da legislação eleitoral, o espírito pouco democrático do re-
gime pós-militar também se fez sentir. A partir de 1985, tivemos quase que
uma lei especial para cada eleição. Os políticos da maioria dominante pro-
curavam adaptar a legislação às suas conveniências pessoais, praticando aquele
abuso de poder que Rousseau considerava o mais corruptor de todos: a
manipulação legislativa. A recente Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
parece ter posto fim a essa sucessão de leis eleitorais de encomenda. Ela se
ressente, porém, a meu juízo, de um grave defeito de origem: regulando
matéria fixada na própria Constituição, e que diz respeito a um dos mais
importantes atributos da cidadania, ela deveria ter sido votada como lei
complementar, e não como lei ordinária.
O povo ausente ou privado de voz
Como se acaba de ver, ensaiamos neste país, desde a independência,
os mais variados sistemas eleitorais, com extensa gama de espécies e
subespécies. O resultado, porém, sempre foi o mesmo: os grupos dominan-
tes jamais perdem o poder. Em nenhum outro setor da vida nacional terá,
talvez, mais perfeita aplicação o ditado francês: plus ça change, plus c’est la
même chose.
A razão de ser dessa perpétua alteração imobilista não é difícil de
discernir.
Até 1945, o povo foi mero figurante e não personagem na cena polí-
tica. Ele compunha o eleitorado virtual, como diríamos hoje na linguagem
eletrônica.
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 313
Por ocasião do último pleito realizado durante o regime imperial, em
1886 – as primeiras eleições diretas que conheceu o país –, os que compare-
ceram às urnas representavam menos de 1% da população nacional. Duran-
te toda a República Velha, a média dos votantes, em todos os pleitos, foi de
2,6% da população.
A partir de 1945, o figurante torna-se realmente personagem, com
um papel próprio a desempenhar. Mas nesse desempenho próprio, ele rara-
mente se aparta do roteiro que o diretor da peça teatral lhe atribui de ofício.
A bem dizer, não há nisso nada de surpreendente. Em vão procura-se
o povo, nos principais fastos de nossa história. Ele teima em permanecer
ausente, ou, quando aparece, é para se mostrar como que privado de pala-
vra. É assim mesmo, aliás, que Vieira o descreve, no sermão da visitação de
Nossa Senhora, pregado por ocasião da chegada à Bahia do marquês de
Montalvão, vice-rei do Brasil, em junho de 1640 (8). “Ut facta est vox
salutationis tuae in auribus meis, exultavit in gaudio infans. Comecemos
por esta última palavra”, propôs o grande pregador. “Bem sabem os que
sabem a língua latina, que esta palavra, infans, infante, quer dizer o que não
fala. Neste estado estava o menino Batista, quando a Senhora o visitou, e
neste esteve o Brasil muitos anos, que foi, a meu ver, a maior ocasião de seus
males. Como o doente não pode falar, toda a outra conjectura dificulta
muito a medicina. (...) O pior acidente que teve o Brasil em sua enfermida-
de foi o tolher-se-lhe a fala: muitas vezes se quis queixar justamente, muitas
vezes quis pedir o remédio de seus males, mas sempre lhe afogou as palavras
na garganta, ou o respeito, ou a violência; e se alguma vez chegou algum
gemido aos ouvidos de quem o devera remediar, chegaram também as vo-
zes do poder, e venceram os clamores da razão”.
É óbvio que o Brasil, a que se refere Vieira, não é o conjunto dos
poderosos da época, que diziam à metrópole exatamente o que esta queria
ouvir. É o povo sem poder e sem voz.
Às vésperas da Independência, Hipólito da Costa declarava em Lon-
dres, no Correio Braziliense: “Ninguém deseja mais do que nós, as reformas
úteis, mas a ninguém aborrece mais do que nós que essas reformas sejam
feitas pelo povo”. Um governador mineiro repetiu declaração análoga um
século depois, às vésperas da Revolução de 1930.
Ora, a partir de 1945, o grande ausente irrompe na cena política,
convocado para votar na eleição dos governantes. Todas as precauções, po-
rém, são tomadas para que ele fale o mínimo possível, e fale apenas sobre
matéria que não escolheu e na ocasião que lhe é ditada. Quando as circuns-
314 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
tâncias indicam que há riscos sérios de o roteiro não ser fielmente seguido,
simplesmente fecha-se o teatro e adia-se a representação. “A política brasi-
leira”, observou com lucidez Hermes Lima, “tem a perturbá-la, intima-
mente, secretamente, desde os dias longínquos da Independência, o senti-
mento de que o povo é uma espécie de vulcão adormecido. Todo perigo
está em despertá-lo. Nossa política nunca aprendeu a pensar normalmente
no povo, a aceitar a expressão da vontade popular como base da vida repre-
sentativa” (9).
O magno problema político brasileiro não é, pois, como pareceu a
certos cientistas políticos sempre prontos a assimilar teses e categorias forja-
das nas oficinas intelectuais do primeiro mundo, uma crise de governabilidade
(10). O nosso problema é mais profundo e diz respeito, muito além da
esfera de governo, ao próprio regime político: é a tentativa absurda de fazer
funcionar uma democracia sem povo.
A partir de 1945, quando o número de votantes nas eleições nacionais
cresceu progressivamente, de 16% da população a mais de 50% nos anos 80
em diante, o grande desafio para os grupos ou classes dominantes consistiu,
justamente, em admitir o funcionamento do mecanismo eleitoral sem que a
maioria do povo assumisse, em razão de sua esmagadora predominância
numérica, as rédeas do Estado.
Num primeiro momento, recorreu-se ao expediente do populismo,
que é a quintessência da demagogia. Nas eleições majoritárias, os donos do
poder escolhiam candidatos que gozavam de grande favor popular, mas que
se comprometiam, expressa ou tacitamente, a fazer o jogo das classes domi-
nantes. O esquema revelou-se altamente perigoso e acabou produzindo
efeitos desastrosos, com Janio Quadros e Fernando Collor de Melo. No
primeiro caso, aliás, as classes dominantes, apavoradas, pediram socorro às
Forças Armadas, instalando uma militocracia que durou duas décadas. No
segundo, já estava em funcionamento um outro esquema de poder, alta-
mente sofisticado, que assegurou, sem maiores traumatismos, a permanên-
cia do regime oligárquico: foi a manipulação competente da opinião públi-
ca pelos meios de comunicação de massa.
Entramos, assim, na última fase da evolução da oligarquia brasileira.
O conjunto dos meios de comunicação de massa, notadamente o rádio e a
televisão, tornaram-se o maior e mais novo poder informal de nossa organi-
zação política. Estamos, de fato, diante de um poder autêntico e não de
uma força política inorgânica. Por trás do véu da concorrência comercial, as
empresas de comunicação criaram uma unidade interna, estruturada juridi-
camente, e uma estratégia de atuação em comum com os detentores do
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 315
poder oficial, perante o povo. Hoje, como todos sabem, ainda que os meios
de comunicação de massa sejam impotentes para fazer um presidente da
República, eles têm capacidade suficiente para impedir que um candidato
adversário das forças dominantes conquiste a presidência pela via eleitoral.
A organização contemporânea da imprensa, do rádio e da televisão repre-
senta, em nosso país, o mais sugestivo exemplo daquele poder impediente
de que falava Montesquieu (11).
O mecanismo das eleições, viciado assim em sua essência, falseia com-
pletamente o funcionamento do regime.
Quando essa doença toma conta do corpo político, pode conduzi-lo,
na falta de uma intervenção oportuna e adequada, a um avançado estado de
decomposição. É preciso, pois, voltar urgentemente à consideração dos prin-
cípios fundamentais da democracia. É preciso voltar a Rousseau e a seu ra-
dicalismo popular.
Para o grande genebrino, defendendo o modelo contra o qual se for-
jou, contemporaneamente, a política de privatizações e de liquidação do
Estado Social, quanto mais um Estado é bem organizado, mais os cidadãos
se ocupam de questões ligadas ao bem comum e menos de questões de
interesse particular. Sucede mesmo, nesse Estado bem organizado, que as
questões privadas tornam-se menos numerosas, uma vez que a realização
do bem comum aumenta o grau de felicidade individual, reduzindo com
isso a necessidade de cada qual recorrer aos cuidados particulares (12).
É por isso que ele via na representação popular a negação da sobera-
nia do povo. Os mandatários tornam-se, fatalmente, prevaricadores e pas-
sam a atuar contra o interesse do mandante. Os eleitos confiscam o Estado
e substituem-se ao povo. “A Soberania não pode ser representada”, susten-
tava Rousseau, “pela mesma razão que ela não pode ser alienada; ela consis-
te essencialmente na vontade geral, e a vontade geral não se representa; ela
é a mesma, ou é outra; não há meio termo. Os deputados do povo não são
pois, nem podem ser, seus representantes; eles são apenas seus comissários;
eles nada podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo não ratifi-
cou pessoalmente é nula; não é uma lei” (13).
Ao relembrar esses ensinamentos de um democrata radical, não estou
propondo instaurar, numa sociedade de 160 milhões de pessoas, um siste-
ma de democracia direta exclusiva. O próprio Rousseau, aliás, tendo sem
dúvida a cidade independente de Genebra diante dos olhos, entendia que
somente nos pequenos Estados seria possível instituir um regime de autên-
tica soberania popular (14). Antes dele, Montesquieu já sustentara que o
316 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
regime republicano só pode prosperar nos pequenos Estados, onde o bem
comum está mais perto de cada cidadão e os abusos são menores e menos
protegidos (15).
Mas é inegável que a democracia hodierna, qualquer que seja o tama-
nho da sociedade política, exige a instituição de um sistema de decisões
populares diretas, que resolvam as questões coletivas fundamentais e esta-
beleçam diretrizes vinculantes para os órgãos de governo. É o governo sub-
metendo-se ao soberano, o governo delegado do povo, e não dono do
poder, a representar para o povo como um ator teatral representa para a
platéia. E, justamente porque o aparelho governamental é cada vez mais
forte nos grandes Estados, torna-se indispensável, como insistia Rousseau,
que o povo soberano se pronuncie mais freqüentemente (16). É a policy
determination, dirigindo a policy execution, para usarmos das categorias pro-
postas por Karl Loewenstein (17). Somente pela Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998, isto é, 10 anos depois de promulgada a Constituição, é
que o Congresso Nacional regulou o referendo, o plebiscito e a iniciativa
popular legislativa. E, ainda assim, tomando o cuidado de esvaziar de todo
conteúdo prático essas prerrogativas fundamentais de soberania popular (18).
Antes de mais nada, a competência decisória original do povo é
inalienável, como atributo da soberania, em matéria constitucional. Hoje,
já não se podem aceitar como legítimas as Constituições que não tenham
sido referendadas pelo povo soberano, nem elaboradas por uma assembléia
superior aos órgãos normais de funcionamento do Estado convocada ex-
clusivamente para essa tarefa. Da mesma forma, nenhuma alteração do tex-
to constitucional em vigor pode deixar de ser submetida ao referendo po-
pular.
Por isso mesmo, se tivermos de reformar o sistema eleitoral deste país,
para corrigir os defeitos gravíssimos acima apontados, a mais elementar exi-
gência de autenticidade democrática impõe que tal reforma, em suas linhas
gerais, seja feita por decisão do próprio povo, e nunca por obra de seus
representantes. Tanto mais que a votação, pelos representantes do povo,
das normas que regem o processo pelo qual eles próprios foram eleitos,
constitui inadmissível violação do princípio que proibe a prática, por um
representante, de atos que digam respeito aos seus próprios interesses, em
conflito com os interesses do representado. A representação popular, em
suma, só é legítima quando instituída pelo próprio povo.
Por outro lado, ainda no campo institucional, a instauração da demo-
cracia autêntica, entre nós, exige que se submeta aos princípios democráti-
cos o formidável poder não-institucionalizado dos meios de comunicação
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 317
de massa. Os órgãos de comunicação não são empresas quaisquer, que pro-
duzem bens ou prestam serviços ao consumidor. Elas não se situam no
setor econômico, mas no campo político. E isto, pelo fato de interferirem
decisivamente na formação da opinião pública, sendo certo que algumas
delas só podem atuar mediante a utilização de um bem público, isto é, bem
do povo, que é o espaço no qual são emitidas as ondas hertzianas. É intole-
rável, numa democracia digna desse nome, que esses poderosos instrumen-
tos de ação política sejam oligopolizados em mãos das classes dominantes.
Tudo isso, no campo puramente institucional. Mas a democracia, como
todo regime político, não se reduz a um conjunto de instituições jurídicas.
Ela vive também em função de uma ética própria, centrada em torno de
valores fundamentais. Ela se alimenta, ademais, de uma prática ou estilo de
vida. A prática democrática é formada pelos costumes do povo. Ora, os cos-
tumes sociais, como enfatizou Montesquieu, não se constituem nem se re-
formam por lei. Eles nascem e se aperfeiçoam por obra da educação. Não
há mais segura defesa das instituições constitucionais de uma democracia
do que a formação, no seio do povo, de um vigoroso ethos democrático,
representado pelas virtudes cardeais da cidadania ativa: a participação popu-
lar permanente nos assuntos de governo e o respeito escrupuloso dos direi-
tos humanos.
Notas
1 Esta distinção foi claramente exposta por Karl Loewenstein, em sua obra Political
power and the governmental process, reeditada ampliadamente em alemão sob o
título Verfassungslehre, 3ª ed., Tübingen, J C B. Mohr, 1975, p. 34 e ss.
2 Em sentido exatamente contrário, o idealismo alemão apresenta o governo como
representante do Estado como um todo perante o indivíduo. Cf. Carl Schimitt,
Verfassungslehre. 7ª ed., Berlim, Duncker & Humblot, 1989, p. 212; Gerhard
Leibholz, Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie
im 20. Jahrhundert, 3ª ed., Berlim, Duncker & Humblot, 1966, p. 79 e ss.
3 “Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque; à certains
autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses
volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui
établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement.
En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les
suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est
le monarque, et de quelle manière il doit gouverner”. De l’Esprit des Lois, livro
II, cap. 2.
318 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
4 Citado por Walter Costa Porto, O Voto no Brasil: da Colônia à 5ª República,
História Eleitoral do Brasil, v. I, p. 85.
5 Systema Representativo. O Senado Federal publicou uma edição fac-similar do
livro em 1997.
6 O livro capital de Assis Brasil, Democracia representativa: do voto e do modo de
votar, foi publicado em 1893.
7 Durante o debate na Câmara sobre o projeto Sinimbú de eleição direta, o qual
suprimia o direito de voto dos analfabetos, o Ministro Leôncio de Carvalho
afirmou candidamente: “Até a execução da reforma (eleitoral) há muito tempo
para os analfabetos procurarem escola”. Estava-se, então, no ano da graça de
1879. Mais de 120 anos depois, seria arriscado afirmar que a mentalidade dos
governantes no país tenha sofrido alguma mudança.
8 Sermões, v. IX, Porto, Lello & Irmão, Editores, 1951, p. 334.
9 Cit. por Raymundo Faoro, Os donos do poder, I, 2ª ed., Porto Alegre, p. 323.
10 Em A retórica da intransigência: perversidade, futilidade, ameaça. São Paulo,
Companhia das Letras, 1995, p. 100 e ss.; Albert O. Hirschman mostrou que
a tese da crise de governabilidade tem origem num relatório da Comissão
Trilateral de 1975, publicado sob o título The crisis of democracy, em que se
sustentou que o excesso de gastos governamentais, notadamente com progra-
mas de política social, poria em risco a própria democracia. Foi a verdadeira
declaração de guerra do neoliberalismo contra o Estado do Bem-Estar Social.
11 “J’appelle faculté de statuer, le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger
ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d’empêcher, le droit de rendre
nulle une résolution prise par quelque autre; ce qui étoit la puissance des tribuns
de Rome”. De l’Esprit des Lois, livro XI , cap. VI.
12 “Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées
dans l’esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d’affaires privées, parce
que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable
à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins
particuliers”. Du Contrat Social, livro 3º, cap. XV.
13 Op. cit., ibid.
14 “Je réponds que c’est toujours un mal d’unir plusieurs villes en une seule cité, et
que, voulant faire cette union, l’on ne doit pas se flatter d’en éviter les inconvéniens
naturels. Il ne faut point objeter l’abus des grands États à celui qui n’en veut
que de petits”. Op.cit., livro 3º, cap. XIII.
15 Op. cit., livro VIII, cap. XVI.
ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000 319
16 “Quant aux retours plus ou moins fréquens des assemblées légitimes (assem-
bléias de todo o povo), ils dépendent de tant de considérations qu’on ne sauroit
donner là-dessus de règles précises. Seulement on peut dire en général que plus
le Gouvernement a de force, plus le Souverain doit se montrer fréquemment”.
Id., ibid.
17 Op. cit., p. 40.
18 Sobre o assunto, a melhor monografia continua sendo a de Maria Victoria de
Mesquita Benevides, A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popu-
lar. São Paulo, Ática, 1991.
Fábio Konder Comparato, doutor em Direito pela Universidade de Paris, é pro-
fessor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
320 ESTUDOS AVANÇADOS 14 (38), 2000
You might also like
- Direito ConstitucionalDocument17 pagesDireito ConstitucionalLydi LoboNo ratings yet
- Pesquisa - Empirica - em - Direito As REGRAS de INFERENCIADocument255 pagesPesquisa - Empirica - em - Direito As REGRAS de INFERENCIAs17fabioNo ratings yet
- Controle VetoresDocument187 pagesControle VetoresWilson LimaNo ratings yet
- In 16 2017Document13 pagesIn 16 2017Moezio BritoNo ratings yet
- Manual SNGPC 2.0 2Document21 pagesManual SNGPC 2.0 2Lydi LoboNo ratings yet
- Relatório Pesquisa Formol 2018 - Versão FinalDocument16 pagesRelatório Pesquisa Formol 2018 - Versão FinalLydi LoboNo ratings yet
- Quadro Esquemático de Classificação Das ConstituiçõesDocument1 pageQuadro Esquemático de Classificação Das ConstituiçõesLydi LoboNo ratings yet
- Lei 6.404/76 Esquematizada e Atualizada para Concursos - Parte ContábilDocument30 pagesLei 6.404/76 Esquematizada e Atualizada para Concursos - Parte ContábilFabiano MoreiraNo ratings yet
- Livro Usucapiao LeituraDocument16 pagesLivro Usucapiao LeituratiagomassaoNo ratings yet
- Simulado da 1a fase do XXVI Exame de OrdemDocument18 pagesSimulado da 1a fase do XXVI Exame de OrdemAndressa Bárbara NogueiraNo ratings yet
- Classificação de risco para licenciamento sanitárioDocument7 pagesClassificação de risco para licenciamento sanitáriospirotessNo ratings yet
- Parecer CRM - PA - Dispõe Sobre Responsabilidade Técnica e A Constante Presença Do Mesmo em Clínicas de VacinaçãoDocument6 pagesParecer CRM - PA - Dispõe Sobre Responsabilidade Técnica e A Constante Presença Do Mesmo em Clínicas de VacinaçãoLydi LoboNo ratings yet
- Zoonoses Guidelines: Surveillance, Prevention and ControlDocument124 pagesZoonoses Guidelines: Surveillance, Prevention and ControlJobson SantanaNo ratings yet
- Cartilha Vigilância Sanitária08dez2017 PDFDocument20 pagesCartilha Vigilância Sanitária08dez2017 PDFSérgio ViníciusNo ratings yet
- Exercício PenalDocument1 pageExercício PenalLydi LoboNo ratings yet
- Gestão Documental No Poder Judiciário - Módulo IDocument9 pagesGestão Documental No Poder Judiciário - Módulo IDiego FrancoraNo ratings yet
- Comissão Defesa Civil SalvadorDocument6 pagesComissão Defesa Civil SalvadorLydi LoboNo ratings yet
- Cuidados na compra, utilização, conservação e inspeção de extintores de incêndioDocument4 pagesCuidados na compra, utilização, conservação e inspeção de extintores de incêndioLydi LoboNo ratings yet
- Orientações para sala de imunização e refrigeração de vacinasDocument6 pagesOrientações para sala de imunização e refrigeração de vacinasLydi LoboNo ratings yet
- Apostila Implantacao CompdecDocument107 pagesApostila Implantacao CompdecLydi LoboNo ratings yet
- Manual completo para elaboração de monografias na UNEBDocument20 pagesManual completo para elaboração de monografias na UNEBErik Ribeiro100% (1)
- Resolucao Cib N 34, de 22-03-2016Document10 pagesResolucao Cib N 34, de 22-03-2016Lydi LoboNo ratings yet
- Introdução À Economia - Capítulo 1Document14 pagesIntrodução À Economia - Capítulo 1Lydi LoboNo ratings yet
- Como treinar sua memória com atenção, observação e associaçãoDocument88 pagesComo treinar sua memória com atenção, observação e associaçãoClaudio Sergio AzevedoNo ratings yet
- Discursos de Odio em Redes Sociais Jurisprudência Brasileira PDFDocument24 pagesDiscursos de Odio em Redes Sociais Jurisprudência Brasileira PDFLydi LoboNo ratings yet
- Eda Documentos Pedido RegistroDocument1 pageEda Documentos Pedido RegistroDiego GuedesNo ratings yet
- Autenticação mecânica requerimentoDocument2 pagesAutenticação mecânica requerimentoWallan OliveiraNo ratings yet
- A Aplicação Da Teoria Do HateDocument12 pagesA Aplicação Da Teoria Do HateLydi LoboNo ratings yet
- 1 PBDocument25 pages1 PBFelipe AlvesNo ratings yet
- Esquema de Estudo - Policia Penal DF (Antigo Agepen) : Prof. Ravan Leão ADSUMUS TRANSMISSÃO 061 985098848Document10 pagesEsquema de Estudo - Policia Penal DF (Antigo Agepen) : Prof. Ravan Leão ADSUMUS TRANSMISSÃO 061 985098848Marcos Roberto Leite LiraNo ratings yet
- Resumo Lei 11.091-05 MNDocument5 pagesResumo Lei 11.091-05 MNMary KayNo ratings yet
- Hobbes e Kelsen: Positivismo JurídicoDocument10 pagesHobbes e Kelsen: Positivismo JurídicovictorNo ratings yet
- AFO para ABIN: Princípios orçamentários e concurso para Oficial Técnico de InteligênciaDocument37 pagesAFO para ABIN: Princípios orçamentários e concurso para Oficial Técnico de InteligênciaMarcio HenriquesNo ratings yet
- 2014 - Vanessa Marx (Org) - Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território - UFRGS:CEGOVDocument205 pages2014 - Vanessa Marx (Org) - Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território - UFRGS:CEGOVCarolina FerroNo ratings yet
- Globalizacao e SocialismoDocument74 pagesGlobalizacao e SocialismoIgor OliveiraNo ratings yet
- Questões Início DireitoDocument6 pagesQuestões Início DireitoLucas De Souza EgramphonteNo ratings yet
- Edital Verticalizado Inss 2022.Document9 pagesEdital Verticalizado Inss 2022.João Estudante100% (1)
- Conceitos Fundamentais do Estado e Teorias Políticas ClássicasDocument21 pagesConceitos Fundamentais do Estado e Teorias Políticas ClássicasAna VicenteNo ratings yet
- Codigo de Etica CDDocument81 pagesCodigo de Etica CDLuiz GuilhermeNo ratings yet
- Princípios Da Gestão Escolar DemocráticaDocument18 pagesPrincípios Da Gestão Escolar DemocráticaAna FragaNo ratings yet
- Prospero de Almeida - As Ordens Dos Medicos e Dos Enfermeiros - Julaw 1Document13 pagesProspero de Almeida - As Ordens Dos Medicos e Dos Enfermeiros - Julaw 1Próspero De AlmeidaNo ratings yet
- Direito Penal I - Conceito e Fins das PenasDocument41 pagesDireito Penal I - Conceito e Fins das PenasDaniel Vieira Lourenço100% (4)
- Estereótipos de Gênero e Violência contra Mulheres na Justiça e LeisDocument17 pagesEstereótipos de Gênero e Violência contra Mulheres na Justiça e LeisClara LealNo ratings yet
- O veto presidencial à Lei 13.491/2017: um arranjo políticoDocument17 pagesO veto presidencial à Lei 13.491/2017: um arranjo políticoRenato CechinelNo ratings yet
- O I Ndio Brasileiro e A Revoluc A o Francesa As Origens BrasileDocument252 pagesO I Ndio Brasileiro e A Revoluc A o Francesa As Origens BrasileBreno GomesNo ratings yet
- Direito Comparado: Famílias JurídicasDocument119 pagesDireito Comparado: Famílias JurídicasPedro DiasNo ratings yet
- A legalidade dos loteamentos fechadosDocument26 pagesA legalidade dos loteamentos fechadosItajacy BrumNo ratings yet
- BR 19 Iii Série 2019Document20 pagesBR 19 Iii Série 2019icumba6180No ratings yet
- Bolsas de estudo e contribuições sociaisDocument17 pagesBolsas de estudo e contribuições sociaisThiago Graça CoutoNo ratings yet
- A Legitimidade Do Ministério Público em Trabalho Investigativo PolicialDocument32 pagesA Legitimidade Do Ministério Público em Trabalho Investigativo Policialalex bachmeyerNo ratings yet
- Aula sobre ordenamento jurídico e normas jurídicas na UEADocument17 pagesAula sobre ordenamento jurídico e normas jurídicas na UEAAna Livia MenezesNo ratings yet
- (PDF) Caderno de Repertórios para Redação ENEM - Daniel MunizDocument8 pages(PDF) Caderno de Repertórios para Redação ENEM - Daniel MunizPATRICIA SALVIANO DE OLIVEIRANo ratings yet
- Docsity Exercicios Mercosul IlbDocument25 pagesDocsity Exercicios Mercosul IlbAline PastreNo ratings yet
- Divisão dos poderes e teoria dos freios e contrapesosDocument1 pageDivisão dos poderes e teoria dos freios e contrapesosEstudante OABNo ratings yet
- MPF - Povos - Ciganos - Coletânea - de - Artigos PDFDocument470 pagesMPF - Povos - Ciganos - Coletânea - de - Artigos PDFRose Cappola100% (1)
- Direito Processual Penal (Aulas)Document5 pagesDireito Processual Penal (Aulas)Carolina VilhenaNo ratings yet
- Teresa Arruda Alvim - A Modulação e A Súmula 343Document8 pagesTeresa Arruda Alvim - A Modulação e A Súmula 343Thomas V. YamamotoNo ratings yet
- Estudo Sobre o - Impeachment - Sérgio Resende de BarrosDocument12 pagesEstudo Sobre o - Impeachment - Sérgio Resende de BarrosLetícia BarbosaNo ratings yet
- Etiane Köhler - A Ordem Econômica Na Constituição de 1988Document24 pagesEtiane Köhler - A Ordem Econômica Na Constituição de 1988EduardoHenrikAubertNo ratings yet