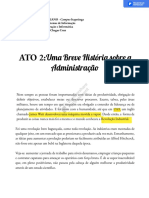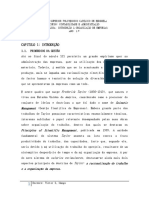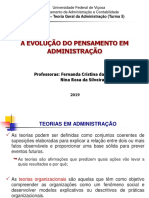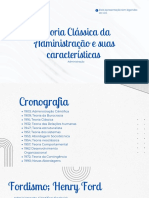Professional Documents
Culture Documents
O Século Da Administração
Uploaded by
Rafael CardosoCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
O Século Da Administração
Uploaded by
Rafael CardosoCopyright:
Available Formats
O século da administração
Walter Kiechel
12 de novembro de 2012
Se quiser apontar o lugar e a data em que os primeiros clarões do Século da
Administração surgiram no horizonte, não seria má ideia sugerir Chicago,
maio de 1886. Ali, na recém-fundada American Society of Mechanical
Engineers, Henry R. Towne, um dos fundadores da fabricante de fechaduras
Yale Lock Manufacturing Company, proferiu um discurso intitulado “The
Engineer as an Economist” — “O Engenheiro como Economista”.
Towne sustentou que, embora houvesse bons engenheiros e bons
empresários, raramente os dois coincidiam em uma só pessoa. E afirmou
que “a administração do trabalho fabril se convertera em uma questão de tal
importância que talvez já fosse justificável classificá-la como uma das artes
modernas”.
O discurso de Towne anunciava uma nova realidade em pelo menos três
sentidos. Chamemos o primeiro de conscientização: a administração deveria
ser encarada como um conjunto de práticas que podiam ser estudadas e
aperfeiçoadas. Devia ter raízes na economia, o que para a turma ali reunida
— uma plateia de engenheiros — significava atingir o máximo de eficiência
com recursos disponíveis. Em décadas futuras, tais mestres do universo
material, de Frederick Winslow Taylor a Michael Porter, Tom Peters e Michael
Hammer, teriam impacto descomunal sobre a história da administração.
Towne estava pegando um bonde. No século que se seguiu, a administração,
como a conhecemos, ganharia forma e viria moldar o mundo no qual
trabalhamos. Foram três eras entre a década de 1880 e hoje. Na primeira,
que vai até a 2a Guerra Mundial, o ideal de exatidão científica deu alento às
ambições de uma nova — e autoproclamada — elite administrativa. A
segunda, de fins da década de 1940 até cerca de 1980, foi a era dos
sentimentos elevados, do apogeu de autoconfiança e do apoio público
generalizado ao “managerialism”. A terceira era, ainda em curso, é marcada
por uma espécie de recuo — pela especialização, pela subordinação às forças
do mercado, pelo declínio de ambições morais. Mas é, também, uma era de
triunfo global que produziu consenso sobre certas ideias cruciais,
produtividade cada vez maior, o avanço mundial do ensino da administração
e a escalada geral das expectativas sobre a forma como o trabalhador deve
ser tratado.
Desde o começo, americanos e representantes de algum outro povo
anglófono dominaram a história da administração, no sentido de que foram
suas as ideias que mais se disseminaram. Houve exceções: em 1908, Henri
Fayol, engenheiro que dirigira uma das maiores companhias de mineração
da França, formulou uma lista de princípios de gestão que incluía a cadeia de
comando hierárquica, a separação de funções e a ênfase no planejamento e
no orçamento. Ainda assim, sua grande obra — Administração Industrial e
Geral, de 1916 — levou décadas para ser traduzida e ter alguma repercussão
fora da França. Embora a globalização prometa uma diversificação de fontes
de ideias de gestão, o grosso da história até aqui se passa nos Estados Unidos
(veja o boxe “Adeus ao provincianismo global”).
A era da “administração científica”
Progressistas se arrogavam um saber especial calcado na ciência e
apreendido em processos. Frederick Taylor, que sustentava que “a melhor
administração é uma ciência de fato, assentada em leis, regras e princípios
claramente definidos”, obviamente se considerava um deles (fãs como Louis
Brandeis e Ida Tarbell concordavam). Sua meta declarada era garantir
“máxima prosperidade para o empregador, conjugada com máxima
prosperidade para cada trabalhador”, mediante “uma divisão muito mais
equânime da responsabilidade entre administração e trabalhadores”.
Traduzindo (para que o leitor não superestime o respeito de Taylor pela
potencial contribuição do trabalhador): o trabalhador deveria seguir um
processo analisado e projetado pela administração para garantir a máxima
eficiência — “o melhor caminho” —, o que permitiria que fizesse tanto quanto
humanamente possível dentro de um período determinado de tempo.
O lançamento, em 1911, de Princípios da Administração Científica —
originalmente apresentado por Taylor como uma dissertação à mesma
sociedade de engenheiros mecânicos lá do começo — deflagrou um século
de busca pelo equilíbrio entre os “mecanismos da produção” e a
“humanidade da produção”, como definiu o inglês Oliver Sheldon em 1923.
Ou, como preferem alguns, entre quem só enxerga números e quem pensa
no lado humano da coisa. É a grande tensão que define o pensamento
administrativo.
O movimento das relações humanas iniciado nas décadas de 1920 e 1930 é
caricaturado na história da administração como uma reação à obsessão
reducionista de Taylor com o quantificável. Outra interpretação, melhor, é
que as duas coisas se complementam, o que se evidencia na obra de Elton
Mayo e outros envolvidos nos revolucionários estudos de Hawthorne. A obra
de Mayo divide com a de Taylor a grande ambição de melhorar a
produtividade e a cooperação com a administração mediante a aplicação da
ciência — embora, no caso, a ciência fosse a psicologia e, em menor escala,
a sociologia.
Iniciados em 1924, os estudos de Hawthorne duraram até 1932 e foram
conduzidos, em sua maioria, na fábrica Hawthorne da Western Electric em
Cicero, Illinois (embora outras fábricas e companhias também tenham
participado). A análise ocorreu sobretudo na Harvard Business School,
inclusive em departamentos como o Laboratório de Fadiga (se o problema
era o cansaço de operários, como projetar operações de modo a reduzir a
exaustão e, ainda assim, conseguir um máximo rendimento?). O estudo de
Hawthorne foi, sem dúvida, o mais importante no campo das ciências sociais
feito na indústria. Vale a pena estendermo-nos um pouco sobre o projeto, no
mínimo para desfazer o popular mito sobre suas conclusões (“Se acendiam
as luzes, a produtividade subia. Se apagavam as luzes, idem. Qualquer sinal
de atenção da administração bastava para melhorar a produtividade”). O
estudo consistiu, basicamente, em levantar hipóteses que, uma a uma, eram
sucessivamente derrubadas. Nem mudanças em condições físicas (melhor
iluminação), nem em horários de trabalho (mais pausas para descanso), nem
tampouco em sistemas de incentivos conseguiam explicar cabalmente o
aumento contínuo da produtividade de um grupo de moças — sempre
chamadas de “meninas” — que montavam componentes em uma sala de
testes.
Ao cabo de anos de experimentos, o australiano Mayo, um psicólogo que
entrara para o corpo docente da HBS, começou a suspeitar que pelo menos
dois fatores influíam nos resultados. Primeiro, as mulheres tinham
constituído um grupo, e a dinâmica de grupo — com um integrante
estimulando o outro — demonstrava ser um forte determinante do
rendimento. Segundo, as “meninas” eram consultadas a cada passo pelos
pesquisadores, que haviam informado o propósito do experimento e pedido
sugestões às jovens. Da destilação desse material bruto surgiram insights
básicos da escola das relações humanas: o operário não era um mero
autômato a ser aferido e acossado com um cronômetro; provavelmente
seria útil saber o que queria e sentia; e o grupo detinha considerável controle
sobre o quanto estava pronto a produzir.
Essas conclusões soam humanas. E eram. Porém, o grande fito dos
experimentos sempre foi descobrir como usar a psicologia para melhorar a
produtividade, inibir a sindicalização e aumentar a cooperação de operários
com a administração. Por trás da iniciativa de Taylor e do chamado “Círculo
de Harvard” havia um elitismo e uma arrogância de classe quase
incompreensíveis para os padrões atuais. Wallace B. Donham, o reitor da
HBS que criou a HBR, acreditava piamente que a resposta aos problemas do
país — Depressão, governo inepto, turbilhão social — estava em uma “nova
classe administradora” devidamente instruída. Às margens do rio Charles,
Donham e outros encaravam o operário típico como um ser menor, a ser
manipulado para fins mais elevados (ou, conforme disse Taylor do tipo de
homem mais indicado para alimentar o forno com gusa, “tão boçal e
fleumático que, mentalmente, mais se assemelha a um bovino”).
clique na imagem para ampliar
A administração triunfante
Foi então que uma lufada de ar puro e fresco varreu este sufocante
ambiente. Foi o furacão Drucker. Confesso aqui que, como todo estudante
de administração com as ideias no lugar, há muito tiro o chapéu para o
grande homem, mas só fui entender o quão revolucionárias foram suas
ideias quando me debrucei sobre a obra de seus antecessores.
Aplicação da psicologia humanista a instituições sociais. Partindo com
Concept of the Corporation (1946) e seguindo com Prática da Administração
de Empresas (1954) e Administração para Resultados (1964), Peter Drucker
propôs a visão da empresa como uma instituição social — aliás, uma rede
social — na qual a capacidade e o potencial de todos os envolvidos deviam
ser respeitados. Sai a terminologia (e a mentalidade) do “patrão”, do
“capataz” e do “operário”. Entram “gerente” e “funcionário”. Se não foi
Drucker quem inventou o conceito da “administração”, foi quem mais fez
para introduzir o termo e todas suas iterações no modo como pensamos a
gestão de organizações.
Drucker não fomentou a revolução administrativa sozinho. Em sua magistral
síntese dos experimentos de Hawthorne (1937), Fritz Roethlisberger
descreve organizações como “sistemas sociais”. A tarefa da administração,
afirma, é manter o equilíbrio desses sistemas. Na década de 1950, Drucker
reavivou o interesse pela obra de Mary Parker Follett, figura da década de
1920 basicamente esquecida e cujas ideias sobre a administração — “poder
com”, em vez de “poder sobre”, “confronto construtivo” e busca de soluções
vantajosas para todas as partes — ganharam nova repercussão no pós-
guerra.
Outros se juntaram ao coro. Primeiro como professor de administração da
Sloan School (MIT), depois como reitor da Antioch College, Douglas McGregor
bebeu na psicologia humanista de Abraham Maslow — o da pirâmide das
necessidades do ser humano — para propor as célebres Teoria X (o homem
é naturalmente indolente e se furtará a suas obrigações se não for
estritamente vigiado) e Teoria Y (o homem quer ver sentido em seu trabalho
e dará uma contribuição positiva se o trabalho for bem projetado). McGregor
se desdobrou para frisar que X e Y eram “cosmologias [ou seja, crenças sobre
a natureza humana] (…), não estratégias gerenciais”. Para seu desgosto,
ninguém deu muito ouvido a esse detalhe.
A tendência geral dos teóricos da administração no pós-guerra foi valorizar
a “humanidade da produção”. Pela lógica, o trabalhador seria mais produtivo
se fosse respeitado e se os gerentes fomentassem a capacidade do indivíduo
de se automotivar e resolver problemas sozinho.
Não que a velha ordem tenha partido sem espernear. Depois de estudar a
General Motors para a obra Concept of the Corporation, Drucker convenceu
Charlie Wilson, executivo então em ascensão na montadora, a propor uma
série de reformas que dariam mais autonomia a gerentes de fábricas e
promoveriam o que hoje chamaríamos de “empowerment” do trabalhador.
A ideia sucumbiu a duas forças. Uma era o restante da administração da GM,
inclusive o presidente da montadora, Alfred P. Sloan. A outra foi o sindicato
United Auto Workers, na pessoa de Walter Reuther, contrário a qualquer
coisa que atenuasse a distinção entre administração e trabalhadores.
A conjunção entre atitudes gerenciais mais esclarecidas e outras forças — a
democratização da sociedade americana após a 2a Guerra Mundial, a
explosão da demanda reprimida por bens econômicos — inaugurou duas
décadas de bons ânimos e aparente satisfação com empresas e sua conduta.
O número de greves e reivindicações trabalhistas despencou dos píncaros
registrados imediatamente após a guerra; a parcela da força de trabalho
sindicalizada atingiu o pico e iniciou a lenta e prolongada queda que segue
até hoje (é provável que a solicitude da administração tenha sido estimulada
pela taxa de desemprego inferior a 3% em 1953).
Ascensão do pensamento estratégico. O período do pós-guerra, além de
maior lucidez na interação com trabalhadores, aguçou a consciência daquilo
que um gestor podia realizar. De novo, Drucker mostrou o caminho.
De nosso posto privilegiado no século 21 — quando toda empresa tem uma
estratégia e todo executivo uma série de grandes metas —, é duro entender
a falta de direção que teria caracterizado gerações anteriores. Mas, como
Drucker observou em Prática da Administração de Empresas, “os primeiros
economistas” — e, por conseguinte, outros estudiosos da administração —
“concebiam o homem de negócios e seu comportamento como puramente
passivos. Sucesso nos negócios significava uma adaptação rápida e
inteligente a acontecimentos externos em uma economia moldada por
forças impessoais e objetivas. Essas forças não eram nem controladas pelo
homem de negócios, nem influenciadas por sua reação a elas” (se o homem
de negócios se julgava tão impotente assim na vida real é discutível).
Isso não bastava, proclamou Drucker. “A administração tem que administrar.
E administrar não é apenas uma atitude passiva de adaptação.” O
administrador precisava tomar as rédeas; precisava “tentar moldar o cenário
econômico (…) e lutar constantemente contra as limitações que as
circunstâncias econômicas impõem à liberdade de ação da empresa”. Para
contribuir nesta luta, sustenta Drucker, a administração precisa ter objetivos
e tocar a empresa em conformidade com eles.
Em seu livro de 1964, Administração para Resultados, Drucker vai um passo
além, sustentando que “empresas existem para produzir resultados” e que o
administrador precisa vasculhar sistematicamente o mercado em busca de
oportunidades de crescimento. Em prefácio de 1985 a uma nova edição, o
autor afirmaria que a obra fora a primeira sobre “estratégia” empresarial,
mas que ele e o editor tinham sido dissuadidos de empregar o termo.
Consultores não tiveram tal pudor. Em 1963, Bruce Henderson, ex-executivo
da Westinghouse e legítimo representante da verve americana, criou o
embrião do Boston Consulting Group (BCG). Não tardou para que a firma
assumisse como missão definir a estratégia empresarial — até então o termo
mal fora usado — e saísse pregando seu evangelho a empresas.
Não foi mera troca de nomenclatura. A escalada da estratégia empresarial
foi uma nova e ousada investida da ala envolvida nos “mecanismos da
produção”. Os conceitos básicos do BCG — curva de experiência, matriz de
crescimento-participação de mercado — tiveram enorme influência, mas
ainda mais importante foi o furor analítico na base disso tudo. Consultores
insistiam em escarafunchar cifras por trás de custos, clientes e concorrentes
em grau até então inédito na maioria das empresas. A estratégia teve como
facilitador e constante companheiro o que chamo de Grande Taylorismo: o
imperativo de aplicar régua e cronômetro não só ao trabalho rotineiro de
algum pobre infeliz, mas a todo e qualquer aspecto das operações de uma
empresa.
A estratégia era agressiva. A finalidade de reunir essa numerada toda era
descobrir qual a posição da empresa em relação à concorrência e como
conseguir vantagem sobre ela. Valendo-se de gráficos e diagramas, o BCG
martelou sem parar a importância de a empresa ocupar o primeiro ou o
segundo lugares em sua área de atuação.
Em 1967, quando John Kenneth Galbraith lançou O Novo Estado Industrial,
alguns já começavam a temer que empresas americanas e seus dirigentes
talvez estivessem sendo agressivos demais. Galbraith denunciou o
desmesurado crescimento e sucesso de empresas — em 1974, as 200
maiores indústrias americanas controlavam dois terços dos ativos industriais
do país e mais de três quintos das vendas, do emprego e da renda. Metas
sociais, afirmava Galbraith, eram cada vez mais subordinadas a metas
empresariais. Uma “tecnoestrutura” de lideranças empresariais basicamente
anônima podia ditar ao consumidor o que comprar e, implicitamente, como
viver — ou assim rezava a teoria.
A era do globalismo nervoso
Depois de duas décadas sem graves recessões, os choques do petróleo da
década de 1970 e a consequente tribulação econômica enterraram a noção
do triunfo da gestão. Em uma pesquisa de opinião da Harris em 1966, 55%
dos americanos diziam ter “muita confiança” em dirigentes de grandes
empresas. Em 1975, a parcela despencara para 15%.
Forças pró-mudança. Executivos americanos enfrentavam uma leva de
forças novas que acirraram a concorrência e, a certa altura, solaparam a
relativa paz que reinava entre empresas, trabalhadores e governo.
Na tentativa de manter a inflação sob controle, o presidente americano
Jimmy Carter lançou iniciativas para desregulamentar atividades como a
aviação comercial civil e o transporte ferroviário e rodoviário de cargas. Seus
sucessores engrossaram o cordão da desregulamentação, que agora
chegava às telecomunicações e aos serviços financeiros. Paralelamente,
iniciativas americanas para incentivar o comércio mundial também
emplacavam. Mas a inundação do mercado interno por automóveis, aço e
artigos eletrônicos importados trouxe consigo dúvidas: o americano se
perguntava se seria possível que um bando de estrangeiros, sobretudo
japoneses, entendesse mais de administração do que ele.
clique na imagem para ampliar
A tecnologia, sobretudo a informática, aumentava sem parar o poder de
cálculo da turma dos números: o circuito integrado (fins dos anos 1950), o
minicomputador (meados da década de 1960), o microprocessador (início da
de 1970) e o microcomputador (meados da mesma década), que em breve
se transformaria no onipresente PC. O Grande Taylorismo, surgido na era da
régua de cálculos, achara um jeito de criar modelos cada vez mais precisos
sobre como uma empresa devia operar.
O reaquecimento do mercado acionário em 1982 — o índice Dow Jones
Industrial Average levara dez anos para voltar à máxima de 1.000 pontos
registrada em 1972 — fez brotar um pujante mercado de controle de
sociedades anônimas. Caíram por terra velhos óbices a aquisições hostis,
novas fontes de recursos foram abertas a potenciais compradores (“junk
bonds” sendo uma delas) e investidores perceberam que daria para faturar
comprando empresas com um mafuá de operações para depois revendê-las
aos pedaços. Em 1989, mais de 25% das empresas do ranking Fortune 500
de 1980 tinham sido compradas.
Capitalismo do acionista destrona capitalismo de stakeholders. Durante esse
período de intensas mudanças, o propósito da estratégia, e aliás da
administração de empresas, ganhou mais nitidez: criar riqueza para
acionistas. É verdade que a ideia era velha — remontava aos financistas
flibusteiros do século 19. Mas, durante a era “paz e amor” da administração,
uma noção mais inclusiva fincara raízes em certos redutos.
Em sua recente história econômica dos EUA, Land of Promise, o autor
Michael Lind cita uma declaração de 1951 do então presidente do conselho
da Standard Oil of New Jersey: “O papel da administração é manter um
equilíbrio equânime e funcional entre reivindicações dos distintos grupos de
interesse diretamente afetados (…) acionistas, funcionários, clientes e o
público em geral”. Às vezes rotulada de “capitalismo de stakeholders”, essa
concepção mais ampla seria reiteradamente atacada por adeptos do
“capitalismo do acionista” — a ponto de quase ter desaparecido do debate
sobre o propósito de uma empresa.
clique na imagem para ampliar
A reação de teóricos da administração às novas pressões que assolavam
empresas foi aguçar o foco. Com um livro de 1980, Estratégia Competitiva,
Michael Porter contribuiu mais do que qualquer outro indivíduo para
conferir à estratégia um rigor acadêmico que volta e meia não possuía no
reino da consultoria. Seu livro seguinte, Vantagem Competitiva, de 1985,
municiaria empresas com conceitos como cadeia de valor, permitindo que
desmembrassem cada etapa das operações em unidades passíveis de ter
seu custo calculado, comparado e mensurado para determinação da
competitividade da empresa.
Com o aquecimento da economia e a febre de aquisições no mercado
financeiro se intensificando, mais gente quis se juntar às fileiras da
administração — ou pelo menos obter o passe de acesso nos EUA, o MBA,
cujo apelo só cresceu com os salários pagos a seus detentores por bancos
de investimento e consultorias de gestão. O número de MBAs concedidos
nos EUA saltou da ordem de 26 mil em 1970 para 67 mil em 1985.
Em faculdades de administração, professores de “política administrativa”
foram destronados por papas da estratégia como Porter. Professores de
finanças assumiram lugar de honra e varreram para a periferia professores
de disciplinas menos “exatas” — comportamento humano, dinâmica
organizacional — cujo papel fora central na visão de Donham e Mayo da
formação em administração. Tanto no meio empresarial como no
acadêmico, a turma dos números parecia estar ganhando o jogo ao dotar de
maior precisão quantitativa campos do conhecimento cada vez mais
especializados.
Mas não estavam, necessariamente, conquistando o apoio das hostes
gerenciais. Em 1982, dois consultores da McKinsey, Tom Peters e Bob
Waterman, publicaram In Search of Excellence (no Brasil, Vencendo a Crise).
Era um tributo à importância da cultura em organizações, uma crítica à
estratégia como mero exercício quantitativo e uma celebração da influência
do fator humano no sucesso de empresas. “Soft is hard”, bradou Peters. O
livro vendeu mais de seis milhões de exemplares, surpreendendo seus
autores e alertando o meio editorial para a existência de um imenso público
para livros de administração. Em nada atrapalhou que a obra louvasse
empresas americanas e suas práticas, e isso pouco antes de Ronald Reagan
anunciar que era “manhã de novo na América” e bem depois de todo mundo
fora do Japão ter cansado de preleções sobre a superioridade dos métodos
de gestão nipônicos.
Pelos 30 anos seguintes, e até hoje, as duas correntes de pensamento — a
cruzada quantificadora por maior rentabilidade e o clamor por mais respeito
pela “humanidade da produção” — coexistiriam em incômoda tensão. E não
só nas altas esferas do conhecimento administrativo, onde ideias, livros,
gurus e acadêmicos brigam por atenção. O debate também se dá em salas
de reunião e escritórios — e na mente de executivos confrontados com
escolhas difíceis — onde se decide o destino de empresas e de gente de
carne e osso.
Turbinada por cortes de impostos e pelo déficit orçamentário no governo
Reagan, a economia americana deu uma arrancada depois de 1982. Mas, ao
contrário do ocorrido na década de 1950, a alta da maré não levantou todos
os barcos. Para superar a concorrência externa, garantir (ou impedir) que o
controle de empresas trocasse de mãos e atender aos interesses de
acionistas, tornou-se aceitável desovar operações que não se encaixassem
na nova estratégia corporativa e fazer demissões em massa. Na General
Electric sob o comando de Jack Welch, foi celebremente rasgado o velho
contrato entre empresa e empregado, com sua garantia implícita de
emprego para todo o sempre. E o mercado acionário aplaudiu, bem como
muitos investidores individuais que voltaram à ciranda atraídos pela alta nas
bolsas e pela vertiginosa variedade de fundos de investimento e planos de
pensão privada a seu dispor.
A literatura administrativa dava o fulcro intelectual à nova agressividade.
Desde a década de 1960, estrategistas vinham alertando para a necessidade
de se conhecer a concorrência, algo que teóricos da era anterior tinham
negligenciado quase que totalmente. Servindo-se de instrumentos como a
lei de liberdade de informação (Freedom of Information Act), de 1966, e
bancos de dados como o LexisNexis (década de 1970), consultores ajudaram
clientes a suprir a informação que faltava para ver como sua situação se
encaixava nas estruturas concebidas por Porter e outros.
Em dois memoráveis artigos para a HBR na década de 1980, Michael Jensen
resgatou a teoria do agente, dotando de nexo a atividade aquisitória. Pela
tese, embora a empresa existisse para enriquecer os acionistas, era comum
seus gestores adquirirem interesses próprios, sobretudo quando não
detinham participação suficientemente grande no capital. Para não se
desviarem da meta, precisavam tanto da ameaça de uma potencial aquisição
quanto do incentivo associado à cotação da ação.
Em 1993, o Congresso americano alterou providencialmente o código
tributário para incentivar a remuneração de executivos com opções de
ações. Como observa Lind, já em fins da década mais de metade da
remuneração do executivo típico do ranking Fortune 500 era nessa forma. E
daí se a distância entre o que ganhava um cabeça da empresa e um modesto
trabalhador ali dentro estivesse atingindo dimensões estratosféricas? E todo
o valor que aquele executivo criava? Talvez não fosse bem o gênero de
liderança moral imaginada por Wallace Donham para a classe administrativa,
mas Donham morrera havia muito e sua voz basicamente caíra no
esquecimento.
clique na imagem para ampliar
Com o movimento da reengenharia, o imperativo de se valer da última
palavra em tecnologia da informação turbinou a busca de eficiência e
competitividade. Esqueça seus processos atuais, instou Michael Hammer em
um festejado artigo na HBR em 1990 e, depois, em um best-seller escrito a
quatro mãos com James Champy. Reformule tudo com o cliente final em
vista, usando como linha de mira as maravilhas de novas comunicações
eletrônicas. Vastos contingentes de empresas empunharam a bandeira da
reengenharia, mas não raro como pretexto para cortar pessoal. Tantos
foram os inocentes abatidos em seu nome que a reengenharia acabou
desacreditada — virou exemplo capital de um modismo da administração
cujo tiro saiu pela culatra.
Guinada rumo à liderança e à inovação. Nesse meio tempo, defensores da
humanidade da produção trilhavam uma linha menos nítida. Coisa de dois
anos após o lançamento de Vencendo a Crise, a revista BusinessWeek
informava que um terço das empresas citadas como modelo no livro já não
satisfazia os critérios de superioridade do autor. A saia justa sugeria uma
confusão mais geral que iria perseguir os humanistas — a saber, exatamente
que práticas administrativas fariam o pessoal dar o melhor de si e como
avaliá-las e calcular seu valor para a empresa?
A estratégia ao menos dispunha de um paradigma mais ou menos claro e de
uma série de estruturas sobre as quais gerações de teóricos poderiam se
apoiar. Paladinos do valor ao acionista decantavam seu critério único — a
cotação da ação — como medida de todas as coisas. Já quem estudava o
comportamento humano nas organizações estava desnorteado. Acadêmicos
da área deploravam o que um deles, Jeffrey Pfeffer, chamou de “grau
relativamente baixo de desenvolvimento de paradigmas”, além do fato de
não se entenderem entre si quanto aos problemas que mais exigiam
atenção.
Esse ecletismo, por assim dizer, refletia-se na lista dos best-sellers de
administração. Tratados sobre como ser uma organização que aprende
disputavam espaço com obras sobre a sabedoria de equipes, o poder da
lealdade à empresa, a necessidade de competências de fundo, a importância
de deleitar o cliente e o imperativo de saber lidar com mudanças —
descobrindo, por exemplo, quem mexeu no seu queijo.
Se é que houve alguma convergência de ideias no lado humano, foi em torno
de dois temas: liderança e inovação. Nas duas décadas finais do século 20,
faculdades de administração reviram sua missão, que de “formar gerentes
gerais” passou a ser “ajudar no desenvolvimento de líderes”. Infelizmente, a
despeito de certos textos seminais sobre a diferença entre o líder e o gerente,
não se criou um consenso quanto ao que exatamente constitui um líder, ou
como esses exaltados seres surgem (a crise atual também tem suscitado
dúvidas sobre a fonte de autoridade de líderes de empresas; veja o boxe
“Quem o colocou no comando?”).
A inovação gera menos controvérsia. Tanto a corrente humanista como a
quantitativa reconhecem sua importância crucial para a sobrevivência da
empresa numa era em que novas rivais podem surgir subitamente do nada,
a liderança do setor pode trocar de mãos num piscar de olhos e vantagens
competitivas antes tidas como imbatíveis viram pó em questão de meses.
Obras de Richard Foster e Clayton Christensen mostraram ao vasto público
da literatura administrativa como se dá a sistemática substituição de
tecnologias antigas por novas, revirando no processo a hierarquia de setores
inteiros.
É na inovação que satisfazer as brutais demandas do mercado depende,
como nunca, da obtenção do melhor possível da humanidade da produção.
Até hoje ninguém parece ter sido capaz de automatizar a invenção do novo
ou de replicar artificialmente a centelha da imaginação humana. O maior
desafio gerencial para a empresa do século 21 talvez seja achar meios de
liberar tal centelha — que reside no pessoal — da compulsão de
organizações a ficar repetindo as mesmas coisas de sempre.
A era da administração não acabou, é claro. A reflexão sobre a gestão chega
a qualquer lugar no qual o capitalismo e mercados mais ou menos livres
encontrem abrigo. Calcula-se que, com a queda do comunismo soviético e a
abertura econômica da China e da Índia, esse abrigo acolheu 3 bilhões de
novos moradores nas duas últimas décadas. É inquestionável que o
capitalismo e as ideias gerenciais que buscam torná-lo mais produtivo
deixaram o mundo mais rico e mais instruído. E não só a elite capitalista e
gerencial, contando aí o meio milhão de indivíduos que no ano passado
receberam um MBA ou título equivalente fora dos EUA: a porcentagem de
gente vivendo abaixo da linha da pobreza no mundo inteiro caiu
drasticamente nos últimos 50 anos, ao passo que índices de alfabetização
seguem subindo.
Em escritórios, fábricas, lojas e até mares de baias, sobretudo de grandes
organizações, as pessoas esperam ser tratadas com justiça e respeito (a
despeito de terem menos segurança no emprego a longo prazo). É maior a
probabilidade de que um sexismo flagrante, o bullying descarado ou um
comportamento gerencial tenebroso — embora não totalmente eliminados
— sejam denunciados. Praticamente em todo o mundo capitalista, o visitante
que põe os pés dentro de uma empresa em geral pode apostar que certas
regras ali serão respeitadas e certos procedimentos, seguidos.
clique na imagem para ampliar
É verdade que o gerencialismo não resolveu todos os problemas no local de
trabalho. Mais que tudo, não descobriu como dar emprego a todos aqueles
que buscam emprego, embora para atingir essa meta provavelmente seja
preciso também o empenho de governantes e economistas, além de
consenso público. A ascensão do gerencialismo é pontuada de ironias, às
vezes cruéis. Como observou Peter Drucker, durante sua infância em Viena
quem trabalhava mais tempo eram aqueles na base da pirâmide econômica
— cabia à criada de quarto da senhora esperar acordada que a patroa
voltasse da ópera. Hoje, é a elite executiva, com seus 300 e-mails por dia e
telefonemas do mundo inteiro, que trabalha até tarde da noite.
E o trabalho do gerencialismo não está concluído. Já que administrar
significa, em suma, aumentar a eficiência de seres humanos e de suas
organizações — e já que o ser humano teima em ser o que é, humano —,
jamais haverá “o melhor caminho”, um só. Quase sempre, contudo, há uma
via melhor. A administração continuará a buscá-la.
Walter Kiechel III foi diretor editorial da Harvard Business Publishing e editor
da Fortune. É autor de Os Mestres da Estratégia (Campus, 2011).
You might also like
- Trabalho AdmDocument14 pagesTrabalho AdmGabrielle HipolitoNo ratings yet
- Análise comparativa da administração científica de Taylor e do Just-in-Time de Lubben à luz dos textosDocument26 pagesAnálise comparativa da administração científica de Taylor e do Just-in-Time de Lubben à luz dos textosAarao CavalcanteNo ratings yet
- SCHLICKMANN A Influência Das Correntes Do Pensamento Científico Na Concepção Dos Paradigmas Funcionalista e Crítico Da AdministraçãoDocument13 pagesSCHLICKMANN A Influência Das Correntes Do Pensamento Científico Na Concepção Dos Paradigmas Funcionalista e Crítico Da AdministraçãoLucMorNo ratings yet
- Resumo Texto 2Document3 pagesResumo Texto 2TAFFAREL NONATO DA SILVA OLIVEIRANo ratings yet
- 232 Fundamentos de Gestão Tema 1Document17 pages232 Fundamentos de Gestão Tema 1JOAONo ratings yet
- Breve história da administração desde a Revolução IndustrialDocument5 pagesBreve história da administração desde a Revolução IndustrialRick SantosNo ratings yet
- Modelos de homem e evolução da teoria administrativaDocument16 pagesModelos de homem e evolução da teoria administrativabhsoulNo ratings yet
- Grandes nomes da gestãoDocument19 pagesGrandes nomes da gestãomatheustonnyNo ratings yet
- Apostila - Administração Geral + ExercíciosDocument77 pagesApostila - Administração Geral + ExercíciosmArciAno2502No ratings yet
- A evolução histórica da administraçãoDocument13 pagesA evolução histórica da administraçãoIsrael MusseNo ratings yet
- A abordagem humanística da administraçãoDocument7 pagesA abordagem humanística da administraçãoHigor ChavesNo ratings yet
- Evoluçao Da AdministraçãoDocument9 pagesEvoluçao Da AdministraçãoCJGNo ratings yet
- Biografia de Frederick Winslow TaylorDocument5 pagesBiografia de Frederick Winslow TaylorCarlos Alberto Borges PereiraNo ratings yet
- Resumo da história da administração e teoria administrativaDocument5 pagesResumo da história da administração e teoria administrativaBreno MarquesNo ratings yet
- Aula 8-9 HpaiDocument59 pagesAula 8-9 Hpainathansantanna.stu25No ratings yet
- Surgimento Das Teorias Da Administração E Principais TeoriasDocument18 pagesSurgimento Das Teorias Da Administração E Principais TeoriastomazbeckertNo ratings yet
- Teoria das Organizações e seus PioneirosDocument15 pagesTeoria das Organizações e seus PioneirosRafael Zucato RobertNo ratings yet
- Teoria Das Relações HumanasDocument7 pagesTeoria Das Relações HumanasPrincipe JoãoNo ratings yet
- Linha Do Tempo Da AdministraçãoDocument21 pagesLinha Do Tempo Da AdministraçãoAdéliaSantos83% (6)
- Taylor Superstar - Revista ExameDocument3 pagesTaylor Superstar - Revista ExameMatheus FellipeNo ratings yet
- Trabalho de GestaoDocument4 pagesTrabalho de GestaoDukila SumbuleiroNo ratings yet
- Abordagem Humanística Da AdministraçãoDocument9 pagesAbordagem Humanística Da AdministraçãoMatheus Dos SantosNo ratings yet
- Resumo Aula 8 Hpa1 CederjDocument5 pagesResumo Aula 8 Hpa1 Cederjafernandinha2020No ratings yet
- Teorias da Organização Científica do Trabalho: Taylorismo, Fordismo, Fayolismo e Relações HumanasDocument15 pagesTeorias da Organização Científica do Trabalho: Taylorismo, Fordismo, Fayolismo e Relações HumanasJosarteNo ratings yet
- ABREU, A. Novas Reflexões Sobre a Evolução Da Teoria Administrativa Os Quatro Momentos Cruciais No Desenvolvimento Da Teoria Organizacional. Revista de Administração Pública, V. 16, n. 4, p. 39 a 52, 2013.Document14 pagesABREU, A. Novas Reflexões Sobre a Evolução Da Teoria Administrativa Os Quatro Momentos Cruciais No Desenvolvimento Da Teoria Organizacional. Revista de Administração Pública, V. 16, n. 4, p. 39 a 52, 2013.Tarso CaselliNo ratings yet
- Gestão de Negócios - Evolução Histórica Da AdministraçãoDocument9 pagesGestão de Negócios - Evolução Histórica Da Administraçãolucineidysantos140No ratings yet
- Gestão do fator humano: evolução histórica emDocument20 pagesGestão do fator humano: evolução histórica emDiegoNo ratings yet
- Teoria das Relações Humanas e os estudos de HawthorneDocument35 pagesTeoria das Relações Humanas e os estudos de HawthorneLuiza André0% (1)
- RT Economia Solid Ria COSTA 2011Document23 pagesRT Economia Solid Ria COSTA 2011AnaNo ratings yet
- Teorias Da Administração e Suas VariáveisDocument4 pagesTeorias Da Administração e Suas VariáveisIvan PachiniNo ratings yet
- Transição entre Teorias AdministraçãoDocument6 pagesTransição entre Teorias AdministraçãoLeia LopesNo ratings yet
- História e evolução das teorias da administraçãoDocument58 pagesHistória e evolução das teorias da administraçãojenifferNo ratings yet
- Origens e Evolução das Teorias OrganizacionaisDocument22 pagesOrigens e Evolução das Teorias OrganizacionaisMartinho KapitiyaNo ratings yet
- Os Novos Paradigmas Da AdministraçãoDocument20 pagesOs Novos Paradigmas Da AdministraçãoEric CostaNo ratings yet
- História da Administração: Evolução desde a Antiguidade até Taylor e FayolDocument5 pagesHistória da Administração: Evolução desde a Antiguidade até Taylor e FayolAnne WitchNo ratings yet
- A abordagem clássica e o fordismoDocument9 pagesA abordagem clássica e o fordismoDanilo MedeirosNo ratings yet
- Teorias Da AdministraçãoDocument4 pagesTeorias Da AdministraçãobenjaminbrazalvesNo ratings yet
- Elemento Numero 1Document7 pagesElemento Numero 1LucasNo ratings yet
- Teorias Administrativas: Taylor, Weber, Fayol e MayoDocument8 pagesTeorias Administrativas: Taylor, Weber, Fayol e MayoCamila Portela CorreaNo ratings yet
- Resumos de textos sobre a história da administraçãoDocument6 pagesResumos de textos sobre a história da administraçãoAnderson de sousa costaNo ratings yet
- 6 AdministracaoDocument92 pages6 AdministracaoMaisa TeodoroNo ratings yet
- Gestão de Pessoas ComplexidadeDocument28 pagesGestão de Pessoas ComplexidadeEmilio CastellarNo ratings yet
- Evolução AdministraçãoDocument9 pagesEvolução AdministraçãoJean Melodia MelodiaNo ratings yet
- Teorias Administração ConclusãoDocument9 pagesTeorias Administração ConclusãoNay TonNo ratings yet
- Taylor e A Administrao Cientfica.Document4 pagesTaylor e A Administrao Cientfica.João Clécio HolandaNo ratings yet
- Aulas 1 Teorias em Geral A1Document22 pagesAulas 1 Teorias em Geral A1Rafael Ibraim TeixeiraNo ratings yet
- Teoria Geral Da AdministraçãoDocument15 pagesTeoria Geral Da AdministraçãoSilvio CesarNo ratings yet
- Aula 5Document25 pagesAula 5edenNo ratings yet
- Teorias Da Administração - Unidade 1 PDFDocument22 pagesTeorias Da Administração - Unidade 1 PDFBruna Bonato100% (1)
- Escola Clássica da AdministraçãoDocument6 pagesEscola Clássica da AdministraçãoceciliabezerraNo ratings yet
- Teorias Administrativas ClássicasDocument18 pagesTeorias Administrativas ClássicasGeneilton Santos LimaNo ratings yet
- Apresentação Adm InfoDocument12 pagesApresentação Adm InfoCamille RodriguesNo ratings yet
- Psicologia e gestão de pessoas: Reflexões críticas e temas afinsFrom EverandPsicologia e gestão de pessoas: Reflexões críticas e temas afinsNo ratings yet
- A empresa de fora para dentro: uma verdade irrefutável do princípio de Peter Drucker nas empresas do mundo 4.0From EverandA empresa de fora para dentro: uma verdade irrefutável do princípio de Peter Drucker nas empresas do mundo 4.0No ratings yet
- A sociedade ingovernável: Uma genealogia do liberalismo autoritárioFrom EverandA sociedade ingovernável: Uma genealogia do liberalismo autoritárioRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- São Tomás de Aquino e o Mercado: para uma economia humanaFrom EverandSão Tomás de Aquino e o Mercado: para uma economia humanaNo ratings yet
- Gentleman, gestor, homo digitalis: a transformação da subjetividade jurídica na modernidadeFrom EverandGentleman, gestor, homo digitalis: a transformação da subjetividade jurídica na modernidadeRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Mario Pedrosa e a função educativa da arte modernaDocument11 pagesMario Pedrosa e a função educativa da arte modernaneydynhabNo ratings yet
- Fibromialgia e trabalho: cuidados na avaliaçãoDocument7 pagesFibromialgia e trabalho: cuidados na avaliaçãoMário Sobral JúniorNo ratings yet
- ECHAVARRÍA, M. F. As Teorias Psicológicas Das Emoções Frente A Tomás de Aquino (2019)Document15 pagesECHAVARRÍA, M. F. As Teorias Psicológicas Das Emoções Frente A Tomás de Aquino (2019)Caio NunesNo ratings yet
- Freud e o início da psicanáliseDocument2 pagesFreud e o início da psicanáliseCapitu LíviaNo ratings yet
- Questionario de Observacao para ProfessoresDocument3 pagesQuestionario de Observacao para ProfessoresMary LobatoNo ratings yet
- Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes Um Estudo de Caso No Conselho TutelarDocument9 pagesViolência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes Um Estudo de Caso No Conselho TutelarMarco Aurelio Romar100% (1)
- A experiência de cantar para bebês: um estudo com mãesDocument180 pagesA experiência de cantar para bebês: um estudo com mãesGTGTNo ratings yet
- Treino em Reconhecimento de Emocoes - Sessao 2Document33 pagesTreino em Reconhecimento de Emocoes - Sessao 2Taianara MartinsNo ratings yet
- Vencendo o TOC PDFDocument138 pagesVencendo o TOC PDFfaty_lee67% (3)
- Pelas Ruas de MaputoDocument16 pagesPelas Ruas de MaputoJoseph Khalid SprinterNo ratings yet
- Residencia em PsiquiatriaDocument2 pagesResidencia em PsiquiatriaNatália Macedo CavagnoliNo ratings yet
- Resumo Cap. 1 e 2 - A Construção Do Eu Na ModernidadeDocument1 pageResumo Cap. 1 e 2 - A Construção Do Eu Na ModernidadeCamila Inácio FriasNo ratings yet
- Anamnese holísticaDocument8 pagesAnamnese holísticaElbabadoNo ratings yet
- Livro Gamification, Inc-MJV PDFDocument118 pagesLivro Gamification, Inc-MJV PDFJosy JudiceNo ratings yet
- Resenha Filme PreciosaDocument5 pagesResenha Filme PreciosaJOAO CARLOS R ANDRADENo ratings yet
- Comportamentismo SkinnerDocument8 pagesComportamentismo SkinnerDilson JuniorNo ratings yet
- As fases da mudança e como superar resistênciasDocument24 pagesAs fases da mudança e como superar resistências423423No ratings yet
- Shifres y Gonnet (2019)Document31 pagesShifres y Gonnet (2019)Germán Leo PaganoNo ratings yet
- AULA II Grupos de ReflexãoDocument2 pagesAULA II Grupos de ReflexãoLeandro Passarinho de OliveiraNo ratings yet
- MEMÓRIADocument30 pagesMEMÓRIAadricialara10No ratings yet
- BioalinhamentoDocument53 pagesBioalinhamentoHaga Ribeiro100% (9)
- Competências e aprendizagens no Português L2 para Alunos SurdosDocument3 pagesCompetências e aprendizagens no Português L2 para Alunos SurdosMandico Lino Coutinho100% (1)
- Habilidades Terapeuticas Na CL - Nica ComportamentalDocument14 pagesHabilidades Terapeuticas Na CL - Nica ComportamentalCamila PereiraNo ratings yet
- O Inconsciente EspiritualDocument9 pagesO Inconsciente EspiritualEldi Pereira SilvaNo ratings yet
- A Jornada de HansDocument5 pagesA Jornada de HansAnonymous grm9I6faNNo ratings yet
- 26 Sinais de Maturidade Emocional TheSchoolOfLifeBRDocument17 pages26 Sinais de Maturidade Emocional TheSchoolOfLifeBRValana FerreiraNo ratings yet
- Desafios da formação continuada de professores e gestoresDocument508 pagesDesafios da formação continuada de professores e gestoresCristiane AzambujaNo ratings yet
- A importância da defesa pessoal para bombeirosDocument30 pagesA importância da defesa pessoal para bombeirosjonathanNo ratings yet
- Testes ProjetivosDocument4 pagesTestes ProjetivosrungotamiresNo ratings yet
- Saude Mental No Cuidado A Gestante Durante o Pre-NatalDocument21 pagesSaude Mental No Cuidado A Gestante Durante o Pre-NatalAna CarolineNo ratings yet