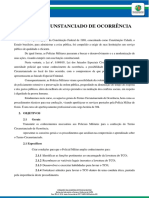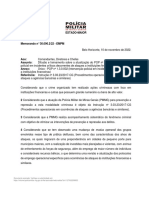Professional Documents
Culture Documents
Artigo Sobre O Cobrador, de Rubem Fonseca
Uploaded by
joaodelargeOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Artigo Sobre O Cobrador, de Rubem Fonseca
Uploaded by
joaodelargeCopyright:
Available Formats
A METÁSTASE
O assassinato de Marielle Franco e o avanço das milícias
no Rio
ALLAN DE ABREU
N o primeiro semestre de 2001, o professor Marcelo Baumann
Burgos reuniu 22 alunos do curso de ciências sociais da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro para um estudo sociológico
na favela Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade. Pesou na escolha
da comunidade, além de seu tamanho – 40 mil habitantes na época e
80 mil hoje –, o fato de ser uma das poucas da capital fluminense sem
narcotraficantes. Isso facilitava o trabalho dos pesquisadores e era
motivo de elogios da parte de Burgos – o professor chegou a definir
Rio das Pedras como “um oásis em meio à barbárie”.
“Em uma cidade marcada pelo recrudescimento da violência urbana,
[…] morar em uma favela sem ter que conviver com a sombria
presença de traficantes torna-se, compreensivelmente, razão suficiente
para aumentar o apego do morador ao lugar”, escreveu o sociólogo no
livro que trouxe o resultado da pesquisa, A Utopia da Comunidade:
Rio das Pedras, uma Favela Carioca, publicado em 2002. Quando
fizeram o trabalho, nem Burgos nem seus alunos perceberam que
aquela sensação de segurança derivava do poder exercido no local por
uma nova forma de organização criminosa que surgia no Rio – os
grupos paramilitares.
A favela data de 1969, quando o então governador do estado da
Guanabara, Francisco Negrão de Lima, decidiu desapropriar uma área
às margens do rio das Pedras para abrigar dez famílias de migrantes
do Nordeste ameaçadas de expulsão pelo dono da propriedade. A
partir de então, como costuma acontecer em vários lugares no trágico
processo de urbanização do país, a comunidade cresceu
descontroladamente. Nos anos 80 a prefeitura delegou à associação de
moradores a tarefa de organizar a ocupação do espaço. Com isso,
acabou fazendo dessa entidade privada uma extensão do poder
público, criando, segundo Burgos, “uma autoridade paralela”,
personalista, “que não foi constituída para gerir bens públicos para os
cidadãos em geral”.
A associação passou a controlar Rio das Pedras com mão de ferro. A
fim de evitar a entrada do tráfico na comunidade e manter a ordem,
patrocinou nas décadas de 80 e 90 um grupo de justiceiros – no qual
havia policiais – encarregado de expulsar ou, em certos casos, matar
traficantes e usuários de drogas. Na virada para o século XXI, esse
grupo ganhou proeminência na favela, o que não deixou de ser notado
pelo sociólogo na pesquisa: “Como estamos em território da cidade
informal, o grau de arbítrio desse tipo de segurança pública é
fracamente regulado pelo ordenamento jurídico, estando amplamente
permeável a uma moralidade local, para a qual é legítima a máxima
‘aqui, só quem faz besteira some’.” Burgos também percebeu
atividades econômicas em expansão em Rio das Pedras, como o
transporte por vans e a tevê a cabo, na época com 5 mil “assinantes”,
sem associá-las, porém, ao emergente negócio dos paramilitares, que
já controlavam esses serviços.
O mesmo modelo de organização criminosa, lucrativa, expandiu-se
rapidamente para bairros próximos de Rio das Pedras, tomando áreas
do tráfico de drogas. Formados por policiais e bombeiros, da ativa ou
aposentados, esses grupos eram chamados inicialmente de “polícia
mineira” – a expressão tem origem na maneira truculenta com que
policiais de Minas Gerais capturavam criminosos durante incursões
pelo Rio nos anos 60 e 70. Durante um tempo, os paramilitares foram
apontados como responsáveis pela autoproteção das comunidades e
não faltaram políticos que os tratassem com benevolência. “As
autodefesas comunitárias são um problema menor, muito menor, do
que o tráfico”, disse em 2006 o então prefeito do Rio, César Maia, que
comparou os paramilitares cariocas às Autodefesas Unidas da
Colômbia, grupo paramilitar que, entre 1997 e 2006, combateu a
guerrilha das Farc e lucrou com o comércio de drogas. Os grupos do
Rio, porém, ao fincar raízes, passaram a extorquir comerciantes e
moradores, e rapidamente migraram para outras frentes econômicas,
como a grilagem de terras – a ocupação irregular, mediante fraude e
falsificação de documentos. “No Rio há muitos títulos de propriedade
falsos, decorrentes de um sistema cartorial corrupto. Os paramilitares
usam esse argumento para tirar os donos originais à força”, me disse a
antropóloga Alba Zaluar, que há quatro décadas pesquisa o crime
organizado no Rio de Janeiro.
V era Araújo trabalha há trinta anos como jornalista e se
especializou na cobertura de temas relacionados à segurança pública
no Rio. Em março de 2005, numa reportagem que publicou no
jornal O Globo, mostrou que onze grupos de paramilitares
controlavam 42 favelas na capital, principalmente na Zona Oeste. Pela
primeira vez, o termo “milícia” foi utilizado para identificar esses
agrupamentos de policiais e ex-policiais. A escolha se deu por um
motivo prosaico, me disse a repórter: era uma palavra curta, mais fácil
de ser encaixada no título de uma reportagem de jornal do que o termo
“paramilitares”.
Naquela época, os milicianos de Rio das Pedras eram comandados por
Félix dos Santos Tostes, inspetor da Polícia Civil, que seria morto em
fevereiro de 2007 em uma disputa pelo controle da associação de
moradores do bairro. No mesmo mês do assassinato, o então deputado
estadual Marcelo Freixo propôs uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar as milícias. “Estava no terceiro dia de
mandato e fui motivo de chacota”, recordou o parlamentar do PSOL
quando o encontrei numa tarde de fevereiro em seu apartamento na
Zona Sul.
Um ano depois da proposta de Freixo, em 2008, a notícia de que uma
repórter, um fotógrafo e um motorista do jornal O Dia haviam sido
torturados por milicianos na favela do Batan, em Realengo, reacendeu
o tema. Pressionados, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio,
a Alerj, aprovaram por maioria a instalação da CPI, presidida por
Freixo. Durante cinco meses, a comissão ouviu 47 pessoas, incluindo
o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho, que havia
substituído Félix Tostes como chefe da milícia de Rio das Pedras e era
suspeito de ser o mandante do assassinato do inspetor.
Em depoimento sigiloso, Nadinho decidiu contribuir com a CPI e
delatar outros onze milicianos que agiam na comunidade de Rio das
Pedras. Pagaria caro por isso: foi morto com dez tiros um ano depois,
em 2009. A CPI indiciou 226 pessoas, das quais 25 seriam
assassinadas nos dez anos seguintes. Desde então, Freixo, que foi
ameaçado de morte por grupos paramilitares, vive sob escolta policial.
“A milícia não é o estado paralelo, é o estado leiloado, porque
transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Por isso elege
representantes e dialoga com o poder”, define o deputado do PSOL,
hoje com 51 anos. As milícias não pararam de crescer na cidade.
Atualmente, estão presentes em 88 das 1 018 comunidades do Rio, de
acordo com o Ministério Público. Em vários lugares, transformaram-
se em narcomilícias e passaram a disputar o controle do tráfico de
drogas com o crime organizado que supostamente combatiam.
M arielle Franco esteve com Marcelo Freixo na investigação
parlamentar contra os milicianos. Por nove anos, entre 2007 e 2016, a
jovem negra criada no Complexo da Maré – um conjunto de dezesseis
favelas onde moram 130 mil pessoas, na Zona Norte – foi assessora de
Freixo. Ao mesmo tempo que cursava ciências sociais na PUC-Rio,
ela coordenava na Assembleia Legislativa a Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo deputado. Em 2016,
Marielle decidiu concorrer pela primeira vez a um cargo público.
Candidatou-se a vereadora pelo PSOL e obteve a quinta maior votação
na cidade – 46 mil votos, a maior parte deles oriundos da Zona Sul.
Seu mandato foi marcado pela defesa das mulheres, dos negros e das
minorias, e também por duras críticas à violência policial. “Mais um
homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM.
[…] Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?”,
escreveu Marielle no Twitter em 13 de março do ano passado, a
respeito da morte de um rapaz na favela do Jacarezinho. Na noite do
dia seguinte, ela própria seria assassinada no Centro do Rio, aos 38
anos de idade.
O relógio no painel do carro marcava 21h14. Fazia menos de
dez minutos que Marielle, a sua assessora, Fernanda Chaves, e o
motorista Anderson Gomes haviam deixado a Casa das Pretas, na rua
dos Inválidos, no Centro da cidade, depois do debate “Jovens Negras
Movendo as Estruturas”, organizado pelo PSOL. “Não sou livre
enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela
sejam diferentes das minhas”, disse Marielle no encontro, citando a
escritora norte-americana Audre Lorde – negra, feminista e gay, como
a vereadora. “Vamos que vamos, vamos juntas ocupar tudo”, concluiu
diante do público de pouco mais de vinte mulheres. Foi aplaudida,
abriu o sorriso grande que lhe era característico e levantou-se,
ajeitando a saia com estampas florais e a blusa azul-marinho de alças
finas. Na saída, uma amiga a convidou para ir a um bar na Lapa.
Marielle disse estar cansada e preferiu ir para casa, na Tijuca.
Habitualmente, ela embarcava ao lado do motorista, mas naquele dia
sentou-se atrás, ao lado da assessora, a bordo de um Agile branco.
Nenhum dos três percebeu, mas, assim que o Agile deixou a rua dos
Inválidos, foi seguido por um Chevrolet Cobalt prata – o veículo com
placas clonadas estava no local desde as sete da noite, quando
Marielle chegou à Casa das Pretas para o debate. No banco traseiro do
Cobalt, um homem segurava uma submetralhadora alemã HK MP5,
calibre 9 milímetros, conhecida pela precisão de seus disparos.
Quando, às 21h20, o carro com a vereadora dobrou a esquina das ruas
Joaquim Palhares e João Paulo I, no bairro do Estácio, ainda no
Centro, o Cobalt emparelhou com o Agile a uma distância de 2
metros. Do vidro aberto do carro prata, a HK disparou treze tiros entre
a porta direita traseira e o fim da lateral do Agile, exatamente no local
onde estava Marielle.
Atingida por quatro balas no lado direito da cabeça – duas próximas à
orelha, uma perto do olho direito e uma rente à boca –, a vereadora
morreu instantaneamente. O motorista Anderson Gomes, que estava
na linha de tiro, foi atingido por três balas nas costas. Soltou um
gemido e largou as mãos do volante. Fernanda Chaves, a única a não
ser atingida, abaixou-se rapidamente e puxou o freio de mão do
veículo. Marielle estava com o corpo seguro pelo cinto de segurança,
a cabeça caída para a frente, o sangue escorrendo pela nuca. Havia
onze câmeras públicas de vídeo no trajeto feito pelo carro.
Misteriosamente, cinco tinham sido desligadas, um ou dois dias antes
dos assassinatos – uma delas, a poucos metros da cena do crime, não
grava imagens e serve apenas para contar os veículos que passam pela
via.
As mortes de Marielle e de Anderson indignaram os cariocas e o país.
Na tarde do dia 15, cerca de 50 mil pessoas se aglomeraram em frente
à Câmara Municipal para o velório, num ato que misturava dor e
protesto. Houve manifestações populares em dezessete estados
naquela noite. O crime foi destaque na imprensa internacional,
ganhando as páginas dos jornais The New York Times, The
Washington Post, The Guardian e Clarín, entre outros. “O Estado,
através dos diversos órgãos competentes, deve garantir uma
investigação imediata e rigorosa”, cobrou a Anistia Internacional.
“Não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e
autoria do assassinato de Marielle Franco.” Dois dias após o crime, a
assessora Fernanda Chaves deixou o Rio de Janeiro às pressas e, em
seguida, foi com a família para a Espanha. Só retornou ao Brasil
quatro meses depois, em julho do ano passado. Mesmo assim, por
segurança, permanece fora do Rio.
Freixo, que sempre manteve uma relação muito próxima com a
vereadora, afirma que ela não recebeu nenhuma ameaça de morte,
inclusive naqueles dias que precederam o assassinato. “Toda semana,
religiosamente, eu tomava um café com a Marielle. Na terça-feira, 13
de março, véspera do crime, no fim do dia, eu falei com ela pelo
telefone e combinamos de ir à Maré no sábado seguinte. Ela estava
tranquilíssima. Não tinha a menor ideia de que sua vida corria risco.”
A segurança pública do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal,
decretada pelo então presidente Michel Temer em fevereiro, um mês
antes da morte de Marielle. Nos dias seguintes ao assassinato,
procuradores chegaram a aventar a hipótese de que o atentado fora um
recado aos militares que comandavam a intervenção. Logo, no
entanto, essa hipótese perdeu força. Quando o Exército saiu do Rio,
em dezembro último, foi descartada. Ficou cada vez mais evidente que
o crime era obra de milicianos – e quanto a isso não há mais dúvidas.
A guerra de versões que se trava em torno do caso há doze meses
envolve disputas entre milícias e seus respectivos padrinhos na
política carioca. Envolve ainda disputas surdas entre a Polícia Civil,
de um lado, e a Polícia Federal e o Ministério Público, de outro.
Envolve, por fim, divergências entre jornalistas, sobretudo no jornal O
Globo.
D epois de viver uma década no Rio de Janeiro, o delegado
Giniton Lages, 44 anos, praticamente perdeu o sotaque caipira.
Paulista de Jaú, ele se formou em direito no interior de São Paulo. Seu
sonho era ser promotor de Justiça. Durante cinco anos prestou
concursos públicos para a carreira, sem sucesso. Decidiu então tentar
uma vaga de delegado na Polícia Civil. Passou em concursos da
corporação em Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Escolheu
o último estado. Em 2008, assumiu o distrito policial de Japeri, na
Baixada Fluminense, e de lá foi para a vizinha Belford Roxo. Em
2010, chegou à Delegacia de Homicídios (DH) da Baixada, onde
atuou por oito anos. Em 17 de março do ano passado, três dias após a
morte de Marielle, Lages assumiu a chefia da DH na capital, com a
missão de elucidar o crime. A Delegacia de Homicídios conta com 10
delegados, 22 peritos, 206 agentes e 48 carros. De cada dez
assassinatos ocorridos na capital, esclarece dois, me disse Lages –
duas vezes mais do que a média no estado do Rio, conforme pesquisa
do Monitor da Violência.
“Sem dúvida o caso Marielle é o maior desafio da minha carreira”,
afirmou Lages na sede da DH, em área residencial da Barra da Tijuca,
na tarde de 8 de fevereiro, sexta-feira. De olhos vincados e cabelos
bem curtos, exibia no peito o típico distintivo dos delegados
fluminenses, preso por um cordão no pescoço. A sala ampla onde ele
despacha contrasta com o espaço exíguo em que trabalham outros
delegados e escrivães. Na mesa em formato de “L” repousavam
dezesseis dos mais de vinte volumes do inquérito 901-00385/2018,
que apura o duplo homicídio. Lages mantém os documentos sob
diligente sigilo. “Nenhum advogado teve acesso. Qualquer
publicidade sobre as investigações pode pôr todo o nosso trabalho a
perder”, justificou.
Conversei com três pessoas que tiveram acesso ao inquérito. Os
papéis, segundo elas, revelam que faltou foco na ação da polícia nas
primeiras semanas de apuração. Lages solicitou à Polícia Militar toda
a relação de policiais lotados no 41º Batalhão, em Acari, Zona Norte,
o recordista no estado em mortes provocadas por policiais – quatro
dias antes de morrer, Marielle fez a seguinte crítica no Twitter: “O que
está acontecendo agora em Acari é um absurdo! E acontece desde
sempre! O 41° batalhão da PM é conhecido como Batalhão da morte.
CHEGA de esculachar a população! CHEGA de matarem nossos
jovens!” No entanto, nenhum policial daquele destacamento foi
formalmente ouvido pela Delegacia de Homicídios. O delegado
também convocou todos os proprietários de automóveis Cobalt de cor
prata na capital a apresentarem seus veículos à polícia – são 7 375
apenas na capital, segundo o Departamento de Trânsito. Lages
afirmou que foi feita vistoria em todos eles. O veículo utilizado no
crime, porém, nunca foi encontrado.
Na noite de 21 de março, quarta-feira, a jornalista Vera Araújo, d’O
Globo, decidiu ir até o cruzamento das ruas Joaquim Palhares e João
Paulo I, onde tinha ocorrido o crime uma semana antes. Seu objetivo
era localizar alguém que habitualmente passasse por aquele local
sempre às quartas-feiras, entre nove e nove e meia da noite. Foi assim
que ela encontrou duas testemunhas, que não tinham sido ouvidas pela
polícia. Uma delas era um morador de rua, que presenciou o crime a
uma distância de apenas 10 metros. “Foi tudo muito rápido. O carro
dela [Marielle] quase subiu na calçada. O veículo do assassino
imprensou o carro branco [onde estava a vereadora]. O homem que
deu os tiros estava sentado no banco de trás e era negro. Eu vi o braço
dele quando apontou a arma, que parecia ter silenciador”, disse o
homem – para protegê-lo de uma possível retaliação, a jornalista não o
identificou na reportagem.
Uma mulher também viu a cena, embora de uma distância maior.
Tanto ela quanto o morador de rua contaram à repórter que PMs do 4º
Batalhão, em São Cristóvão, chegaram minutos após o crime e
pediram para que todos se afastassem do local, sem se interessar por
possíveis testemunhas. Antes de publicar a reportagem, Araújo
telefonou para o então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa.
“Ele nem deu bola. Depois que publicamos a história, ficou irritado,
dizendo que eu expus aquelas pessoas.” A mulher encontrada por
Araújo só foi ouvida duas semanas depois pela polícia, que não
conseguiu localizar o morador de rua.
N o dia seguinte ao crime, 15 de março, o então ministro da
Segurança Pública, Raul Jungmann, e a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, desembarcaram no Rio. A dupla se reuniu à
tarde na Cidade da Polícia, no bairro do Jacaré, Zona Norte, com
Rivaldo Barbosa, o general do Exército Walter Souza Braga Netto, na
época interventor na segurança pública do estado, e o procurador-geral
de Justiça no Rio, José Eduardo Gussem. Na reunião, Dodge anunciou
que iria instaurar uma apuração preliminar do caso no Ministério
Público Federal (MPF). Embasaria assim um possível pedido ao
Superior Tribunal de Justiça para que a investigação fosse feita pela
Polícia Federal e pelo MPF, e não mais pelas autoridades fluminenses.
Uma emenda de 2004 à Constituição Federal prevê a federalização na
investigação de crimes quando há “graves violações aos direitos
humanos” e se constata a incapacidade das forças de segurança
estaduais para elucidar o delito. “Certamente a participação da Polícia
Federal é importante nesse episódio”, disse Raquel Dodge em
entrevista coletiva, após a reunião.
Naquele mesmo dia, ela nomeou cinco procuradores do MPF do Rio
para “acompanhar todos os atos referentes às investigações” das
mortes de Marielle e Anderson, com o objetivo de instruir o pedido de
federalização das investigações ao STJ. O grupo de procuradores,
entretanto, só teve tempo de solicitar à Polícia Civil informações sobre
a estrutura da Divisão de Homicídios do Rio. Em 21 de março, o
procurador-geral Gussem ingressou com um pedido no Conselho
Nacional do Ministério Público para que a apuração dos procuradores
federais fosse suspensa. “O Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro vê-se surpreendido por uma incompreensível, desproporcional
e prematura violência institucional”, argumentou.
O coordenador do grupo nomeado por Dodge, procurador Marcelo de
Figueiredo Freire, rebateu: “Esclareço que não houve nenhuma
usurpação da atividade conferida ao Ministério Público Estadual. Não
houve investigação ‘paralela’ dos fatos.”
Em 3 de abril, foi concedida uma liminar proibindo a atuação dos
procuradores federais no caso até o julgamento do pedido de Gussem.
Em 21 de maio, antes que o caso fosse julgado, Dodge revogou a
portaria que designava os cinco procuradores, desistindo de levar
adiante a federalização das apurações. Recuou, mas não abandonou o
caso –procuradores do MPF no Rio seguiram enviando a ela relatórios
detalhados sobre o andamento das investigações.
U m mês após os assassinatos, o repórter Antônio Werneck
recebeu na redação do jornal O Globo o telefonema de uma pessoa
que disse haver um grande “furo” à espera dele na Superintendência
da Polícia Federal do Rio. Werneck – que trabalha no jornal há 29
anos – especializou-se, como Vera Araújo, em investigações na área
de segurança pública. Quando o jornalista chegou à PF, encontrou três
delegados federais: Hélio Khristian Cunha de Almeida, conhecido
como HK, Lorenzo Martins Pompílio da Hora e Felício Laterça. HK
não tem currículo que se possa admirar: em 2002, quando trabalhava
em Belém, capital do Pará, foi denunciado pelo MPF por corrupção
passiva ao aceitar passagem aérea de um empresário investigado por
corrupção pela própria PF. Quatro anos depois, já no Rio, HK foi
novamente denunciado à Justiça por concussão (extorsão de dinheiro
praticada por funcionário público), ao supostamente forjar um
inquérito por crime previdenciário contra um empresário carioca e
exigir dele 5 milhões de reais para arquivar a investigação. O delegado
foi absolvido em primeira instância, os procuradores recorreram e o
TRF da 2ª Região o condenou a dois anos e meio de prisão por
corrupção passiva. Como o crime pelo qual foi condenado (corrupção)
difere daquele pelo qual fora denunciado pelos procuradores
(concussão), HK conseguiu anular a decisão. Ainda não há data para
um novo julgamento – a defesa do delegado garante que vai provar
sua inocência.
A trinca de delegados apresentou o repórter Werneck ao sargento da
PM Rodrigo Jorge Ferreira, que estava ali para fazer uma revelação.
Suspeito ele mesmo de ser um miliciano, Ferreira acusava duas
pessoas de terem tramado o assassinato de Marielle: o vereador
Marcello Siciliano, do PHS, e o ex-policial militar Orlando Oliveira
de Araújo, que estava preso desde outubro de 2017, acusado de
comandar uma milícia no bairro de Curicica, na Zona Oeste – daí, seu
apelido: Orlando de Curicica.
Os negócios de Siciliano começaram no final dos anos 90, com a
compra e venda de carros. Depois, ele passou a investir no mercado
imobiliário em Vargem Grande e em terraplanagem no vizinho,
Jacarepaguá. Abriu uma boate na Barra e mergulhou na política:
depois de duas candidaturas malsucedidas, conseguiu se eleger
vereador em 2016 com 13,5 mil votos – menos de um terço dos
conquistados por Marielle.
Há fortes indícios do envolvimento do vereador com paramilitares –
em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça em outro inquérito da
Polícia Civil, ele conversa com um miliciano e se despede com um “te
amo, irmão”. Uma investigação do Ministério Público constatou que o
nome de Siciliano aparece em mais de oitenta transações imobiliárias
em áreas dominadas por paramilitares. Uma dessas áreas é Vargem
Grande, onde assessores de Marielle participaram, em janeiro de 2018,
de uma reunião na associação de moradores de Novo Palmares,
comunidade encravada no bairro, para discutir programas de
regularização fundiária. O objetivo seria combater a grilagem de terras
praticada pela milícia no local.
Diante dos delegados e de Werneck, o sargento Ferreira relatou que
Orlando de Curicica era uma espécie de capataz de Siciliano e ajudava
o vereador na grilagem de terras na Zona Oeste. Por causa das ações
comunitárias de Marielle na região, Siciliano teria ficado irritado com
a vereadora. “Ela peitava o miliciano e o vereador. Os dois [Orlando e
Marielle] chegaram a travar uma briga por meio de associações de
moradores da Cidade de Deus e da Vila Sapê”, afirmou Ferreira. A
favela Vila Sapê fica entre os bairros Curicica e Cidade de Deus.
Ferreira disse ainda ter ouvido os dois tramarem a morte de Marielle
em um restaurante da Zona Oeste, em junho de 2017. “Eu estava
numa mesa, a uma distância de pouco mais de 1 metro dos dois. Eles
estavam sentados numa mesa ao lado. O vereador falou alto: ‘Tem que
ver a situação da Marielle. A mulher está me atrapalhando.’ Depois,
bateu forte com a mão na mesa e gritou: ‘Marielle, piranha do
Freixo.’” Um mês antes do atentado – contou o sargento –, Orlando de
Curicica, mesmo preso na penitenciária de Bangu 9, acusado de doze
homicídios, transmitiu a ordem para que o plano de matar a vereadora
fosse colocado em prática por seus subordinados.
Werneck gravou toda a conversa com o PM Ferreira, mas disse que só
publicaria o relato se a testemunha formalizasse o depoimento aos três
delegados, o que foi feito. A chefia de redação do jornal, no entanto,
preferiu aguardar o depoimento do policial aos delegados da
Delegacia de Homicídios, o que ocorreria dias depois. Foram seis
oitivas em três semanas, realizadas no Círculo Militar da Praia
Vermelha, na Urca, para evitar a imprensa, que se aglomerava
diariamente em frente à sede da delegacia, na Barra da Tijuca, atrás de
novidades no caso. Na quarta-feira, 9 de maio, a reportagem de
Werneck foi manchete d’O Globo: “Delator envolve vereador no
assassinato de Marielle.”
A partir daquele dia, Siciliano e Orlando da Curicica passaram a ser
tratados como os principais suspeitos pelos assassinatos. O vereador
deu dois longos depoimentos ao delegado Giniton Lages, sempre
rebatendo o relato da testemunha. Siciliano não demorou a enxergar
naquele enredo as digitais da família Brazão.
O s irmãos Domingos e Chiquinho Brazão são velhos
conhecidos da política carioca. Domingos, 54 anos, é o segundo mais
novo dos seis filhos de um casal de portugueses radicados em
Jacarepaguá. Ele foi o primeiro da família Brazão a se aventurar nas
urnas, em 1996, quando conseguiu uma cadeira de vereador. Dois
anos mais tarde, elegeu-se deputado estadual pelo PMDB, função que
exerceu por dezessete anos. Nesse período, Domingos acumulou um
patrimônio declarado de 14,5 milhões de reais, em valores corrigidos.
Dono de uma rede de postos de combustíveis em sociedade com os
irmãos, o deputado foi investigado na Polícia Federal por um suposto
envolvimento em um esquema de adulteração de combustíveis e
sonegação fiscal, mas, por falta de provas, não chegou a ser
denunciado à Justiça. Em 2015, um ano após ser reeleito pela quarta
vez consecutiva, tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado, onde ficou até março de 2017, quando ele e mais quatro
conselheiros foram presos pela Lava Jato fluminense na Operação
Quinto do Ouro, acusados de corrupção. Todos acabaram soltos nove
dias depois, mas permanecem afastados do TCE.
O irmão mais velho, João Francisco Inácio Brazão, o Chiquinho, 57
anos, também foi eleito vereador em sua primeira disputa eleitoral, em
2012, embalado pela carreira política de Domingos. No pleito
seguinte, foi reeleito.
Os currais eleitorais dos irmãos Brazão e de Siciliano espalham-se
pela mesma região do Rio, os bairros da Zona Oeste situados entre o
Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca:
Tanque, Taquara, Pechincha, Curicica, Freguesia, Anil, Gardênia
Azul, Itanhangá, Rio das Pedras, Vargem Grande, Vargem Pequena,
Praça Seca e Recreio dos Bandeirantes. Juntos, esses locais, todos
com maior ou menor presença de milicianos, somam 527 mil eleitores,
segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Domingos Brazão costumava
fazer campanha em Rio das Pedras, como afirmou o vereador Nadinho
na CPI das Milícias, em 2008.
Em meados de abril do ano passado, antes da publicação da
reportagem de Antônio Werneck, Chiquinho e Domingos convidaram
Marcello Siciliano para um almoço no Terraço Restaurante, no Centro
do Rio. Conforme relato de Siciliano sobre a conversa, Domingos lhe
disse que Chiquinho iria se candidatar a deputado federal nas eleições
de outubro. Como sabia que o rival também planejava sua
candidatura, foi direto ao ponto: “Marcello, vou te pedir um favor.
Não me atrapalha, porque precisamos ganhar essa eleição.” Dois
interlocutores de Siciliano confirmaram o diálogo à piauí. Chiquinho
não quis se pronunciar sobre o episódio. À polícia, Domingos negou
ter desavenças políticas com o rival da família.
Acuado pelo caso Marielle, depois das acusações veiculadas em maio,
Marcello Siciliano desistiu de disputar as eleições de 2018. Chiquinho
se elegeu deputado federal pelo Avante – em todas as quinze seções
eleitorais da favela de Rio das Pedras ele foi o campeão de votos.
Havia mais razões para suspeitar que os irmãos Brazão tinham alguma
influência sobre o depoimento do sargento Ferreira ao jornalista
Werneck. O trio de delegados, antes de encaminhar Ferreira à
Delegacia de Homicídios, convidou o repórter para ouvir o relato nas
instalações da Superintendência da Polícia Federal, e o próprio
superintendente da PF no Rio, Ricardo Saadi, ignorava a presença da
testemunha ali. Além disso, HK, um dos três delegados envolvidos na
história, era um bom amigo de Domingos Brazão e, na época da
delação, investigava Siciliano por irregularidades fiscais na boate do
vereador na Barra. “Foi um depoimento feito para vazar para a
imprensa. Teve outro objetivo que não a investigação”, me disse
Marcelo Freixo.
Policiais federais que apuram o caso suspeitam que o delator tenha
sido levado até o trio de delegados por Gilberto Ribeiro da Costa, um
policial federal aposentado muito próximo de HK e Lorenzo Pompílio
da Hora e que também foi assessor de Domingos Brazão no Tribunal
de Contas do Estado. Costa nega ter participação no episódio: “Isso é
um devaneio, uma história fantasiosa. Já prestei depoimento na DH,
tudo foi esclarecido.” A advogada de Ferreira, Camila Moreira Lima
Nogueira, afirmou ter sido ela a responsável por levar seu cliente até a
PF: “Eu não tinha acesso a ninguém da Polícia Civil […] Na PF,
também não tinha. Eu fui até lá porque tinha um cliente que conhecia
os delegados”, me disse por telefone.
M enos de uma semana depois da publicação da reportagem
de Werneck com acusações do sargento Ferreira contra Siciliano e
Orlando de Curicica, o delegado Giniton Lages foi ouvir esse último
em Bangu 9. Curicica admitiu ter se encontrado com Siciliano em um
restaurante da Zona Oeste, mas disse que se limitou a cumprimentar o
vereador. Também negou ter participado das mortes de Marielle. No
dia seguinte, o advogado de Curicica convocou a imprensa para
apresentar uma carta escrita pelo cliente. No documento, o miliciano
identifica nominalmente o PM que o delatou – até então, os jornais
vinham omitindo a identidade dele – e o ataca. “Não tenho qualquer
envolvimento nesse crime bárbaro”, escreveu. “O policial Rodrigo
Ferreira não tem qualquer credibilidade, haja vista o mesmo chefiar as
milícias do Morro do Banco [em Itanhangá, Zona Oeste] em conjunto
com o tráfico de drogas da região.” A notícia sobre a carta, divulgada
inicialmente pelo jornal O Dia, teve pouco destaque na edição
impressa d’O Globo.
Dizendo-se ameaçado de morte no presídio, Curicica conseguiu ser
transferido em 9 de maio para a penitenciária de Bangu 1, de
segurança máxima. Quarenta dias depois foi transferido novamente –
dessa vez para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do
Norte, também de segurança máxima. Em julho, a Polícia Civil
prendeu dois policiais militares suspeitos de integrar a milícia de
Orlando de Curicica; um deles teria participação nos assassinatos de
Marielle e de Anderson. O cerco ao miliciano se fechava cada vez
mais. Acuado, ele decidiu contra-atacar.
No final de agosto de 2018, Curicica pediu ao juiz Walter Nunes da
Silva Júnior, corregedor do presídio federal em Mossoró, que o
pusesse em contato com um procurador do Ministério Público Federal.
Queria falar o que sabia. Por orientação do juiz, o advogado de
Curicica formalizou o pedido, e Silva Júnior encaminhou o documento
à procuradora Caroline Maciel, coordenadora do grupo de direitos do
cidadão da instituição no Rio Grande do Norte. O depoimento de
Curicica a Maciel durou mais de uma hora. O conteúdo era explosivo,
mas não veio a público naquele momento. Ao retornar de Mossoró, a
procuradora transcreveu as palavras do miliciano em um documento e
o encaminhou, em sigilo, para a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge.
Alguns dias antes, em 19 de agosto, O Globo publicou uma
reportagem não assinada que tratava de uma possível ligação entre a
morte de Marielle e um grupo de matadores de aluguel formado por
milicianos, chamado Escritório do Crime. Pela primeira vez, o grupo
era vinculado ao caso. Era uma reviravolta nas investigações.
A reportagem dizia que o Escritório do Crime é suspeito de praticar
assassinatos por valores que variam entre 200 mil reais e 1 milhão de
reais, conforme o perfil da vítima e a complexidade da ação. A fama
da gangue viria do fato de não deixar rastros de seus crimes. Uma de
suas bases territoriais é justamente a região de Rio das Pedras, por
onde passou o Cobalt prata com os matadores da vereadora do PSOL.
O grupo de sicários se formou no início deste século com a função de
proteger os bicheiros na violenta disputa por territórios. O Ministério
Público suspeita que o Escritório do Crime esteja envolvido em pelo
menos dezenove homicídios não esclarecidos nos últimos quinze anos
no Rio de Janeiro.
A reportagem d’O Globo baseava-se no depoimento à Polícia Civil,
dias antes, de um “integrante do bando” que andou pela região onde
Marielle e o motorista Anderson foram mortos. Ele havia circulado
pelo local minutos antes do crime, como descobriu um rastreamento
feito pela polícia em seu celular. A identidade do suposto integrante
do Escritório do Crime foi revelada apenas em janeiro deste ano.
Tratava-se do major Ronald Paulo Alves Pereira. O policial militar, de
43 anos, foi acusado de participar, em 2003, da chamada chacina da
Via Show, na qual quatro jovens, após terem sido sequestrados na
saída de uma boate em São João de Meriti, na Baixada Fluminense,
foram cruelmente assassinados. Apesar de estar respondendo na
Justiça pelo crime – o júri está previsto para abril deste ano –, Pereira
foi promovido de capitão a major alguns anos depois. Quando depôs a
respeito do Escritório do Crime, em agosto último, estava prestes a se
tornar coronel, posto mais alto da Polícia Militar.
O major é apontado como um dos líderes do Escritório do Crime,
junto com o ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, 42
anos. Quando atuava no Batalhão de Operações Policiais Especiais do
Rio, o Bope, Nóbrega tornou-se conhecido por sua habilidade com
todo tipo de armas – era atirador de rara precisão – e pela crueldade
com que comandava os treinamentos entre o fim dos anos 90 e o
início dos anos 2000. “Ele batia nos alunos com barra de ferro.
Chegou a quebrar o braço de um e a estourar o rim de outro”, me disse
um policial que atuou no batalhão na época.
Tanto Adriano Nóbrega quanto Ronald Pereira foram homenageados
na Assembleia Legislativa do Rio com menções honrosas propostas
pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Para justificar a
homenagem a Nóbrega, que ocorreu em 2003, Flávio argumentou que
o então capitão prestava “serviços à sociedade, desempenhando com
absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades”.
Nóbrega havia sido apresentado a Flávio por um antigo colega do
Bope, Fabrício Queiroz – o ex-assessor do filho de Jair Bolsonaro que
está no centro do escândalo envolvendo repasses suspeitos de dinheiro
para Flávio na Alerj.
Em 2005, após prender doze traficantes num morro no Rio, Nóbrega
ganhou outra homenagem, também promovida por Flávio: a Medalha
Tiradentes, a mais alta honraria da Alerj.
Quando ainda estava no Bope, Nóbrega envolveu-se com o jogo do
bicho, atuando como segurança, e começou a ser acionado para
praticar assassinatos a mando dos chefões da jogatina. Foi preso em
2011 em uma operação policial contra os contraventores e, três anos
mais tarde, acabou expulso da PM. Isso não impediu Flávio Bolsonaro
de empregar a mulher e a mãe do ex-capitão em seu gabinete na
Assembleia Legislativa – a primeira desde 2007; a segunda, a partir de
2016. As duas só foram exoneradas em novembro do ano passado,
depois que o nome de Nóbrega surgiu nas investigações do caso
Marielle. Em janeiro deste ano, depois que a ligação de Flávio com o
ex-PM foi revelada pela imprensa, o atual senador divulgou uma nota
em que dizia sempre defender agentes de segurança pública, mas
atribuiu a nomeação das duas mulheres a uma indicação de Queiroz.
Flávio foi o principal cabo eleitoral da campanha de Wilson Witzel,
do PSC, ao governo fluminense. O apoio do filho de Bolsonaro
catapultou o então desconhecido ex-juiz federal para a vitória no
segundo turno, em 28 de outubro. Durante a campanha, Witzel
apareceu no alto de um caminhão no Centro de Petrópolis, na serra
fluminense, ao lado de dois candidatos a deputado pelo PSL, partido
dos Bolsonaro. Ambos exibiam orgulhosos uma placa de rua com o
nome de Marielle rasgada em dois pedaços. Segurando a placa
mutilada, o então candidato a deputado estadual Rodrigo Amorim
bradou: “Esses vagabundos, eles foram na Cinelândia [Centro do Rio]
e, à revelia de todo mundo, eles pegaram uma placa da praça Marechal
Floriano e botaram uma placa escrito rua Marielle Franco.” E
continuou: “Eu e Daniel [Silveira, candidato a deputado federal] essa
semana fomos lá e quebramos a placa. A gente vai varrer esses
vagabundos. Acabou PSOL, acabou PCdoB, acabou essa porra aqui.
Agora é Bolsonaro, porra.” Tanto ele quanto Silveira foram eleitos.
Enquanto a plateia vibrava ao fundo da imagem, Witzel, que filmava
tudo com o celular, virou o aparelho na própria direção e disse: “É
isso aí, pessoal, olha a resposta.” Dias depois, ele pediria desculpas à
família de Marielle.
O Escritório do Crime reapareceria na imprensa em 1º de
novembro, quando os jornalistas Vera Araújo e Chico Otávio
publicaram no site do jornal O Globo uma entrevista com Orlando da
Curicica feita por escrito. O carioca Otávio construiu sua reputação
com reportagens investigativas sobre políticos do Rio. Em parceria
com Araújo, o repórter havia mergulhado na cobertura do caso
Marielle – “sem dúvida o maior que já cobri nessa área”, ele me disse.
Na entrevista de Curicica, realizada na última semana de outubro, o
miliciano resumiu o depoimento que tinha dado no final de agosto à
procuradora Caroline Maciel, em Mossoró. Disse que a Polícia Civil,
incluindo a cúpula da corporação, não investigava o Escritório do
Crime porque recebia propinas do jogo do bicho, ao qual os matadores
eram ligados. “O que tenho a dizer, ninguém gostaria de ouvir: existe
no Rio hoje um batalhão de assassinos agindo por dinheiro, a maioria
oriunda da contravenção. A DH [Delegacia de Homicídios] e o chefe
de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, sabem quem são, mas recebem
dinheiro de contraventores para não tocar ou direcionar as
investigações, criando assim uma rede de proteção para que a
contravenção mate quem quiser. Diga, nos últimos anos, qual caso de
homicídio teve como alvo de investigação algum contraventor?”,
questionou o miliciano.
Curicica também acusava o delegado Giniton Lages, que deu início às
investigações, de pressioná-lo a assumir a autoria da morte de
Marielle. “No dia 10 de maio, o delegado […] foi me ouvir, mas já
chegou dizendo que tinha ido lá para ouvir eu falar que o Siciliano
tinha me pedido para matar a vereadora. Eu disse que isso não era
verdade. Ele disse: ‘Fala que o vereador [Siciliano] te procurou e você
não quis, e outra pessoa fez.’ Como me recusei, ele disse que ia
futucar a minha vida e colocar inquéritos na minha conta, que me
mandaria para Mossoró e, de fato, foi o que fez. Mas o tempo todo
percebi que eles [os investigadores] estavam perdidos, sem caminho
nenhum.”
Procurado pela piauí, Barbosa não quis se pronunciar. Na época, por
meio de nota, refutou as acusações feitas no jornal. Lages negou ter
ameaçado o miliciano. “Palavras o vento leva”, me disse o delegado.
Os jornalistas Vera Araújo e Chico Otávio, que pretendiam publicar a
entrevista de Curicica no jornal impresso que circularia em 2 de
novembro, tiveram de antecipá-la no site d’O Globo ao saberem que o
então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, convocara uma
entrevista para o fim da tarde do dia 1º. Em decorrência do
depoimento do miliciano ao Ministério Público Federal no Rio Grande
do Norte, o ministro anunciou na coletiva a abertura de inquérito na
Polícia Federal para investigar uma possível obstrução de Justiça por
parte da Polícia Civil fluminense no caso Marielle. “A investigação
[do homicídio] de Marielle continua em nível estadual. Continua com
polícia e Ministério Público estadual. O que se está fazendo é criar um
outro eixo, que vai investigar aqueles que – sejam agentes públicos,
sejam aqueles ligados ao crime organizado ou a interesses políticos –
estão procurando fazer de tudo para impedir que se elucide esse crime.
É uma investigação da investigação”, afirmou Jungmann aos
jornalistas.
Dias antes, o ministro se reunira em Brasília com Raquel Dodge e
com a coordenadora do MPF na área criminal, Raquel Branquinho,
para discutir quais medidas seriam adotadas depois do depoimento de
Orlando de Curicica. O trio teve a ideia de aproveitar as acusações do
miliciano para pedir à PF que entrasse no caso por meio de um
inquérito que apurasse as ações da Polícia Civil no caso Marielle.
Uma equipe da Polícia Federal em Brasília, formada por um delegado
e por seis agentes, mudou-se para o Rio e passou a trabalhar com a
máxima discrição, em endereço sigiloso, longe da Superintendência da
PF.
N o início da noite de 14 de novembro, quarta-feira, o delegado
Giniton Lages assistia ao telejornal local da Globo no Rio quando
tomou um susto. “O RJ2 teve acesso com exclusividade ao inquérito
que apura as execuções da ex-vereadora Marielle Franco e de seu
motorista, Anderson Gomes. Oito meses depois, a polícia acumula
milhares de páginas, mas ainda tem poucas conclusões”, disse o
apresentador do telejornal. A reportagem afirmava que, apesar de o
Escritório do Crime ser citado no inquérito, até aquele momento a
principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios ainda
apontava para o vereador Marcello Siciliano e o miliciano Orlando de
Curicica. Parte dos papéis, em páginas digitalizadas, havia vazado
para o jornalista Leslie Leitão, produtor da TV Globo no Rio, que
acompanha o caso Marielle desde o início – depois de atuar na
imprensa como repórter de esportes e de polícia, ele migrou em 2017
para a emissora carioca.
Lages supôs que a Globo preparava uma reportagem especial sobre o
caso Marielle para o Fantástico do domingo seguinte, dia 18, o que,
segundo Leitão, não estava nos planos da emissora. O delegado
deixou o feriado de 15 de novembro passar e, na manhã do dia
seguinte, bateu à porta do juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara
Criminal do Rio, onde tramita o inquérito do caso. Pediu ao juiz que
concedesse liminar impedindo a emissora de citar detalhes da
investigação. No início da tarde, Kalil acatou o pedido: a Globo foi
proibida de falar do inquérito em reportagens, sob pena de pagar uma
multa de 1 milhão de reais a cada citação do documento. “O
vazamento do conteúdo dos autos é deveras prejudicial, pois expõe
dados pessoais das testemunhas, assim como prejudica o bom
andamento das investigações, obstaculizando e retardando a
elucidação dos crimes hediondos em análise”, justificou o magistrado.
A emissora foi notificada da decisão ainda naquele dia. Coube aos
apresentadores Alexandre Garcia e Giuliana Morrone ler um editorial
no Jornal Nacional daquela noite: “A TV Globo quer assegurar o
direito constitucional do público de se informar sobre o que podem ser
as falhas do inquérito que em oito meses não conseguiu avançar na
elucidação dos bárbaros assassinatos da vereadora Marielle Franco e
do motorista Anderson. E deseja fazer isso seguindo seus princípios
editoriais, o que significa informar sem prejudicar testemunhas ou
investigações.” A Globo recorreu, mas o Tribunal de Justiça manteve
a decisão de Kalil. A emissora acatou a medida e não voltou a exibir
reportagens sobre o inquérito.
O delegado Lages critica o comportamento da mídia no caso Marielle.
“O jornalista deve ter um freio ético. A imprensa atrapalha demais. O
tempo do inquérito não é o meu, nem o do Freixo, nem o da Globo. É
o tempo dele.”
O Ministério Público Estadual do Rio passou por uma dança de
cadeiras importante no decorrer das investigações. Desde o início, o
caso Marielle esteve sob os cuidados de Homero das Neves Freitas
Filho, titular da 23ª Promotoria de Investigação Penal, responsável por
acompanhar os inquéritos da Delegacia de Homicídios na capital. Em
junho de 2018, em entrevista ao jornal O Globo, o promotor esbanjava
otimismo: “Dentro dos recursos disponíveis, considero que os avanços
na investigação são grandes, com reais possibilidades de identificação
e prisão dos executores e mandantes.”
Mas as semanas passavam, e o inquérito se arrastava, sem rumo.
Pressionado, em 21 de agosto o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Gussem, decidiu promover Freitas Filho à Procuradoria – ele passaria
a atuar em ações que tramitavam em segunda instância, no TJ do Rio,
e deixaria o caso Marielle. A mudança coincidiu com o depoimento
em que Curicica acusava a Delegacia de Homicídios de negligência na
investigação. Freitas Filho se aposentou em 1º de fevereiro deste ano.
Procurado pela piauí, não quis se manifestar.
Para o lugar dele, o procurador-geral nomeou a promotora Letícia
Emile Alqueres Petriz, 38 anos, que há uma década atua no Ministério
Público. Petriz decidiu então pedir auxílio ao Gaeco (Grupo de
Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), um setor
especializado do Ministério Público. Foi prontamente atendida. A
direção do Gaeco incumbiu a promotora Simone Sibilio do
Nascimento de auxiliar Petriz nas investigações do caso Marielle.
Antes de ingressar no Ministério Público, em 2003, Nascimento, 46
anos, foi policial militar – chegou ao posto de capitã – e delegada na
Polícia Civil. Herdou dos tempos de PM o rigor e a disciplina
profissional. Formou-se em direito pela PUC-Rio em 1999 com o
estudo “Controle externo do mp na atividade policial”. O título do
trabalho já prenunciava os embates que ela teria com a DH no caso
Marielle.
Diferentemente do promotor Homero Freitas Filho, Petriz e
Nascimento sempre suspeitaram da veracidade das declarações da
testemunha que acusou Siciliano e Curicica pelo crime. Na
investigação que passaram a fazer com a ajuda dos policiais federais
vindos de Brasília, as duas apostaram suas fichas no envolvimento do
Escritório do Crime na morte de Marielle. Com autorização judicial, o
grupo já obteve trinta quebras de sigilo bancário e oitenta quebras de
sigilo telefônico de alvos ligados ao grupo miliciano.
Em algumas conversas gravadas, o ex-capitão Nóbrega é chamado de
“patrãozão” pela milícia de Rio das Pedras. Em um dos diálogos, um
miliciano afirma ter recebido quatro caixas de uísque de um deputado
– o parlamentar não é identificado pelo Gaeco. Em 21 de janeiro, as
promotoras recorreram à Draco (Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas Organizadas), da Polícia Civil – e não à Delegacia de
Homicídios – para cumprir os mandados de prisão, na manhã do dia
seguinte, de treze membros do Escritório do Crime. Entre eles
estavam o ex-capitão Adriano Nóbrega e o major Ronald Pereira. A
operação foi batizada de “Os Intocáveis” – era uma maneira de realçar
a impunidade que havia anos pairava sobre o grupo. A fim de evitar
vazamentos, os celulares de todos os policiais envolvidos na operação
foram confiscados até o dia seguinte. O cuidado não foi suficiente:
oito dos trezes alvos conseguiram escapar do cerco policial, e seis
continuavam foragidos até o fim do mês do passado. Entre eles,
Nóbrega.
A promotora Petriz fez questão de ir à casa do major Pereira, em
Curicica, para acompanhar sua prisão. Ao vê-lo algemado, ela foi
direto ao assunto: “O que você tem a dizer sobre o assassinato de
Marielle?” O PM abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Nem Petriz
nem Nascimento quiseram falar com a piauí. A defesa do major nega
tanto o envolvimento dele com o Escritório do Crime quanto a
participação na morte de Marielle.
Às 6h15 do dia 21 de fevereiro, exatamente um mês após a execução
da operação “Os Intocáveis”, Domingos Brazão levou um susto ao se
deparar com quinze agentes da PF dentro de sua casa. Com uniformes
camuflados, capacetes e metralhadoras, eles arrombaram a porta da
residência de Brazão, em um condomínio fechado na Barra da Tijuca.
Os policiais cumpriam um dos oito mandados de busca e apreensão
para “apurar possíveis ações que estariam sendo praticadas com o
intuito de obstacularizar as investigações dos homicídios de Marielle e
Anderson”, conforme nota divulgada pela PF. Os outros alvos eram o
delegado HK, o agente aposentado Gilberto Costa, o sargento Rodrigo
Ferreira e sua advogada, Camila Nogueira.
As promotoras e a Polícia Federal já estão certas da participação do
grupo de assassinos no crime contra a vereadora. Quem mandou matar
e por qual motivo são questões ainda sem respostas. “O crime se
espalhou pelo poder constituído do Rio. Tem bancada. É uma
metástase sem controle. O estado não sai mais dessa situação por suas
próprias mãos”, me disse uma autoridade que participa das
investigações do caso Marielle.
You might also like
- Resenha Sobre A Doença Como Metáfora - Susan Sontag PDFDocument3 pagesResenha Sobre A Doença Como Metáfora - Susan Sontag PDFjoaodelarge100% (1)
- Apostila - Sistema de Segurança Pública No BrasilDocument25 pagesApostila - Sistema de Segurança Pública No BrasilBenôni Cavalcanti86% (7)
- Boletim-de-Ocorrência MGDocument3 pagesBoletim-de-Ocorrência MGGabryel Vitor0% (1)
- Termo Circunstancia de OcorrenciaDocument52 pagesTermo Circunstancia de OcorrenciaLucas De LemosNo ratings yet
- Ação Martinho IDocument27 pagesAção Martinho IjoaodelargeNo ratings yet
- Adam Smith e o Egoísmo ContemporâneoDocument28 pagesAdam Smith e o Egoísmo ContemporâneojoaodelargeNo ratings yet
- Apostila I - Servidores PúblicosDocument42 pagesApostila I - Servidores PúblicosjoaodelargeNo ratings yet
- Direito Administrativo - ExercíciosDocument40 pagesDireito Administrativo - Exercíciosglc__juabaNo ratings yet
- Ação Martinho IDocument27 pagesAção Martinho IjoaodelargeNo ratings yet
- A Redescoberta Da Nação - Luiz Carlos Bresser PereiraDocument3 pagesA Redescoberta Da Nação - Luiz Carlos Bresser PereirajoaodelargeNo ratings yet
- PiojopijDocument2 pagesPiojopijjoaodelargeNo ratings yet
- Anotações Sobre Conjuntura Latino-AmericanaDocument6 pagesAnotações Sobre Conjuntura Latino-AmericanajoaodelargeNo ratings yet
- Ação Martinho IDocument27 pagesAção Martinho IjoaodelargeNo ratings yet
- Texto Da Qualificação 26-02Document85 pagesTexto Da Qualificação 26-02joaodelargeNo ratings yet
- NLKNDocument39 pagesNLKNjoaodelargeNo ratings yet
- Edital Rio Largo para 31-08Document49 pagesEdital Rio Largo para 31-08joaodelargeNo ratings yet
- Proposta Pedagógico-Curricular - Suzana 2Document88 pagesProposta Pedagógico-Curricular - Suzana 2joaodelargeNo ratings yet
- Questões Sobre o Concurso Do CondeDocument7 pagesQuestões Sobre o Concurso Do CondejoaodelargeNo ratings yet
- 18.10.bolsonaro Taticas FascistasDocument3 pages18.10.bolsonaro Taticas FascistasJras TreprNo ratings yet
- A Financeirização Do Capital - John Bellamy Forster PDFDocument33 pagesA Financeirização Do Capital - John Bellamy Forster PDFjoaodelargeNo ratings yet
- Ação Martinho IIDocument23 pagesAção Martinho IIjoaodelargeNo ratings yet
- Ação Martinho IIIDocument22 pagesAção Martinho IIIjoaodelargeNo ratings yet
- TCC Revisado Thayana FINDocument63 pagesTCC Revisado Thayana FINjoaodelargeNo ratings yet
- Ação Martinho IDocument27 pagesAção Martinho IjoaodelargeNo ratings yet
- Ação Martinho IDocument15 pagesAção Martinho IjoaodelargeNo ratings yet
- O Cobrador de Rubem Fonseca - A Utopia de Um Marginal em Busca de Uma Revolução SocialDocument7 pagesO Cobrador de Rubem Fonseca - A Utopia de Um Marginal em Busca de Uma Revolução SocialMandrake FernandezNo ratings yet
- Gramsci e o Intelectual OrgânicoDocument12 pagesGramsci e o Intelectual OrgânicojoaodelargeNo ratings yet
- Edital Rio Largo para 31-08Document49 pagesEdital Rio Largo para 31-08joaodelargeNo ratings yet
- Artigo Ivan Política, Sociologia e Filosofia-2019Document2 pagesArtigo Ivan Política, Sociologia e Filosofia-2019joaodelargeNo ratings yet
- Proposta Pedagógico-Curricular - Suzana 2Document88 pagesProposta Pedagógico-Curricular - Suzana 2joaodelargeNo ratings yet
- Anotações Sobre Conjuntura Latino-AmericanaDocument6 pagesAnotações Sobre Conjuntura Latino-AmericanajoaodelargeNo ratings yet
- A METÁSTASE - Reportagem Piauí-16!03!2019Document23 pagesA METÁSTASE - Reportagem Piauí-16!03!2019joaodelargeNo ratings yet
- Resenha Joes BedDocument1 pageResenha Joes BedjoaodelargeNo ratings yet
- Unidade I - Introdução Ao TCODocument36 pagesUnidade I - Introdução Ao TCOanavitorianascimentomartins74No ratings yet
- Procuradoria-Geral de Justiça: ExpedienteDocument26 pagesProcuradoria-Geral de Justiça: ExpedienteRodrigo SouzaNo ratings yet
- 01 - Slides - Sistemas de Segurança e Gestao Integrada e Comunitária (Novo)Document156 pages01 - Slides - Sistemas de Segurança e Gestao Integrada e Comunitária (Novo)Janildo Da Silva Arantes ArantesNo ratings yet
- Manual Proc Env PoliciaisDocument22 pagesManual Proc Env PoliciaisEdelmar FernandesNo ratings yet
- Gateway Certifica PDFDocument1 pageGateway Certifica PDFValdemar S LucioNo ratings yet
- Simulado TNC12Document57 pagesSimulado TNC12Felipe MendesNo ratings yet
- Minuta EPAP - Castelinho - FINAL DesidentificaçãoDocument94 pagesMinuta EPAP - Castelinho - FINAL DesidentificaçãoreisanyelleNo ratings yet
- Modelo APF Simulado 2Document6 pagesModelo APF Simulado 2GabriellaNo ratings yet
- O Inquérito Policial No Brasil: Resultados Gerais de Uma PesquisaDocument16 pagesO Inquérito Policial No Brasil: Resultados Gerais de Uma PesquisaLaissaNo ratings yet
- II Madrugadão - PPCEDocument19 pagesII Madrugadão - PPCElumalindyNo ratings yet
- Art 144Document1 pageArt 144erick roneiNo ratings yet
- Memorando 30.090.2-22 - EMPM - Difusão e Treinamento Sobre A Atualização Do POP Nº 1.3.0.002Document28 pagesMemorando 30.090.2-22 - EMPM - Difusão e Treinamento Sobre A Atualização Do POP Nº 1.3.0.002Lucimar AlvesNo ratings yet
- Informativo Juridico Sinpol - Re 1162672 - SP - Voto Do RelatorDocument4 pagesInformativo Juridico Sinpol - Re 1162672 - SP - Voto Do RelatorSinpol-DFNo ratings yet
- Processo #1500861-28.2019.8.26.0621 (TJSP) : Arquivo Atualizado em 22/04/2022 Às 01:36Document204 pagesProcesso #1500861-28.2019.8.26.0621 (TJSP) : Arquivo Atualizado em 22/04/2022 Às 01:36brennoNo ratings yet
- Lei Ordinária #3204 2007Document13 pagesLei Ordinária #3204 2007emunizzNo ratings yet
- PL 4503-2023 Lopc VetosDocument4 pagesPL 4503-2023 Lopc Vetosdouglas.tarcianoNo ratings yet
- 935 Delegado Civil BA 2013 Modelo Prorrogacao Interceptacao TelefonicaDocument2 pages935 Delegado Civil BA 2013 Modelo Prorrogacao Interceptacao TelefonicaBruno Fischer67% (3)
- Mortes Praticadas Pela Polícia Militar Da Bahia: Uma Revisão de LiteraturaDocument23 pagesMortes Praticadas Pela Polícia Militar Da Bahia: Uma Revisão de LiteraturaFrederico SoaresNo ratings yet
- Doe 03 01 2011Document96 pagesDoe 03 01 2011inkrenkeiroNo ratings yet
- Lei Ordinária 7366 1980 Do Rio Grande Do Sul RSDocument32 pagesLei Ordinária 7366 1980 Do Rio Grande Do Sul RSBruno ZanoniNo ratings yet
- Resumo Redação OficialDocument22 pagesResumo Redação OficialArnon Araujo100% (2)
- Documento - 2 GBDocument4 pagesDocumento - 2 GBSarah CostaNo ratings yet
- Legislação Da PMALDocument104 pagesLegislação Da PMALRosemberg Fernandes100% (1)
- Virei Delegado de Polícia - e AgoraDocument118 pagesVirei Delegado de Polícia - e AgoraJesse MartinsNo ratings yet
- Sim 1 Insp ExercicioDocument24 pagesSim 1 Insp ExercicioPierre SetubalNo ratings yet
- Modelo Vários Objetos AvaliaçãoDocument3 pagesModelo Vários Objetos AvaliaçãoMarcelo FrezNo ratings yet
- Gratificação de Serviço Extra - Decreto - 1094-R - e - 1105-RDocument3 pagesGratificação de Serviço Extra - Decreto - 1094-R - e - 1105-RFeumeu1No ratings yet